
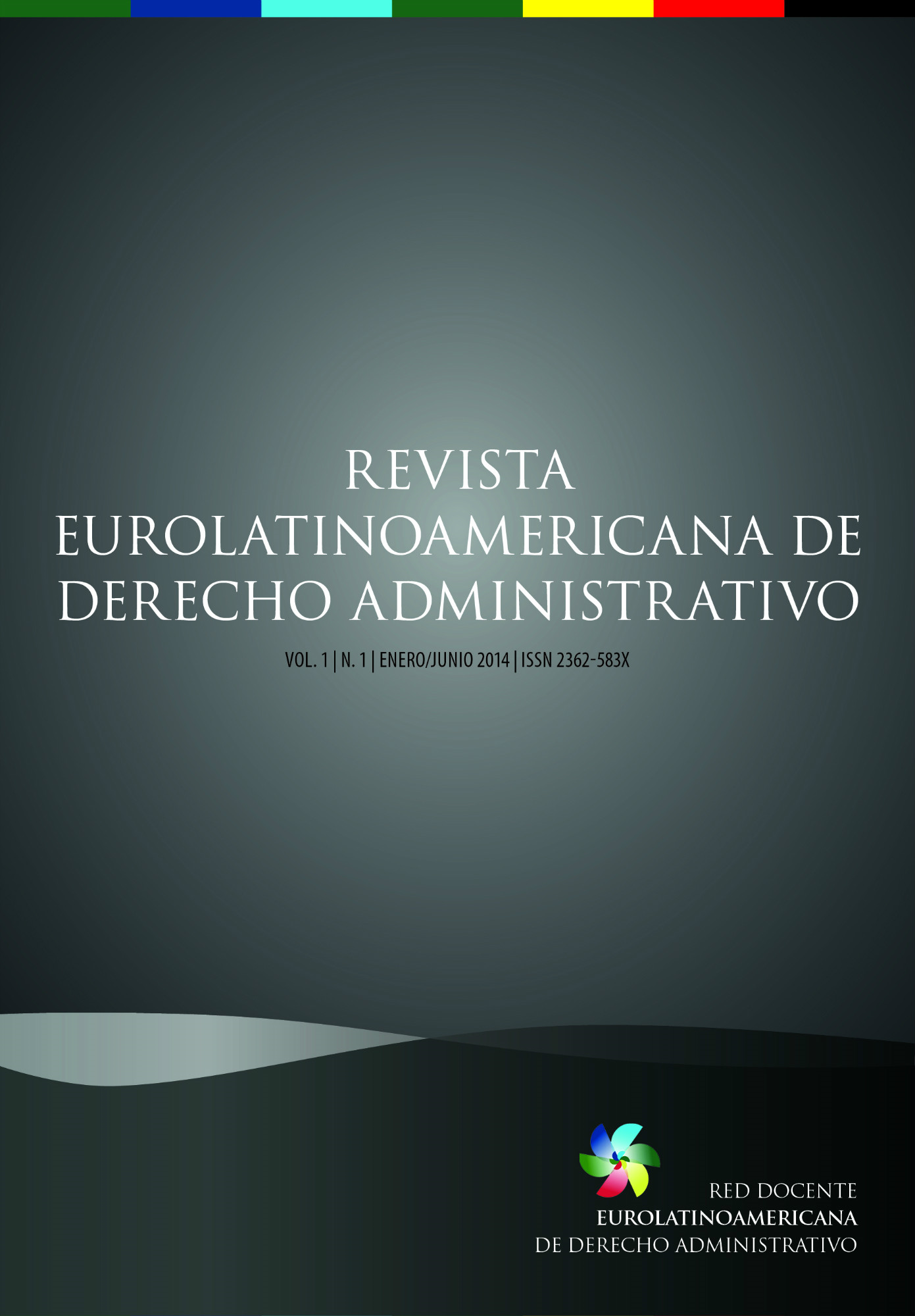
Controle social de políticas públicas
Social control of public policies
Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, vol.. 3, núm. 2, 2016
Universidad Nacional del Litoral

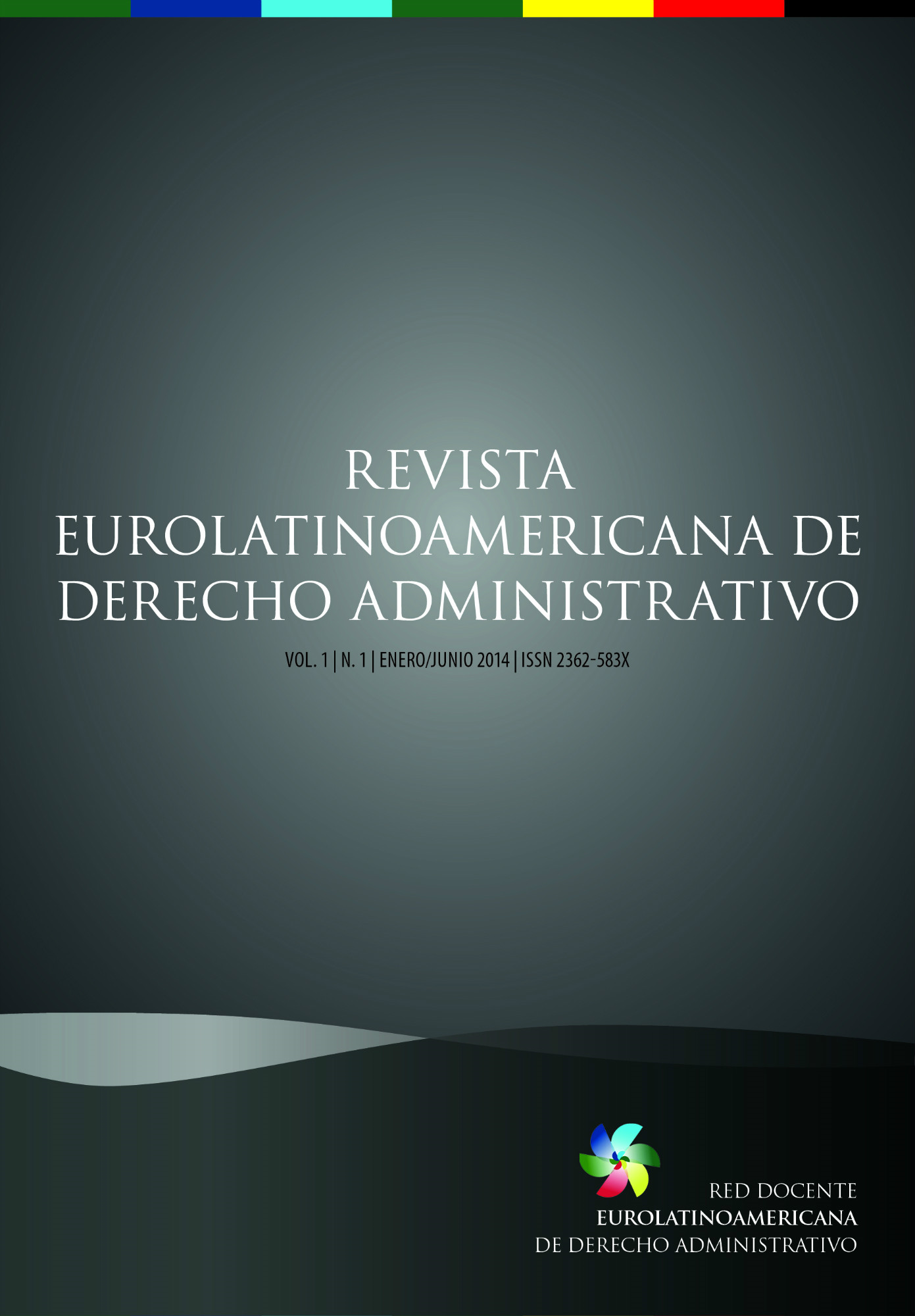
Controle social de políticas públicas
Recepção: 02 Fevereiro 2016
Aprovação: 21 Novembro 2016
Resumo: Com o passar dos anos, sobretudo com o advento das novas tecnologias da informação, que propiciaram novos mecanismos de acesso à informação e transparência, cada vez mais há de se pensar o controle de políticas públicas para além dos métodos convencionais, passando a voltar os olhos ao controle social, realizado propriamente pelos administrados. O presente artigo visa refletir, inclusive a partir de uma análise da experiência internacional do ombudsman (ouvidorias), como mecanismos de participação popular podem servir como bons instrumentos de controle social, contribuindo sobremaneira para a melhora das políticas públicas visando o bem comum.
Palavras-chave: políticas públicas, controle social, participação popular, fiscalização de políticas públicas, ouvidorias.
Abstract: Over the years, especially with the advent of new information technologies, which have provided new mechanisms of access to information and transparency, more and more people have to think about the control of public policies beyond conventional methods, turning their eyes to social control, which is realized by the administered themselves. The present article aims to reflect, including from an analysis of the international experience of the ombudsman, how mechanisms of popular participation can serve as good instruments of social control, contributing greatly to the improvement of public policies aiming the common good.
Keywords: public policies, social control, popular participation, public policies oversight, ombudsman.
Sumário:
1. Introdução. 2. A participação como controle social. 3. Ombudsman como instrumento de participação do cidadão no controle social da democracia moderna. 4. Referências.
1. Introdução
Conforme o processo de criação da ordem jurídica previsto constitucionalmente, e com base na ideia de liberdade política, Kelsen reconhece que o indivíduo só é politicamente livre, quando sujeito a uma de cuja criação participou. Isto implica no reconhecimento de que em uma sociedade todos os indivíduos têm igual valor e o mesmo direito de liberdade. Portanto, em um Estado Democrático de Direito é necessário que a opinião da maioria seja o resultado de ampla discussão com a minoria, pois a formação da opinião pública nada mais é do que a técnica para a tomada de decisão no interesse geral.
O ideal democrático é um processo suscetível de avanços e recuos, cuja realização pode acontecer em graus e em modos diferentes, conforme previsão constitucional o que, como diz Paulo Bonavides, pode se converter em uma utopia se não propiciar ao povo “ser senhor de seu destino e de suas faculdades decisórias”.
Não é novidade que o Estado tem, através do tempo, apresentado transformações, principalmente no campo político e econômico, o que afetou a relação das pessoas com a Administração Pública e, neste ambiente, se constata, a partir do desenvolvimento propiciado pelo acesso às tecnologias de informação, um novo paradigma crítico da sociedade sobre a ação governamental, bem como diversas perspectivas de análise, interação e controle social.
Quando se pretende pensar no controle social das políticas públicas, é necessário, antes de qualquer coisa, precisar qual o sentido que se quer enfocar, tanto de políticas públicas como de controle da administração pública, partir de um conceito operante.
As políticas públicas na qualidade de atuação da autoridade de modo a conduzir a Administração para a realização do bem comum, congrega o atendimento dos interesses individuais compartilhados e coincidentes em um grupo, como sendo o interesse da comunidade, o qual deve prevalecer sobre os individuais, sem, contudo aniquilá-los, pois o interesse público não pode ser aquele em que o indivíduo não identifique a sua porção concreta de interesse individual.
Sua concretização, sua efetividade está relacionada com a qualidade do processo administrativo que precede sua realização.
Dromi assinala que “governo e controle parece ser a fórmula futura do poder, para que aos que mandem não lhes falte poder e para aos que obedecem não lhes falte liberdade, resguardada por controles idôneos que assegurem qualidade e eficácia”[1].
O Estado contemporâneo apresenta um raio de ação cada vez maior, o que leva a necessidade de um redimensionamento dos meios e formas de sua atuação, de modo a respeitar as liberdades e os demais direitos fundamentais.
Neste universo a Administração Pública passa a constituir a expressão concreta do Estado e, como consequência de tais transformações, multiplicam-se os conflitos entre ela, autêntica gestora dos interesses coletivos, e os administrados, manifestando um dos problemas fundamentais que desafia o direito como realizador da segurança e harmonia social, na medida em que deve viabilizar o equilíbrio entre termos aparentemente opostos e inconciliáveis, como, por exemplo, o que se verifica entre autoridade e liberdade, entre interesse geral e individual.
Um dos elementos mais importantes para uma convivência harmônica é o controle da atividade estatal, mediante mecanismos idôneos, para que o Estado exerça suas funções dentro dos parâmetros do bem comum.
Nestes termos pensa-se em um controle social, diferente do convencional, com foco no acesso a novos mecanismos de investigação, que se revela não só no plano da fiscalização e da sanção, mas, também, no envolvimento e comprometimento de diversos segmentos da sociedade, para a construção de uma realidade apta a atender as necessidades da população, como núcleo do interesse público e como garantia de uma boa administração pública.
No dizer da Sandro Trescastro Bergue, “Constitui-se, de fato, em uma relação cuja efetividade requer, além da disponibilização de indicadores sobre políticas públicas e dos dados sobre gestão financeira e orçamentária, que essas informações tenham significado para o cidadão”, vale dizer, que detenham conhecimento necessário para habilitá-los a tomar posições, a exercer, conscientemente, sua cidadania[2].
O controle social, em sentido amplo, representa uma relação complexa, mas não difusa, e pode englobar diversos atores, como, por exemplo, indivíduos, famílias, organizações, instituições, associações, partidos políticos, etc..., e até, sob certo enfoque, o próprio Parlamento, interessados sobre diversas perspectivas de abordagem e análise da definição e gestão e das políticas públicas, o que pode, dentre outros meios, se dar em audiências públicas, consultas públicas e pelo exercício do direito de petição.
O tema, em face da sua importância, não tem sido muito estudado e adquire especial valor quando se trata, especialmente da necessidade da transparência dos atos do Poder Público, do dever de prestar contas, do direito fundamental de acesso a informação.
Foucault cita Bentham para demonstrar o princípio de que o poder deve ser visível e inverificável. Visível porque o agente terá sempre a certeza de que está sendo espionado, inverificável porque nunca saberá se o está sendo[3].
O controle social se resume em um conjunto de instrumentos voltados para conformação do comportamento do indivíduo ao sistema normativo vigente, vale dizer, o controle da sociedade sobre a Administração Pública e sobre seus agentes, inclusive sobre os organismos do Terceiro Setor, no que tange à formulação e implementação de políticas públicas.[4] Não se sobrepõe, muito pelo contrário, complementa os instrumentos de controle formal, institucionalizados e propicia ao indivíduo se sentir, ao mesmo tempo, protagonista e defensor do interesse público.
2. A participação como controle social
Aceitando a democracia como filosofia, ideal, crença, processo, o importante é que se refira à participação na normatização e gerência da coisa pública, propiciando, cada vez mais, o aprimoramento de técnicas para seu exercício.
Como filosofia, é possível entendê-la como modo de vida, no qual deve existir o respeito e a tolerância pelas opiniões divergentes. Como ideal é um nível a atingir, posto que se modifica e se ajusta conforme a época e o desenvolvimento social, científico, tecnológico, político e jurídico. Como crença porque existe a convicção de que a segurança depende dela. Como processo porque realiza a participação do povo na organização e exercício do poder político, correspondendo ao exercido pelo povo.
Porém, sua participação efetiva e operante não pode se exaurir na simples formação das instituições representativas, pois isto já não representa seu completo desenvolvimento.
“Em uma autêntica democracia o povo jamais deve permanecer indiferente a atuação dos titulares dos órgãos do Estado. Deve ser fiscalizador ou vigilante desta atuação. Sua participação no bom andamento do governo, não deve conter-se à mera eleição periódica dos titulares dos órgãos estatais primários e deixar que estes se comportem segundo seu arbítrio, realizando muitas das vezes uma conduta contrária à ordem jurídica e ao bem-estar geral, postergando o cumprimento de seu dever como funcionário público, para satisfazer seus interesses pessoais. Sem a fiscalização ou vigilância constante, a democracia seria uma simples máscara carente de conteúdo”[5].
Na busca de enfatizar o regime democrático como o que institucionaliza a participação do povo na organização e exercício do poder político, a história registra diversos matizes de sua realização, denominados, comumente, de democracia direta, representativa, mista ou semidireta.
Neste ponto, ao fazer referência às suas formas clássicas, não nos permite adentrar em seus meandros, mas apenas registrar que, após a sua realização histórica, a democracia direta passou a ser considerada como de impossível concretização, na medida em que necessita de um razoável conhecimento das relações jurídicas, econômicas, sociais e diplomáticas e além de não poder prescindir da maturidade das massas, a não verificação de tais fatores pode possibilitar o influxo político-jurídico demagógico sobre a população.
Já o exercício da democracia indireta ou participativa repousa em um conjunto de instituições que disciplinam a participação popular no processo político, e realizada periodicamente, pode seguir técnicas diferentes.
Mas não se pode falar em representação sem eleição, isto é, escolha entre alternativas, realizada em um ato formal de decisão, o qual gera, para o eleito, o mandato político representativo, montado sobre o mito da identidade entre a vontade do povo e a do representante, que este quando decide é como se aquele decidisse[6].
Acresce à dificuldade de representação da vontade popular, o fato dos eleitos nem sempre honrarem os mandatos recebidos, mostrando-se incompetente e frustrando as expectativas, o que tem propiciado a adoção de certos mecanismos de participação e controle direto, o que proporciona identificar a democracia com métodos de autogoverno.
Nos dias de hoje não se pode conceber o fenômeno democrático sem a concepção e estruturação de instrumentos que ofereçam, ao cidadão, meios para participar nos processos de decisão e no controle do exercício poder, embasado em considerações críticas sob a diversidade de opiniões.
Norberto Bobbio ressalta que o alargamento da democracia na sociedade contemporânea não ocorre apenas pela integração da representativa e da denominada direta, mas, sobretudo, por sua extensão, entendida como a instituição e exercício de procedimentos que permitam a participação nas deliberações, na passagem da democracia da esfera política para a democracia na esfera social, onde possui, como cidadão, de multiplicidade de status, por exemplo: de pai, de filho, de cônjuge, empresário, produtor consumidor, administrador, gestor de serviços públicos, usuário, etc.[7]
Falar em princípio democrático pode estar destituído de sentido se não se referir a um processo de democratização, que atinge diversos aspectos da vida cultural, social, econômica, política, religiosa, como, por exemplo: a participação na gestão da escola, na da empresa, etc.
A Constituição Federal de 1988 determina no parágrafo único de seu 1, que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, no qual “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”, instaura, entre nós, a democracia participativa, mais ampla do que a exercida pelo eleitor no momento do voto, e faz ressurgir formas de participação direta, pessoal do cidadão na formação e controle dos atos do poder público.
É o que se constata quando, no art. 14, III e no art. 61, § 2º da Constituição Federal, prevê-se que “A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação na Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles”. Cabe aqui chamar a atenção sobre a dificuldade de preenchimento dos requisitos exigidos, o que tem dificultado a apresentação de projetos de lei por via da iniciativa popular.
O referendo e plebiscito, como forma de consulta à população, vem previsto no art. 14, incisos I e II, cabendo o Congresso Nacional sua autorização nos termos do art. 49, XV, da Constituição Federal.
Outro instrumento de participação e controle social é a Ação Popular, prevista, como direito fundamental, no inciso LXXIII, do artigo 5º da Constituição Federal. Traduz-se em instrumento posto à disposição do cidadão para controlar os atos da Administração Pública, que, no dizer de José Afonso da Silva, propicia ao cidadão, na defesa de um direito próprio, participar da vida política do Estado, fiscalizando a gestão do patrimônio público, a fim de que se conforme com os princípios da legalidade e da moralidade. O interesse defendido não é só o do cidadão, mas é dele na condição de membro da coletividade. [8]
Nossa Lei fundamental não se conformou em prever apenas estes instrumentos de participação popular, podendo ser ressaltado, dentre outras, o que vem disciplinado:
- no art. 29, X, ou seja, a cooperação das associações parte de qualquer contribuinte, das contas do Município, que poderá questionar a legitimidade nos termos da lei;
- no art. 58, §2º, inciso, II, que às Comissões de Inquérito, do Congresso Nacional, compete “realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e no inciso IV, que as Comissões de Inquérito, do Congresso Nacional, poderão, em razão de matéria de sua competência, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
- no art. 37, §3º dispõe: “A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta”;
- no art. 74, §º: “Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas”;
- no art. 194, parágrafo único – “Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: (...) VII – caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial dos trabalhadores, empresários e aposentados”;
- no art. 216, §1º – “O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação”.
É preciso esclarecer que esta é apenas uma relação exemplificativa, que não tem a pretensão de arrolar todos os casos de efetiva participação popular na gestão e controle do Estado, previstos na Constituição Federal de 1988.
Nosso sistema constitucional tem consciência de que o conceito de cidadania não é estático e que supera a ideia de súdito, na medida em que tem sem suas mãos, os instrumentos de sobrevivência do Estado.
Jorge Luis Maiorano demonstra a insuficiência dos mecanismos tradicionais de controle, não só em virtude de a atividade administrativa envolver, nos dias de hoje, quase todas as esferas da vida civil, mas, também, em decorrência das falhas do próprio sistema e das dificuldades de acesso do administrado em sua utilização e isto, tanto no que tange ao controle judicial, parlamentar e administrativo.
No controle administrativo, demonstra que embora a revisão se estenda, em princípio, à legitimidade e oportunidade, conveniência ou mérito, na prática se resume a legitimidade, pois falta ao órgão controlador a independência necessária em relação ao objeto controlado e, para aquele que afirmar que o controle por via administrativa evita um pleito judicial, pondera que, muitas vezes, o formalismo do processo de decisão impede dar razão ao recorrente, embora se reconheça a procedência de suas colocações.
Quanto ao controle parlamentar, adverte que por de se desenvolver no plano partidário, aponta as falhas na condução política do país, mas, dificilmente, os agravos que sofrem, cotidianamente, os administrados com os abusos cometidos pela Administração.
Já o controle judicial é só relativamente eficaz, porque é tardio e, assim, carece de aptidão para restabelecer a justiça frente aos efeitos já produzidos pelo ato administrativo viciado. Isto, além de ser utilizado só por uma minoria, pois pelo fato da justiça não ser gratuita, só se ocupa de direitos e interesses patrimoniais individuais de alguma importância, pois, outros casos, os gastos do processo superariam aos benefícios econômicos litigados[9].
Todos os sistemas clássicos de controle da Administração carecem de agilidade e presteza e muito burocráticos passam a ser ineficazes.
Visando um canal de participação efetiva e ágil do povo no controle da Administração Pública, passa-se, sob a inspiração do modelo sueco, a prever o instituto do Ombudsman, Defensor do Povo ou Ouvidor, como acontece, por exemplo, na Espanha, Portugal, Argentina e Israel.
3. Ombudsman como instrumento de participação do cidadão no controle social da democracia moderna
A figura do Ombudsman constitucionalizou-se na Suécia, em 1809, com traços e características particulares, como um longa manus do Legislativo para controlar os excessos da Administração e da Justiça, tendo o escolhido a necessidade de exercer tal função por tempo determinado, com absoluta independência frente aos fiscalizados.
Como instituição a serviço do cidadão, possui como traço essencial, a ausência de um procedimento rigoroso e formalista para a apresentação de queixas ou denúncias, somada à gratuidade do procedimento, à dispensa de representação por advogado e à obrigatoriedade de todas autoridades auxiliarem e atenderem suas recomendações, sob pena de incorrerem em responsabilidade civil e penal.
Sua atuação alcança, também, os atos de má administração, que se manifestam por atrasos, desatenções, inações, em prejuízo do cidadão, o que, sem a instituição do Ombudsman podem ficar sem correção ou reparação, posto que, não caracterizando uma violação ao ordenamento jurídico, escapam aos tradicionais órgãos de controle.
Outra característica importante, é o fato da queixa poder ser apresentada por qualquer pessoa, natural ou jurídica, que invoque um interesse legítimo, o que significa dizer que é facultado o acesso ao Ombudsman aos próprios órgão e autoridades do Estado, excluídas, naturalmente, às de sua competência. Isto é, enquanto exista concessão, subvenção, capital público majoritário, ou o fim seja a prestação de um serviço público, a atuação do Ombudsman é indiscutível.
Modelado conforme o exemplo sueco, nasce como um delegado do Poder Legislativo, autônomo em relação a ele, porém a quem deve prestar contas de sua atuação, inclusive por meio de relatórios e de ampla divulgação de seus atos, em órgãos de comunicação em massa e pela internet.
Onde houver o exercício do Poder Público, este necessita ser legitimado e controlado, o que significa dizer que não existe área de atuação do Estado que não seja própria para a atuação do instituto, pelo menos no que diz respeito à natureza administrativa da atuação estatal, e isto, inclusive no que tange aos Tribunais. Pois, como diz Álvaro Gil Robles, que já foi Defensor del Pueblo da Espanha, “Respeitando a independência dos juízes e magistrados no exercício de sua função estritamente judicial, o Ombudsman não deve estar impedido de fiscalizar o bom funcionamento da administração judicial e seus servidores. O universo do instituto deve estar circunscrito aos assuntos procedimentais, podendo atuar quando, por exemplo, falta celeridade no procedimento do caso. É quando surge a possibilidade do Ombudsman auxiliar e descobrir se o Tribunal tomou conhecimento do atraso da decisão, ou dos motivos que levaram a este comportamento”[10].
É sua missão a realização de ações preventivas e acautelatórias, com o fim de orientar a forma de exercício do poder no Estado moderno.
Entre nós, o anteprojeto da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais da Constituição Federal brasileira de 1988 nos propôs a incorporação da figura. O primeiro substitutivo do Relator Geral da Assembleia Constituinte conservou a inovação, mas o segundo substitutivo a fez desaparecer, surgindo, em seu lugar, a proposta de ampliação da competência do Ministério Público para que lhe fizesse o papel.
Foi o que previu no art. 129, II da Constituição Federal de 1988, quando determinou que fosse competente para “zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia”.
A Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 ao disciplinar a atuação do Ministério Público, previu, em seu art. 11, que “A defesa dos direitos constitucionais do cidadão visa a garantia do seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos prestadores de serviço de relevância pública” e, no artigo 12, “O Procurador dos Direitos do Cidadão agirá de ofício ou mediante representação, notificando a autoridade questionada para que preste informação no prazo que assinar”.
Recebidas ou não as informações, “e instruído o caso, si o procurador dos Direitos do Cidadão concluir que os direitos constitucionais foram ou estão sendo desrespeitados, deverá notificar o responsável para que tome as providências necessárias a prevenir a repetição ou que determine a cessação do desrespeito verificado”[11]
“Não atendida a, no prazo devido, a notificação prevista no artigo anterior, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão representará ao poder ou autoridade competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucionais[12].
Entretanto, como bem observa Dayse de Asper Valdés, os cidadãos têm ampliado as vias de acesso para suas reclamações contra a administração pública e para a garantia de seus direitos[13].
É preciso ressaltar que, no Brasil, alguns dos modernos instrumentos de participação e controle social são aceitos com alguma dificuldade e desconfiança, não havendo consenso sobre a conveniência da introdução de tais mecanismos em nosso sistema jurídico, apesar de que se constate que são valiosos instrumentos de afirmação democrática.
O Ombudsman, chamado entre nós de Ouvidor, é órgão que carece de poder de imperium, no sentido de poder de coação, mas se serve de conselhos, recomendações, advertências e, principalmente, de publicidade, sempre atuando sob a ótica da imparcialidade, quando leva à cargo investigações, não a partir de uma posição adversária, masque apresenta, apenas, sugestões para a solução do problema levado a sua consideração.
Além de tudo, os interessados ou afetados devem se apresentar diretamente para formular suas queixas e tal atuação deve ser sempre gratuita, informal, mas não anônima
O Ombudsman é um eficiente colaborador para o controle dos atos da Administração e de efetivação dos direitos fundamentais, sejam estes individuais, coletivos ou difusos. Não busca responsáveis, mas soluções. Não substitui ou afasta nenhuma via prevista constitucional ou legalmente de controle ou participação popular, mas as complementa, com vista a seu melhor funcionamento.
É um colaborador para a realização do controle dos atos da administração e efetivação dos direitos fundamentais, sejam eles individuais, sociais, coletivos ou difusos. Não busca responsáveis, só busca soluções.
Em um Estado Federal é possível encontrar a figura tanto em âmbito federal, como estadual, municipal ou distrital, porém, em virtude da necessária rígida repartição de competências que o caracteriza, não pode existir conflito na condução do instituto, pois, em cada nível, se deve fixar ao rol de competências disposto na Constituição Federal e, isto, sem desconsiderar que pode haver diversidade de modos de designação, desde que a Lei Fundamental, respeitando a autonomia prevista dos entes parciais, não disponha ao contrário.
Sua aplicação tanto é vista em países de sistemas políticos parlamentaristas como presidencialistas e sua inclusão se efetuou com variações que se referem ao processo de designação, seu âmbito de competências, tanto territorial como material, mas que em nada altera seu perfil de órgão não jurisdicional, de controle do poder público, que deve gozar de independência e autonomia, o que só se verifica em um Estado Democrático de Direito.
Os países o têm incorporado por via constitucional ou legal e, ainda, por via de Decreto, quando participa dos negócios do Estado, na condição de ocupante de um cargo de confiança do Chefe do Executivo.
Os sistemas de sua designação podem ser agrupados em cinco classes:
1. Designação exclusiva pelo Poder Legislativo, sem interferência do Poder Executivo, quando é chamado de Ombudsman Parlamentar e o adotado por Suécia, Portugal, Espanha, Argentina, Dinamarca e Finlândia;
2. Designação pelo Legislativo por proposta do Executivo, como acontece em Quebec, Canadá;
3. Designação pelo Executivo, mediante proposta do Legislativo, adotado na Nova Zelândia;
4. Nomeação pelo Executivo, mediante previa consulta ao Legislativo, na Ilhas Maurício;
5. Designação exclusiva do Executivo, como se vê na Austrália, Filipinas e França.
No Brasil o instituto, aos poucos, adquire sua personalidade de acordo com a diversidade de nossa população e com nossas condições de recepção simples, ágil, sem burocracia para o fim de estabelecer um canal de diálogo aberto à participação popular, com vista a melhoria do serviço público e o respeito aos direitos do indivíduo.
Sem ter como objetivo a análise detalhada da história do Instituto no Brasil, mas, apenas, com o intuito de anotar algumas das principais características de sua trajetória, para orientar nosso estudo no que tange a ser eficiente veículo de controle social das políticas públicas, passa-se ao seguinte registro.
Modernamente, o anteprojeto de nossa atual Constituição Federal, apresentado pela Comissão Provisória de estudos Constitucionais, criada pelo Decreto 91450, de 10.7.85, incluiu proposta para instituir, no sistema jurídico brasileiro, a figura do Defensor do Povo, o que foi abandonado no trabalho da Constituinte que incorporou suas competências às funções do Ministério Público.
Em 21 de março de 1986, pelo Decreto 215, foi criada a primeira Ouvidoria Pública em nosso país, no Município de Curitiba, com a finalidade de atuar na defesa de direitos contra atos e omissões ilegais ou injustas, cometidas pela Administração Pública municipal.
Só em 7/01/2013 foi sancionada a Lei Municipal n. 14.223, que a disciplina, como órgão autônomo de controle da administração pública, vinculado ao Poder Legislativo Municipal, eleito pelo voto da maioria absoluta de seus membros, indicado em lista tríplice por Comissão Eleitoral, composta de membros da Sociedade Civil Organizada, do Executivo e do Legislativo, para mandato de dois anos, podendo candidatar-se por igual período, uma única vez consecutiva.
A Ouvidoria Geral do Paraná criada em 1991, a estabelece como aparelho do governo, exercendo funções de confiança como Secretário Geral e com prerrogativas de Secretário de Estado.
Merece registro que, a não incorporação da figura no texto da Constituição Federal, deixou sem um referencial que servisse de modelo às ouvidorias públicas, o que explica a diversidade de sua inclusão entre nós, além de esclarecer, também, a existência informal de boa parte delas, que, sem previsão legal ou de normas internas, atuam em órgãos a partir de resoluções e portarias.
Tal realidade é a encontrada na maioria das Ouvidorias espalhadas pelo Brasil, ou seja, são criadas pela autoridade fiscalizada que é responsável pela nomeação de seu titular, com sua atuação voltada para a busca da eficiência da administração.
A reforma do Estado, preconizada por Bresser Pereira, efetivada sob a égide da eficácia gerencial e das leis de mercado, embute o binômio cidadão/cliente que, em relação à prestação dos serviços públicos, passa a ser considerada como a satisfação do usuário.
As Ouvidorias surgem como resultado da mobilização de setores da sociedade, que, sem esquecer a cidadania, investem na eficácia e na eficiência da administração e conferem ao Ouvidor mandato certo e independência frente ao órgão fiscalizado.
Cite-se, como exemplo, a Ouvidoria de Polícia de São Paulo, criada em 1 de janeiro de 1995, pelo Decreto 31.900, com a participação de entidades de defesa dos direitos humanos, teve sua autonomia assegurada pela Lei Complementar 826, de 20/06/1997, com a escolha de seu titular, a partir de uma lista tríplice, elaborada pelo Conselho Estadual da Pessoa Humana e submetida ao Governador do Estado. O Ouvidor, assim escolhido, deve, necessariamente, ser estranho à corporação policial e observar as diretrizes fixadas por um colegiado composto de representantes da sociedade
As atribuições de uma Ouvidoria não podem ser confundidas, não só com a de órgãos governamentais de promoção da cidadania, mas, também, com uma central de atendimento que recebe reclamações ou propostas e as repassa ao seu superior hierárquico, podendo, no máximo sugerir medidas para solucionar os problemas, sem nenhuma autonomia para tomar iniciativas e ser responsável por elas.
A Ouvidoria Geral da República foi instituída pela Lei 8490/1192 como órgão do Ministério Justiça e transferida pelo Decreto 4.177/2002, para a Corregedoria Geral da União, que passou a ser denominada como Controladoria Geral da União, a partir da Lei 19623/2002. Entretanto, fugindo do modelo ideal, permanece subordinada ao Ministro a que está vinculada, o que acontece com todos os ouvidores do Poder Executivo Federal e dos demais órgãos ligados ao governo, como, por exemplo: a Ouvidoria da Previdência Social, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A Ouvidoria Geral da União, no âmbito de suas atribuições, entende que sua organização, em rede, enseja a criação de um sistema, composto de forma democrática e que atribua uma lógica compartilhada e colaborativa aos seus componentes, como, por exemplo: a Ouvidoria Agrária Nacional conta com uma rede de Ouvidores, subordinados ao INCRA e distribuídos nas regionais do órgão, dentre outras, a do Estado do Mato Grosso, de São Paulo, Ceará, etc.
A Instrução Normativa OGU n.01/2004, estabelece prazos e procedimentos de atendimento ao cidadão para as ouvidorias do Poder Executivo e uniformiza a atuação de cerca de 300 unidades de ouvidorias da Administração Pública Federal, que antes atuavam de forma isolada e não articulada.
As Ouvidorias nas Agências Reguladoras, entre outras na ANATEL, na ANAC, possuem posição singular, tendo em vista suas atribuições e grau de autonomia.
O art. 11, da Lei 9.986, de 18 de julho de 2000, ao dispor sobre a gestão de recursos humanos das agências reguladoras, prevê, no art. 11, que naquela em que esteja prevista a Ouvidora, o seu titular ocupará cargo comissionado e serão asseguradas autonomia e independência de atuação, como condição para o desempenho de suas atividades, o que tem sido respeitado por depender do exercício de um mandato, que tem variado entre 2 e 3 anos. Sua nomeação é encargo do Presidente da República, havendo ausência de sua subordinação hierárquica na agência.
O Poder Judiciário, por sua vez, tem adotado a figura do Ouvidor, como meio de comunicação do cidadão, no que tange não à sua atividade jurisdicional, mas em razão da administração da justiça, tanto no seio da Justiça Federal como no das Estaduais, e, do mesmo modo, se vê no âmbito do Ministério Público.
O Poder Legislativo não ficou imune e além da Ouvidoria na Câmara dos Deputados, cujo titular é escolhido dentre os Deputados pela Mesa daquela Casa, existem nas Assembleias Legislativas, cujo modo de designação é semelhante à da casa do Congresso Nacional.
No Estado da Paraíba, além do Ouvidor exercer sua função durante um mandato, sua escolha recai sobre pessoa estranha ao Legislativo, que, selecionada por entidades da sociedade, é apresentada, mediante lista tríplice, ao Presidente da Assembleia, que o nomeia, dentre seus integrantes.
Nas universidades brasileiras, principalmente nas públicas, existe a figura e sua importância vem sendo alargada com o atendimento favorável à sua autonomia, inclusive com a determinação de um mandato
O Brasil segue, no mais das vezes, a um processo de modernização e desenvolvimento impulsionado pela sociedade, de baixo para cima, para só depois chegar ao espaço público, por excelência. É o que se constata sobre a adesão da figura do Ouvidor, que adotado por diversos setores da sociedade, passou, a partir das demandas que lhe são encaminhadas, a ser considerado como um importante canal para que se tenha uma verdadeira radiografia da instituição e, assim, contribuir para a correção de injustiças, de práticas clientelistas e corporativas e da lentidão administrativa.
Gordillo cita Rowat, quando diz: “Pode ser certo, como os críticos dizem, que este instituto não está equipado para caçar leões, certamente, pode afugentar as moscas” afirma, que ainda que funcione, nos países em desenvolvimento, com a metade da efetividade de sua previsão original, sua adoção valeria a pena”, pois, embora não acarrete profundas transformações na administração, pode contribuir para melhorar, qualitativamente, a condução da administração e do governo em geral, e dar uma depreciável dose de participação indireta aos administrados” [14].
Portanto, com diz Gordillo, para que a participação da sociedade na formulação, fiscalização e realização das políticas públicas “não seja apenas um slogan, carente de conteúdo, sem reflexo na realidade, para que não transmita uma mensagem falsa, daquelas que se disse compartilhar, mas que se prefere não exercitar, é necessário que se estruture a formação da opinião pública e um mecanismo de participação razoavelmente equilibrado, que permita aos destinatários se acercar da tomada de decisões[15].
4. Referências
ASPER VALDÉS, Dayse de. Revista Da Procuradoria da República, n. 1, p. 151. 1992.
BERGUE, Sandro Trescastro. Escolas de Governo e fomento ao controle social – O caso do Programa É da Nossa Conta. Revista da Procuradoria do Município de Belo Horizonte, nº12, Belo Horizonte, ed. Fórum, p. 201-202, jun./dez. 2014.
BITENCOURT, Caroline Müller; BEBER, Augusto Carlos de Menezes. O controle social a partir do modelo da gestão pública compartida: da insuficiência da representação parlamentar à atuação dos conselhos populares como espaços públicos de interação comunicativa. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, Curitiba, v. 6, n. 2, p. 232-253, jul./dez. 2015.
BITENCOURT, Caroline Müller; PASE, Eduarda Simonetti. A necessária relação entre democracia e controle social: discutindo os possíveis reflexos de uma democracia “não amadurecida” na efetivação do controle social da administração pública. Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 2, n. 1, p. 293-311, jan./abr. 2015.
BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade. 4. Ed. São Paulo: Ed. Paz e terra, 1992.
BURGOA, Ignácio. El Estado. 1. ed. México: Porrúa, 1970.
DROMI, José Roberto. Derecho Subjetivo y responsabilidad pública. Bogotá: Temis, 1980.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes. 2010.
GORDILLO, Agustín. La administración paralela. Madrid: Civitas Ediciones. 2001.
MAIORANO, Jorge Luis. El Ombudsman Defensor del Pueblo y das instituiciones republicanas. Buenos Aires: Ed. Macchi. 1987.
ROBLES, Álvaro Gil. El Defensor del Pueblo y su Impacto en España e América Latina. Revista de La Asociación Iberoamericana Del Ombudsman, nº3, p. 82. 1994.
ROWAT, Donald Cameron. The Ombudsman Plan, Toronto: Carleton: Libray, 1973.
SILVA, José Afonso da. Ação popular constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990.

