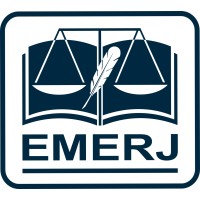

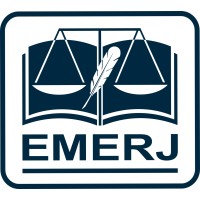

Artigos
A VINCULAÇÃO AOS PRECEDENTES JUDICIAIS ESTABELECIDA PELO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: UMA PERSPECTIVA COMPARADA
Direito em Movimento
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
ISSN: 2179-8176
ISSN-e: 2238-7110
Periodicidade: Semestral
vol. 19, núm. 2, 2021
Recepção: 19/09/2021
Revised: 21/09/2021
Aprovação: 23/09/2021

Resumo: O presente trabalho analisa a vinculação aos precedentes judiciais no Brasil e no cenário estrangeiro, ressaltando como a atribuição de eficácia vinculante aos precedentes judiciais no ordenamento jurídico brasileiro não apenas é constitucional, como aperfeiçoa o direito jurisprudencial.
Palavras-chave: Vinculação, Precedentes, Direito Estrangeiro.
Abstract: This paper analyzes the binding effect of precedents in Brazil and in the foreign scene, emphasizing how the attribution of binding effectiveness to judicial precedents in the Brazilian legal system is not only constitutional, but also improves the jurisprudential law.
Keywords: Binding Effect, Constitutionality, Comparative Law.
Introdução
O Código de Processo Civil trouxe um tratamento coerente e compromissado com o direito jurisprudencial, para tentar alcançar a uniformidade do julgamento dos tribunais e
o respeito aos precedentes dos Tribunais Superiores, mas tem sido alvo de críticas. Muito se discute sobre a constitucionalidade do seu artigo 927, que atribui eficácia vinculante ao direito jurisprudencial, dentro de hipóteses tipificadas pelo novel estatuto.
Considerando que o referido dispositivo é o ponto central do bem-estruturado sistema delineado, o presente trabalho analisará a vinculação aos precedentes no direito brasileiro e, a partir da experiência de países de civil law, procurará destacar a relevância do artigo 927 para o sistema construído.
A análise de países de civil law se justifica para demonstrar que, mesmo no cenário de ordenamentos que valorizam a legislação escrita, não é só possível, como também importante a existência de precedentes vinculantes.
1. O Artigo 927 do Código de Processo Civil
A exposição de motivos do anteprojeto do Código de Processo Civil dispunha sobre
o respeito ao precedente dos Tribunais Superiores, bem como sobre a necessidade de uniformidade aos julgamentos dos tribunais[1], uma preocupação que norteou todas as etapas legislativas do processo legislativo, em virtude da extrema falta de sintonia entre pronunciamentos judiciais (WAMBIER,2012, p. 11).
A exposição de motivos do anteprojeto do Código de Processo Civil dispunha sobre
o respeito ao precedente dos Tribunais Superiores, bem como sobre a necessidade de uniformidade aos julgamentos dos tribunais[1], uma preocupação que norteou todas as etapas legislativas do processo legislativo, em virtude da extrema falta de sintonia entre pronunciamentos judiciais (WAMBIER,2012, p. 11).
Buscou-se a construção de um sistema processual integrado e coerente (MACCORMICK, 2005, p. 188), que se afastasse do fenômeno denominado de “loteria judiciária”, que até então era frequente na cultura jurídica brasileira, tanto em virtude do desrespeito aos julgamentos dos tribunais (WAMBIER, 2013, p. 377) como também decorrente da estrutura dos próprios tribunais, de órgãos fracionários com competência concorrente (MENDES, 2014, p. 34-35), que acabam, muitas vezes, firmando entendimentos diversos, sem prejuízo das bruscas – e nem sempre desejáveis - alterações dos entendimentos (WAMBIER, 2015, p. 1313-1314) (WAMBIER 2012, p. 32).
A exposição de motivos do anteprojeto do Código de Processo Civil dispunha sobre
o respeito ao precedente dos Tribunais Superiores, bem como sobre a necessidade de uniformidade aos julgamentos dos tribunais[1], uma preocupação que norteou todas as etapas legislativas do processo legislativo, em virtude da extrema falta de sintonia entre pronunciamentos judiciais (WAMBIER,2012, p. 11).
Buscou-se a construção de um sistema processual integrado e coerente (MACCORMICK, 2005, p. 188), que se afastasse do fenômeno denominado de “loteria judiciária”, que até então era frequente na cultura jurídica brasileira, tanto em virtude do desrespeito aos julgamentos dos tribunais (WAMBIER, 2013, p. 377) como também decorrente da estrutura dos próprios tribunais, de órgãos fracionários com competência concorrente (MENDES, 2014, p. 34-35), que acabam, muitas vezes, firmando entendimentos diversos, sem prejuízo das bruscas – e nem sempre desejáveis - alterações dos entendimentos (WAMBIER, 2015, p. 1313-1314) (WAMBIER 2012, p. 32).
O objetivo era que o novo diploma, ao entrar em vigor, desafiasse certas culturas e práticas jurídicas, para tentar alcançar a uniformidade no posicionamento dos tribunais (DUXBURY, 2008, p. 142) , a previsibilidade, a estabilidade e, como consequência, também a segurança jurídica, inerentes ao Estado Democrático de Direito12. (SARLET, 2014, on-line)
Concluídos os trabalhos legislativos, o resultado foi uma nova legislação, com um tratamento coerente e compromissado com o direito jurisprudencial, em um modelo amplo e fundamentado, com tratamento dual: tanto referindo-se a julgamentos sem vinculatividade formal vertical (já que, horizontalmente, os tribunais devem aplicar seus próprios precedentes) como a julgamentos vinculantes por determinação legal (ZANETI, 2016, p. 343), esses últimos expressamente previstos no artigo 927 do novo Código de Processo Civil.
Possuem eficácia vinculante: (i) a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade – Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade, que são declaratórias e possuem eficácia erga omnes; (ii) os enunciados de súmula vinculante, isto é, aqueles elaborados pelo Supremo Tribunal Federal; (iii) os acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência, a resolução de demandas repetitivas e o julgamento de recurso especial ou extraordinário repetitivos;
(iv) os enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, e
do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional; (v) a orientação do plenário ou do órgão especial a que estiverem vinculados. Cabe destacar que eficácia vinculante significa a obrigatoriedade conferida a determinado enunciado jurisprudencial. (MIRANDA DE OLIVEIRA, 2012, p. 689).
O primeiro item se refere à força obrigatória dos julgamentos do STF produzidos em controle concentrado de constitucionalidade, tanto em relação a todos os demais órgãos jurisdicionais do país como em relação à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Juízes e tribunais têm de observar o comando emergente do acórdão do STF em controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos federais ou estaduais contestados em face da Constituição, tendo o novo diploma apenas reiterado a previsão constitucional. Discute-se se a hipótese representa respeito à coisa julgada ou o efeito de precedente vinculante[2] a todos os órgãos jurisdicionais. (DIDIER JR, 2021, p. 464).
A atribuição de eficácia vinculante às decisões do STF proferidas em ação direta de declaração de constitucionalidade de lei ou de outro ato normativo foi introduzida no ordenamento brasileiro pela Emenda Constitucional nº 03/93, reproduzida também no artigo 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99. Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 45/2004 alterou o artigo 102, parágrafo 2º, da Constituição Federal, para acrescentar o efeito vinculante também à ação direta de inconstitucionalidade.
Em termos de eficácia vinculante, além de reafirmar a eficácia obrigatória dos enunciados de súmula vinculante (STRECK,2015) (art. 927, inciso II), o artigo 927, em seu inciso IV, atribui força obrigatória aos enunciados de súmula do STF em matéria constitucional e, ainda, do STJ apenas em se tratando de matéria infraconstitucional.
As súmulas vinculantes já tinham previsão na Constituição antes do CPC/2015, a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, que inseriu, no texto da Constituição Federal, o artigo 103-A, permitindo ao Supremo Tribunal Federal, mediante decisão de dois terços dos seus membros e após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar súmula
vinculante, a ser obrigatória aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública. O dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006.
Cumpre destacar que se autoriza expressamente a possibilidade de revisão ou mesmo de revogação da regra sumulada, de forma a evitar a estagnação dos julgamentos e permitindo-se a evolução em sintonia com as mudanças sociais e econômicas da nação. O novo código apenas reitera essa previsão, mas os enunciados de súmula também passam a ter força obrigatória.
No caso especificamente das súmulas vinculantes (MENDES, p. 1002-1010)18, que possuem referência no artigo 927, II, não há qualquer confusão com precedente (STRECK, 2008, p. 166) porque: (i) o efeito vinculante vem da Constituição; (ii) a instituição do efeito vinculante tem como objetivo impedir novas discussões sobre a matéria por norma infraconstitucional, e não atender a solução de uma demanda entre as partes; (iii) a aplicação do precedente com efeito vinculante se dá de forma dedutivista, enquanto a súmula é regra geral e abstrata.
Nos termos do artigo 927, inciso III (MENDES, 2016), há, ainda, a previsão do incidente processual para a elaboração do precedente obrigatório, com natureza de processo objetivo. Nesses casos, a decisão dotada de efeito vinculante almeja constituir-se como regra decisória diante de uma multiplicidade de casos concretos.
Em relação aos precedentes oriundos do plenário ou órgão especial dos tribunais, previstos no artigo 927, inciso V, estabelece-se que devem ser respeitados os julgamentos, em virtude da maior quantidade de magistrados que participam de sua formação.
Porém o sistema não deixou de ser alvo de críticas. E uma das mais latentes alegações em relação ao modelo estabelecido foi justamente a inconstitucionalidade da vinculação ser estabelecida pela legislação infraconstitucional, debate esse polarizado no Brasil desde a tramitação do projeto no Congresso Nacional.(ZANETI, 2021, on-line).
Chegou-se a suscitar a inconstitucionalidade do artigo 927 do CPC, que, segundo Hermes Zaneti Jr. (2016, p. 366-372) , poderia ser sintetizada a partir de 3 (três) distintos argumentos: (i) a inconstitucionalidade dos incisos III (os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos), IV (os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional) e V (a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados) do artigo 927; (ii) a não obrigatoriedade dos incisos IV (os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional) e V (a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados); e (iii) somente as Cortes Supremas formariam precedentes obrigatórios, mas o artigo 927 estabeleceria a eficácia horizontal de respeito aos julgamentos.
Seguindo-se essa subdivisão, acrescentar-se-á ainda um argumento intermediário, de que a vinculação estabelecida pelo 927 do CPC seria constitucional, mas poderia se tornar inconstitucional caso o Poder Judiciário não proporcionasse a participação nem seguisse a posição majoritária. Destaca-se, por oportuno, que nem todos os autores que serão referidos manifestam expressamente um posicionamento sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da previsão do artigo 927. Eles apenas aludem a argumentos que podem ser utilizados para o debate do tema.
Iniciando a exposição dos argumentos pela inconstitucionalidade dos incisos III, IV e V do artigo 927, Nelson Nery Júnior defende que a previsão de vinculação deve estar prevista na Constituição, o que apenas acontece em relação ao julgamento de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado (artigo 927, I) e à súmula vinculante (artigo 927, II). O autor destaca que há previsões de alteração da Constituição, ainda sem votação, mas o caminho do novo Código de Processo Civil não respeitou o devido processo ao ampliar as hipóteses de vinculação previstas na Constituição. (NERY JUNIOR, 2015, p. 1837, 1841).
Nesse sentido, a constitucionalidade, para o referido autor, paira apenas em relação aos incisos I e II, por serem mera reprodução do texto constitucional, sendo os demais incisos inconstitucionais.
José Maria Tesheiner (2021, on-line) observa, ainda, que o diploma processual pretendeu incluir os precedentes como fontes formais do direito, exigindo-se sua observância incondicional, com nítido poder normativo inconstitucionalmente atribuído aos tribunais por lei ordinária. Ademais, cria um sistema de concentração do poder jurisdicional em Brasília: só os tribunais superiores poderão “dizer o direito”, cabendo aos demais juízes e tribunais apenas a tarefa de aplicar aos casos particulares o que eles houverem dito.
Há, ainda, o argumento de que o efeito vinculante consagrado no art. 927 do CPC restringe demasiadamente a liberdade do magistrado (GONÇALVES, 2008, p. 221-247) ao eliminar a possibilidade de interpretação da norma jurídica de forma diversa da adotada no precedente. (FERREIRA, 2021, on-line)
Por fim, argumenta-se que ocorreria centralização do poder na contramão da nossa Magna Carta, passando o Judiciário de julgador para legislador. Tal quadro resultaria na existência de um direito estático, e não dinâmico. (TORQUATO LEITE, p.18)
Em relação à não obrigatoriedade dos incisos IV (os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional) e V (a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados), defende-se que nem todos os temas relativos ao direito jurisprudencial previstos no artigo 927 seriam vinculantes. O artigo 927 criaria, para juízes e tribunais, apenas o dever jurídico de levar em consideração, nos seus julgamentos, pronunciamentos ou enunciados sumulares constantes no artigo. A eficácia vinculante não resultaria do artigo 927, mas de outra norma que atribuísse tal eficácia. (CÂMARA, 2020, p. 434)
Nesse sentido, haveria eficácia vinculante nos incisos I a III, mas seriam meramente argumentativos os enunciados IV e V.
A vinculação das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (art. 927, I) e dos enunciados de súmula vinculante (artigo 927, II) advém de previsão constitucional, respectivamente os já referidos artigos 102, §2º e 103-A da Constituição Federal, mas a previsão de vinculação não estaria restrita à Constituição. O fundamento para a vinculação nas hipóteses do inciso III se encontra no artigo 947, §3º, que é a norma para vinculação no caso do incidente de assunção de competência; os artigos 985 c/c 987, §2º, tratam da eficácia vinculante no caso do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e o artigo 1.040 do CPC tratados acórdãos proferidos nos julgamentos de recursos especiais ou extraordinários.
Já nas hipóteses do artigo 927, IV (os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional) e V (orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados), por não haver norma que atribui eficácia vinculante, a mera previsão no artigo 927 o tornaria meramente argumentativo.
Quanto à defesa da inconstitucionalidade do artigo 927 porque apenas as Cortes Supremas poderiam proporcionar eficácia vinculante na perspectiva vertical, o argumento seria que as Cortes Supremas “têm por função interpretar de forma adequada a Constituição e a legislação infraconstitucional federal, promovendo a unidade do Direito mediante a formação de precedentes vinculantes”. (MITIDIERO, 2014, p. 267). As Cortes Supremas teriam o dever de dar unidade ao direito, solucionando casos que sirvam como precedentes, enquanto as Cortes de Justiça deveriam aplicá-los a seus julgamentos sem quebra de igualdade, cabendo a estas fomentar o debate sobre as melhores opções interpretativas. (MARINONI, 2015, p. 608).
Nesse diapasão, apenas o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça formariam precedentes vinculantes, enquanto os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça dariam lugar à jurisprudência, que não teria autoridade vinculante. No entanto, ambos poderiam elaborar súmulas como “meio de trabalho”, sem eficácia vinculante, no sentido de apenas colaborar, tanto na interpretação como na aplicação do Direito, para as Cortes Supremas e para as Cortes de Justiça. (MARINONI, 2015, p. 609-610).
Ressalva-se, porém, que o artigo 927 seria capaz de estabelecer a eficácia vinculante horizontal, cabendo ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça o respeito aos próprios precedentes, e aos Tribunais Regionais Federais e aos Tribunais de Justiça, o respeito aos seus próprios julgamentos.
Em posicionamento intermediário, cabe mencionar que a atuação do Poder Judiciário com efeito vinculante não deve representar inovação na ordem jurídica sem fundamento majoritário, sob pena de usurpar a competência própria dos demais poderes estatais. Somente uma atuação que respeita decisões majoritárias será legítima para ser vinculante (BARCELOS, 2014, p.150). Caso contrário, haverá ofensa à separação de poderes, não podendo o Judiciário proferir decisões vinculantes que desrespeitem a participação social direta ou indireta e bases majoritárias.
2. A Vinculação no Direito Comparado: uma Abordagem a partir de Países de Civil Law
Diante de latente discussão sobre a constitucionalidade de atribuição de eficácia vinculante ao direito jurisprudencial, cabe então analisar o contexto brasileiro diante do direito estrangeiro, a fim de verificar se algum país já teve experiência semelhante.
Podem-se identificar diferentes modelos de vinculação no direito estrangeiro, mas, por ora, limitar-se-á a abordagem aos países com a tradição jurídica similar à do Brasil, de civil law, em que, em sua origem, o direito jurisprudencial não seria fonte nem se reconheceria a doutrina do stare decisis, mas apenas auxiliaria a interpretação do direito (ALGERO 2005, p. 787). Nesse cenário, opta-se por breve abordagem do Brasil, para o estudo de Portugal e da Itália, apesar de o cenário ser bem mais amplo.
2.1. Portugal
Em Portugal, a tentativa de vinculação é antiga; remete aos assentos da Casa da Suplicação. Os assentos da Casa da Suplicação, órgão que funcionava como Corte Superior de Portugal, eram escritos no chamado Livro da Relação e tinham caráter vinculante, pois os juízes ou desembargadores que decidissem em desconformidade com aqueles preceitos poderiam ser suspensos, como estava expressamente previsto no Livro V Título Título LVIII das Ordenações Manuelinas. Foram tratados não apenas na Segunda Ordenação, como nas Ordenações Filipinas e em legislações extravagantes.
Com o advento da Constituição de 1822, teve-se a previsão, em seu artigo 191, de um Supremo Tribunal de Justiça como corte superior, que só veio a ser criado e estruturado em maio de 1832, em substituição à Casa da Suplicação.
Em 1926, foi editado o Decreto n° 12.353, que previa, em seu art. 66, um sistema de recurso inominado, cuja hipótese de cabimento era a existência de soluções contraditórias sobre a mesma questão de direito por parte do Supremo Tribunal de Justiça. A competência era do Pleno do Supremo Tribunal de Justiça, que passou a denominar esses acórdãos de assentos, analisando-os através do quórum de maioria qualificada de seus membros (pelo menos 4/5 dos seus membros) e, uma vez aprovados, eram publicados no Jornal Oficial e no Boletim do Ministério da Justiça e passavam a ter força vinculante[3] (TRALDI, 2008, p. 22-23) em face do próprio Supremo e dos órgãos jurisdicionais inferiores.
Essa sistemática foi reproduzida no Código de Processo Civil Português de 1939, que, nos artigos 763 a 770, trouxe ao recurso nomenclatura idêntica à figura editada pela antiga Casa da Suplicação: assentos. A interposição desse recurso estava condicionada pela verificação dos seguintes requisitos: (a) existência de oposição entre acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça sobre a mesma questão de direito; (b) tal oposição haveria de verificar-se no âmbito da mesma legislação; (c) os acórdãos opostos deveriam ter sido proferidos em processos diferentes ou em incidentes diferentes do mesmo processo; (d) o acórdão anterior invocado como fundamento do recurso já deveria ter transitado em julgado (artigo 763). Admitido o recurso, o recorrente apresentaria alegação tendente a demonstrar que entre o acórdão recorrido e o acórdão anterior mencionado no requerimento existia a oposição exigida por lei (artigo 765 do Código de 1939).
Por sua vez, o Código de Processo Civil de 1961, relativamente ao recurso para o Tribunal Pleno e à uniformização da jurisprudência, manteve o sistema instituído pelo Código de Processo Civil de 1939, todavia com uma brusca mudança: a faculdade concedida ao Supremo Tribunal de Justiça de alterar as prescrições fixadas em seus assentos foi eliminada. Para se alterar um assento, passou a ser necessário suscitar um novo.
O CPC de 1961 dispôs, ainda, nos artigos 721 a 762, sobre o recurso de revista, cujo fundamento é a violação de lei substantiva (artigo 721), não servindo tal recurso para reapreciação da causa ou de fatos materiais (artigo 722). O ponto que merece destaque é o julgamento ampliado, tratado nos artigos 732-A e 732-B, quando se verifique a possibilidade de vencimento de solução jurídica que esteja em oposição com jurisprudência uniformizada, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão de direito.
Nos artigos 763 a 769, o Código tratou de um recurso para uniformização e revisão da jurisprudência, possibilitando que as partes interpusessem recurso para o pleno das seções cíveis do Supremo Tribunal de Justiça quando o Supremo proferisse acórdão que estivesse em contradição com outro anteriormente proferido pelo mesmo tribunal, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito (artigo 763). A decisão de provimento do recurso não afetava qualquer sentença anterior à que tivesse sido impugnada nem as situações jurídicas constituídas ao seu abrigo.
Em 1966, em razão da promulgação do Código Civil, por disposição do artigo 2º, os enunciados contidos nos assentos passaram a ter expressamente força obrigatória e geral.
Em 1976, a Constituição atual de Portugal, além do Supremo Tribunal de Justiça, órgão superior da hierarquia dos tribunais judiciais, responsável por julgar recursos que versem exclusivamente sobre matéria de direito, competindo-lhe, ainda, a uniformização de jurisprudência (artigo 210), há a previsão de um Tribunal Constitucional, responsável por apreciar e declarar, com força obrigatória e geral, a inconstitucionalidade das normas. (NOGUEIRA, 2013, p. 145-146).
Em 1993, conforme se percebe na leitura do Acórdão n° 810/93[4] do Tribunal Constitucional, o artigo 2º do Código Civil português foi tido por inconstitucional. O relator, Conselheiro Antero Alves Monteiro Diniz, observou que a força obrigatória dos assentos e a impossibilidade de sua modificação seriam inadequados para a uniformidade do direito e para a segurança jurídica. Se os assentos pudessem ser modificados, para ter força obrigatória apenas para juízes e tribunais, eles perderiam seu caráter normativo e, assim, poderia ser mantido o sistema de assentos no ordenamento português sem que fosse violada a independência dos juízes (artigo 206 da Constituição Portuguesa). Em sentido contrário, mas em posicionamento vencido, cabe consignar o posicionamento da Conselheira Maria da Assunção Esteves, que pontuou que a vinculação aos assentos não impediria ao Tribunal reformar as decisões dos juízes em sede recursal.
Apesar da revogação dos assentos, em 1995, o Decreto-Lei nº 329-A, de revisão do Código de Processo Civil, ampliou os poderes do relator quando a questão já houver sido apreciada de modo uniforme e reiterada pela jurisprudência e ampliou a competência dos órgãos colegiados para a uniformização de jurisprudência. Nesse sentido, mesmo com o fim dos assentos, com a rejeição do caráter vinculante aos julgamentos e de fonte formal do direito (LINHARES, 2015, p. 185-186), ressalvados os julgamentos de tribunais internacionais (artigo 696, f, do atual Código de Processo Civil) e as declarações de inconstitucionalidade de lei ou de ilegalidade de atos administrativos (LINHARES, 2015, p. 193), Portugal não deixou de se preocupar com o direito jurisprudencial, com sua estabilidade e uniformidade (LINHARES, 2015, p. 191), sem, porém, ocorrer a cristalização das posições tomadas pelo Supremo Tribunal de Justiça.
Em 2013, com a Lei nº 41, o novo e atual Código de Processo Civil português, não menos importante foi a jurisprudência, mantendo-se a mesma ratio desde a revogação dos assentos. Apenas na esfera judicial em matéria cível, o novo Código, reproduzindo o artigo 676 do diploma anterior, prevê, nos recursos do Supremo Tribunal de Justiça português a possibilidade de recursos extraordinários para uniformização de jurisprudência (artigo 215), utilizados também para a revisão da jurisprudência (artigo 627). Qualquer recurso em face de decisão proferida contra jurisprudência uniformizada do Supremo Tribunal de Justiça será sempre admitido (artigo 629, 2c) e, ainda, caso o acórdão da Relação que esteja em contradição com outro, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito (artigo 629, 2d). Caso a jurisprudência ainda não tenha sido uniformizada, caberá ao recorrente invocar um conflito jurisprudencial que se pretende ver resolvido, juntando obrigatoriamente, sob pena de imediata rejeição, cópia, ainda que não certificada, do acórdão fundamento (artigo 637).
Em relação ao recurso de revista, o novo Código, quanto aos acórdãos da Relação que apreciem decisões interlocutórias que recaiam unicamente sobre a relação processual, acrescenta que podem ser objeto de recurso de revista quando estejam em contradição com outro, já transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça, no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, salvo se tiver sido proferido acórdão de uniformização de jurisprudência com ele conforme (artigo 671).
O atual diploma mantém, nos artigos 686 e 687, a possibilidade de julgamento ampliado do recurso de revista. Os artigos 688 a 694 tratam da previsão do recurso para uniformização de jurisprudência, repetindo a previsão de que a decisão de provimento do recurso não afeta qualquer sentença anterior à que tenha sido impugnada nem as situações jurídicas constituídas ao seu abrigo, que podem ser exclusivamente para a uniformização da jurisprudência na hipótese do artigo 691, sem decidir a causa, quando o Ministério Público não é parte, limitando-se a invocar unicamente à uniformização sobre o conflito de jurisprudência.
Nesse sentido, Portugal abandonou, apenas, o caráter geral e abstrato dos assentos para que as decisões dos tribunais passassem a orientar os julgamentos futuros.
2.2. Itália
O direito italiano não possui a tradição de precedentes vinculantes (TARUFFO, 1997, p. 172-174), baseados em um histórico de desconfiança no Poder Judiciário (MERRYMAN,1966, p. 588), com exceção dos julgamentos da Corte de Cassação na declaração de inconstitucionalidade, e do Conselho de Estado, se declara que um ato administrativo é inválido (MERRYMAN,1966, p. 605). Isso não significa que não existam precedentes no sistema e muito menos que eles não sejam respeitados, mas apenas que eles não são a única base das decisões judiciais, sendo frequentemente referidos junto com disposições legislativas (MAZZOTTA, 2000, p. 148). Apenas o artigo 118 das Disposições Relativas à Aplicação do CPC italiano prevê que o juiz pode fazer referência a precedentes na motivação do seu julgamento (TARUFFO 2015, p. 203). O artigo 360 bis 1 dispõe que o recurso à Corte de Cassação não será admitido se a questão de direito estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal e o exame dos fundamentos não fornecer elementos para confirmar ou alterar a orientação da mesma.
Apesar da falta de vinculação dos precedentes, as decisões de tribunais superiores no sistema judicial italiano certamente têm grande influência (LIVINGSTON, 2015, p 247) e são observadas pelos tribunais inferiores (TARUFFO, 1997, p. 154-155), especialmente os oriundos da Corte de Cassação. Os tribunais, na hipótese excepcional de não observarem o julgamento de um tribunal hierarquicamente superior, procuram adotar uma fundamentação adequada, o que não significa que não possam se afastar da jurisprudência e que a própria Corte de Cassação não deixe de observar seus próprios julgamentos.
Considerando a grande quantidade de julgamentos da Corte de Cassação – segundo Michele Taruffo (2015, p. 204) são 30 mil por ano -, muitos julgamentos são publicados divorciados do caso concreto, na forma de uma massima (MERRYMAN,1966, p. 592), publicada no massimario, que é “[...] uma afirmação pequena e extremamente abstrata, que representa o centro do significado de uma regra legal, tal qual interpretada por aquele julgamento”[5].
Nesse sentido, apesar de os julgamentos serem publicados em sua íntegra e poderem ser acessados, prevalece a utilização dessas pequenas afirmações, massime, que não são precedentes, mas que se referem a proposições, algumas vezes apenas reproduzindo a disposição legislativa, em outros casos interpretando a lei ou um princípio. (TARUFFO 2015, p. 204).
3. A Constitucionalidade e a Relevância das Previsões do Artigo 927 do CPC
A partir da abordagem do cenário estrangeiro, pode-se constatar que a discussão sobre a constitucionalidade da vinculação do direito jurisprudencial certamente indica que o tema avança no Brasil, de forma mais estruturada do que em outros países de civil law, como Portugal e Itália.
Isso porque, até o advento do novo Código de Processo Civil, o Brasil possuía um sistema muito próximo do modelo da Itália, de vinculação restrita a alguns julgamentos do tribunal de maior hierarquia no ordenamento, mas sem se distanciar do modelo português após a década de 1990 no que tange apenas à possibilidade de uniformização de jurisprudência. Porém, após o advento do novo CPC, o sistema brasileiro relativamente ao direito jurisprudencial foi muito aperfeiçoado. Cabe, então, demonstrar as razões pelas quais os argumentos pela inconstitucionalidade desse novo sistema devem ser ultrapassados, defendendo-se que não subsistiria qualquer argumento que pudesse suscitar dúvida quanto à sua constitucionalidade.
Inicialmente, destaca-se que a preocupação não deve se limitar à inclusão ou não dos precedentes como fonte do direito, mas sim à análise do papel, das estruturas e do modo como vem sendo exercida a atividade judicante no Brasil. (MENDES, 2014, p. 15).
O estudo do direito jurisprudencial (precedentes, jurisprudência e súmulas, vinculantes ou não) deve ser capaz de aprofundar as reflexões sobre a teoria da decisão judicial. Incluir ou não o direito jurisprudencial como fonte do direito no Brasil, por determinação legal, será uma consequência dos rumos a serem seguidos nos próximos anos, e não efetivamente uma preocupação.
Quanto ao argumento de que a eficácia vinculante somente poderia ocorrer nas hipóteses de decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (artigo 927, I, do NCPC) e de enunciados de súmula vinculante (artigo 927, II) por esses incisos se limitarem a reproduzir as disposições constitucionais dos artigos 102, §2º e 103-A, ambos da Constituição, respectivamente, já se teve a oportunidade de defender (MENDES, 2014, p. 36) que não há qualquer impedimento de ordem constitucional para que legislação infraconstitucional estabeleça eficácia vinculante. O fato de a Carta Magna prever efeito vinculante nos artigos 102, §2º e 103-A representa apenas que o referido comando foi inserido em nível constitucional porque: (i) tem íntima relação com os assuntos (controle de constitucionalidade e inovação afeta ao STF); (ii) o efeito vinculante foi estabelecido não apenas para o Judiciário, mas para toda a Administração Pública; (iii) preservação do caráter vinculante em face de eventuais reformas processuais que pudessem afastá-lo; e (iv) reforço da possibilidade de que o efeito vinculante para os demais órgãos judiciais viesse por determinação infraconstitucional.
Em relação ao possível poder normativo inconstitucionalmente atribuído aos tribunais por lei ordinária, concentrando poderes normativos em contramão à Carta Magna e à criação de um sistema de concentração do poder jurisdicional em Brasília, cabe, primeiramente, destacar que não se trata de um poder normativo, até mesmo porque a eficácia vinculante não se aplica ao Poder Legislativo, podendo esse poder editar norma em sentido contrário ao julgamento com efeito vinculante. Ademais, a Constituição, em todo o Capítulo III, referente ao Poder Judiciário, não impede que haja outros julgamentos com eficácia vinculante além dos que prevê.
Também não se trata de concentração de poder em Brasília, nos tribunais superiores, porque os incisos do artigo 927, embora enfatizem o efeito vinculante no julgamento dos tribunais superiores (artigo 927, incisos I, II, III – assunção de competência e recursos repetitivos-, IV e V), prevê a possibilidade de eficácia vinculante em qualquer tribunal (artigo 927, incisos III – assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas – e V). Pelo contrário: o novo diploma pressupõe um sistema hierárquico bem-estruturado de tribunais, com a adequada compreensão acerca de quais decisões serão obrigatórias a cada instância, e um repositório de jurisprudência seguro. (CAMBI, 2015, p. 345).
Já sobre a independência dos magistrados, cabe destacar que a eficácia vinculante dos precedentes não retira do julgador o poder de decisão no caso concreto. A inconstitucionalidade reconhecida em Portugal foi reconhecida por maioria diante da impossibilidade de modificação de um assento, o que não ocorre no Brasil: o direito jurisprudencial, de acordo com o novo CPC, pode ser modificado ou superado.
O papel dos precedentes é de integração entre o legislador, a doutrina e os juízes (ZANETI, 2016, p. 356). Caberá a ele avaliar se o caso a ser julgado se aproxima ou difere do precedente, fundamentando sua decisão (art. 489, §1º, V e VI) (SCHAUER,2016), além de verificar se houve a superação do precedente (WAMBIER, 2015, p. 266), o que não retira o dinamismo do direito. Além disso, as novas decisões fruto do efeito vinculante não são mero silogismo; elas também constituem ato hermenêutico(STRECK, 2015, p. 180). Ainda, o novo Código de Processo Civil, ao atribuir eficácia vinculante ao direito jurisprudencial, não representa um salto ou virada abrupta de paradigma, já que havia anteriormente a previsão de eficácia vinculante em nosso ordenamento, mas apenas um passo no longo caminho trilhado em se tratando de interpretação uniforme das leis. (MARINHO,2015, p.91).
Ademais, precedentes são normas gerais e concretas, enquanto normas são gerais e abstratas. O Código de Processo Civil vinculou os juízes e tribunais a partir dos fundamentos determinantes e exigiu que os próprios enunciados de súmula fizessem referência à circunstância fática (arts. 489, §1º, V, e 926, §2º NCPC), não se confundindo a função do juiz com a do legislador (ZANETI, 2016, p. 368). Cabe ao Poder Judiciário reconstruir os significados normativos de acordo com a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional e a tradição jurídica (artigo 1º do CPC/2015) (ZANETI, 2016, p. 368). E a previsão do novo CPC vincula apenas órgãos do Poder Judiciário – com exceção da súmula vinculante, cuja previsão de vinculação também à Administração Pública ocorre por força da previsão constitucional.
Não prospera o argumento de que o artigo 927 criaria, para juízes e tribunais, apenas o dever jurídico de levar em consideração, nos seus julgamentos, pronunciamentos ou enunciados sumulares constantes no artigo. Há, no próprio artigo 927, clara obrigatoriedade de os juízes e tribunais aplicarem as próprias decisões e as decisões dos tribunais superiores, principalmente como normas. (ZANETI, 2015, p. 409).
E, apesar de se concordar que não se pode tratar de precedente vinculante sem se identificar nas Cortes Supremas as principais personagens da construção desse modelo, não se trata de efeito vinculante apenas das Cortes Supremas. Primeiro porque, como já retratado, embora os incisos do artigo 927 se refiram, em sua maior parte, aos tribunais superiores, nele não se esgotam. Segundo porque, nos últimos anos, os tribunais superiores passaram a assumir um papel relevantíssimo na história, seja pela uniformização dos julgamentos, seja pelo protagonismo do Judiciário, sobretudo a partir da Constituição de 1988 (CRUZ E TUCCI, 2015, p. 446-447). O CPC/2015 apenas reproduziu essa tendência de protagonismo dos tribunais superiores, sem descartar a possibilidade de eficácia vinculante do julgamento de Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais, que deverão ser observados pelo próprio tribunal, desde que respeitem as decisões das instâncias formalmente superiores.
A decisão oriunda do Poder Judiciário deve proporcionar a participação, seja ela direta ou indireta, legitimando-se por um contraditório efetivo, exercício do direito de defesa e participação, mas nem sempre pela maioria, cabendo-lhe, em diversos casos, assegurar o direito das minorias.
Dessa forma, a previsão do artigo 927 do CPC/2015, que atribui eficácia vinculante ao direito jurisprudencial, na forma dos seus incisos, a nosso sentir, não padece de qualquer inconstitucionalidade.
O problema não é nem será a disposição, mas poderá ser apenas a má técnica na formação do julgamento vinculante, capaz de ocasionar que a segurança e previsibilidade almejadas sejam de pouca serventia (DIDIER JR, 2021, on-line). Para afastar esse risco, o código prevê a participação na formação desses provimentos, inclusive com a inclusão, no capítulo da intervenção de terceiros, da figura do amicus curiae e de referência à audiência pública em seu texto legislativo, além da necessidade de fundamentação de decisões judiciais, ainda que seja aplicada a eficácia vinculante65. (DIDIER JR, 2015, p.455).
Como consequência desse sistema, o novo Código de Processo Civil ensejará a realização da isonomia perante as decisões judiciais, evitando que, diante de uma mesma situação concreta, órgãos jurisdicionais cheguem a conclusões diversas. Alcança-se a igualdade por regras decisórias destinadas a assegurar coerência a uma série de decisões, pois, como destaca Frederick Schauer, (SCHAUER 2021, on-line) falhar em tratar casos semelhantes semelhantemente é injusto.
Haverá também a maior previsibilidade dos julgamentos, já que, quando um julgador deve decidir um caso da mesma forma como outro julgamento, as partes poderão melhor antecipar o futuro, inclusive podendo requerer a concessão de uma tutela de evidência, conforme previsão do artigo 311, inciso III, em se tratando da existência de prova material e de tese firmada, com eficácia vinculante, em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Como consequência, a previsibilidade proporcionará a segurança jurídica, tratando-se de respeito não apenas a situações consolidadas no passado, mas também de proteção às legítimas expectativas e às condutas adotadas a partir de um comportamento presente, embora não se possa desconsiderar que, mesmo nos países de common law, há o problema da insegurança jurídica (STRECK, 2015, p. 57), pois esta não decorre da tradição jurídica de civil law ou de common law, mas da atuação do Poder Judiciário na concretização do ordenamento jurídico.
Ademais, possibilita-se a agilidade e maior qualidade na prestação jurisdicional, já que é possível abreviar o julgamento de processos contrários à tese fixada, seja através do julgamento liminar de improcedência, seja quanto ao julgamento monocrático do relator ou outras previsões do novo diploma, além de proporcionar uma maior distribuição do tempo para processos em que não haja tese jurídica firmada.(CAMARGO, 2012, p. 570-581)
Conclusão
Apesar de outros países de civil law conhecerem a atribuição de eficácia vinculante ao direito jurisprudencial, especialmente em relação aos julgamentos de inconstitucionalidade de leis e ilegalidade de atos administrativos, o direito brasileiro foi capaz de construir um modelo mais amplo e bem-estruturado, que, além de constitucional, é essencial para o ordenamento e para a prática jurídica, traduzindo-se em maior isonomia,
revisibilidade e, ainda, proporcionando maior agilidade e qualidade à prestação jurisdicional.
Referências Bibliográficas
ABBOUD, Georges. Precedente Judicial versus Jurisprudência Dotada de Efeito Vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 491-552.
ALGERO, Mary Garvey. The Sources of Law and the Value of Precedent: A Comparative and Empirical Study of a Civil Law State in a Common Law Nation. Louisiana Law Review. Mississipi: Louisiana State University Law School, vol. 65, 2005, p. 775-822.
BARCELLOS, Ana Paula de. Voltando ao Básico: Precedentes, Uniformidade, Coerência e Isonomia. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial – volume II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 143-162.
BRENNER, Saul; SPAETH, Harold J. Stare Indecisis: the Alteration of Precedent on the Supreme Court, 1946-1992. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Atlas, 2020.
CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A Força dos Precedentes no Moderno Processo Civil Brasileiro. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 553-674.
CAMBI, Eduardo; FOGAÇA, Mateus Vargas. Sistema dos Precedentes Judiciais Obrigatórios no Novo Código de Processo Civil. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues; MACÊDO, Lucas Buril. Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 335-360.
CANOTILHO, J.J.. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolgang; STRECK, Lenio Luiz (Coord. Científica). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014.
CROSS, Rupert; HARRIS, J.W. Precedent in English Law. Oxford: Clarendon Press, Fourth Edition, 2004.
CRUZ E TUCCI, José Rogério. O Regime do Precedente Judicial no Novo CPC. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues; MACÊDO, Lucas Buril. Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 445-458.
. Parâmetros de Eficácia e Critérios de Interpretação do Precedente Judicial. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 97-132.
DIDIER JR, Fredie. Editorial 49. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-49/. Acesso em 25 ago. 2021.
; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, vol. 2, 2021.
DUXBURY, Neil. Random Justice: on Lotteries and Legal Decision-Making. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
. The Nature and Authority of Precedent. Cambridge: Cambridge, 2008. DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
FERREIRA, Olavo A. Vianna. Impactos do novo CPC no Processo Constitucional. Disponível em http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/impactos-do-novo- cpc-no-processo-constitucional/16124. Acesso em 24 ago. 2021.
FINE, Toni M. O uso do precedente e o papel do princípio do stare decisis no sistema legal norte-americano. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, v. 782, dez. 2000, p. 90-96.
GERHARDT, Michael J. The Power of Precedent. Oxford: Oxford University Press, 2008.
GONÇALVES, Marcelo Barbi. O incidente de resolução de demandas repetitivas e a magistrada deitada. Revista de Processo. São Paulo: RT, n° 222, ago. 2008, p. 221-247.
LAMOND, Grant. Precedent. Philosophy Compass. Online Publisher: vol. 2, issue 5, jul. 2007, p. 699-711.
LAMY, Eduardo de Avelar; SCHMITZ, Leornard Ziesemer. A administração pública federal e os precedentes do STF. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 214, p. 199-214, dez. 2012.
LINHARES, José Manel Aroso; GAUDÊNCIO, Ana Margarida. The Portuguese Experience of Judge-Made Law and the Possibility of Prospective Intentions and Effects. In: STEINER, Eva. Comparing the Prospective Effect of Judicial Rulings Across Jurisdictions. Londres: 2015, p. 185-201.
LIVINGSTON, Michael A.; MONATERI, Pier Giuseppe; PARISI, Francesco. The Italian Legal System: An Introduction. Califórnia: SANFOD Law Books, 2.ed, 2015.
MACCORMICK, Neil. Rethoric and the rule of law – A theory of legal reasoning. New York: Oxford University Press, 2005.
MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2015.
MARINHO, Hugo Chacra Carvalho e. A Independência Funcional dos Juízes e os Precedentes Vinculantes. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues; MACÊDO, Lucas Buril. Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 87-98.
MARINONI, Luiz Guilherme Precedentes Obrigatórios. Disponível em http://www.marinoni.adv.br/files_/Confer%C3%AAncia_IAP2.pdf. Acesso em 25 ago. 2021.
. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. São Paulo: RT, vol. 2, 2015.
; MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC: críticas e propostas. São Paulo: RT, 2010.
MAZZOTTA, Francesco G. Precedents in Italian Law. Michigan State International Law Review. Michigan: Michigan State University College of Law, vol. 121, 2000.
MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: RT, 2015.
MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
. Precedentes e jurisprudência: papel, fatores e perspectivas no direito brasileiro contemporâneo. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial – volume II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 11-38.
; SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Precedente e IRDR: algumas considerações. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues; MACÊDO, Lucas Buril. Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 567-590.
; SILVA, Larissa Clare Pochmann da; ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado. 3.ed. Rio de Janeiro: GZ, 2016, obra no prelo.
; SILVA, Larissa Clare Pochmann da; ALMEIDA, Marcelo Pereira. O Novo Código de Processo Civil Comparado. 4ª ed. Rio de Janeiro: GZ, 2018.
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 6.ed, 2011.
MERRYMAN, John Henry. The Italian Style III: Interpretation. Stanford Law Review.
Califórnia: Stanford Law School, vol. 18, n. 4, 1966, p. 583-611.
MIRANDA DE OLIVEIRA, Pedro. O binômio repercussão geral e súmula vinculante: necessidade da aplicação conjunta dos dois institutos. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 675-750.
MITIDIERO, Daniel. A tutela dos direitos como fim do processo civil no Estado Constitucional. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial – volume II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 247-272.
NERY JUNIOR, Nelson; ABBOUD, Georges. Stare Decisis v. Direito Jurisprudencial. In: FREIRE, Alexandre et al. Novas Tendências do Processo Civil: Estudos sobre o Projeto do novo Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2013, vol. 1, p. 483-512.
; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015.
NOGUEIRA, Gustavo Santana. Precedentes vinculantes no direito comparado e brasileiro.
Salvador: Juspodivm, 2.ed, 2013.
SARLET, Ingo W. A Eficácia do Direito Fundamental à Segurança Jurídica: Dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito Constitucional Brasileiro. Disponível em: http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15197-15198-1-PB.pdf. Acesso em 17 nov. 2014.
SCHAUER, Frederick. Precedent. Disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1836384. Acesso em 9 ago. 2021.
. Thinking like a Lawyer: a New Introduction to Legal Reasoning. Cambridge: Harvard College of Law, 2009.
SCHELEDER, Adriana Fasolo Pilati. Precedentes e jurisprudência: uma distinção necessária no sistema jurídico brasileiro. Revista Eletrônica Direito e Política. Curitiba: Univali, vol. 10, p. 2079-2111.
SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Uniformização decisória nas demandas coletivizáveis: entre o common law e o civil law. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; MARINONI,
Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial – volume II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 705-730.
.; OLIVEIRA, Matheus Farinhas de. O Precedente na Suprema Corte Norte- Americana e no Supremo Tribunal no Brasil. In: LIZIERO, Leonam; ALENCAR, Wladimir Cerveira de. Justiça, Constituição e Sociedade. Trabalho no prelo.
STRECK, Lenio Luiz. Súmulas, Vaguezas e Ambiguidades. Direitos Fundamentais e Justiça. Porto Alegre: PUC-RS, out-dez. 2008, p. 162-185.
; ABBOUD, Georges. O que é isto - o precedente judicial e as súmulas vinculantes?
3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
; ABBOUD, Georges. O NCPC e os Precedentes – Afinal, do que Estamos Falando? In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues; MACÊDO, Lucas Buril. Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 175-182.
TARUFFO, Michele. Judicial Rulings with Prospective Effect in Italy. In: STEINER, Eva. Comparing the Prospective Effect of Judicial Rulings Across Jurisdictions. Londres: Springer, 2015, p. 203-206.
. Precedent in Italy. In: HONDIUS, Ewoud (org.). Precedent and the Law: Reports to the XVIIth Congress International Academy of Comparative Law Utrecht, 16-22 July 2006. Bruxelas: Bruylant, 2007. p. 177-188.
. Precedentes e jurisprudência. Revista de Processo, São Paulo: RT, n. 199, 2010, p. 139-158.
; LA TORRE, Massimo. Precedent in Italy. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting Precedents: a Comparative Study. Aldershot: Ashgate Dartmouth, 1997, p. 141-188.
TESHEINER, José Maria. Inconstitucionalidades gritantes no artigo 927 do novo CPC. Revista Páginas de Direito, Porto Alegre, ano 15, nº 1276, 29 de setembro de 2015. Disponível em: http://www.tex.pro.br/index.php/artigos/317-artigos-set-2015/7376- inconstitucionalidades-gritantes-no-artigo-927-do-novo-cpc. Acesso em 24 ago. 2015.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2021.
; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC: Fundamentos e Sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
TORQUATO LEITE, Maria Oderlânia; FEITOSA, Gustavo Pereira Raposo. O Efeito Vinculante e o Novo Código de Processo Civil, p. 8. Disponível em
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e7d4c8d4fe04d9b4. Acesso em 25 mar. 2016.
TRALDI, Maurício. Súmula Vinculante. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Direito da PUC-SP. São Paulo: PUC-SP, 2008.
WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil 3: leis n.º 11382/2006, n.º 11417/2006, n.º 11418/2006, n.º 11341/2006, n.º 11419/2006, n.º 11441/2007 e n.º
11448/2007. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. A Vinculatividade dos Precedentes e o Ativismo Judicial
– Paradoxo apenas Aparente. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues; MACÊDO, Lucas Buril. Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 263-274.
. Em Direção ao Common Law? In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. O Processo em Perspectiva: Jornadas Brasileiras de Direito Processual. São Paulo: RT, 2013, p. 371-378.
. Precedentes e Evolução do Direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.)
Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 11-96.
; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo. São Paulo: RT, 2015.
ZANETI JR, Hermes. O Valor Vinculante dos Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2016.
. Precedentes Normativos Formalmente Vinculantes. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues; MACÊDO, Lucas Buril. Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 407- 424.
; PEREIRA, Carlos Frederico Bastos. Precedentes do novo CPC podem contribuir para sistema jurídico mais racional. Disponível em http://www.conjur.com.br/2016-abr- 16/precedentes-cpc-podem-contribuir-justica-racional. Acesso em 16 ago. 2021.
[1] Disponível em http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf. Acesso em 22 mar. 2016.
[2] Adriana Scheleder discorda que tais julgamentos sejam precedentes, explicando que os referidos julgamentos do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade não geram precedentes, mas sim efeito normativo, cuja autoridade decorrente de dispositivo constitucional deve ser respeitada, sob pena de cassação do ato que a desconsidere. Essas decisões possuiriam efeito vinculante, o que não significa que sejam precedentes com efeitos vinculantes. Sobre o tema: SCHELEDER, Adriana Fasolo Pilati. Precedentes e jurisprudência: uma distinção necessária no sistema jurídico brasileiro. Revista Eletrônica Direito e Política. Curitiba: Univali, vol. 10, p. 2.095.
[3] Acórdão n° 810/93, Tribunal Constitucional de Portugal, Rel. Cons. Monteiro Diniz.
[4] Acórdão n° 810/93, Tribunal Constitucional de Portugal, Rel. Cons. Monteiro Diniz.
[5] Na versão original: “[...] that is a short and very abstract statement representing the core of the meaning of a legal rule, as it is interpreted by the judgement considered.” (TARUFFO, Michele. Precedent in Italy. In: HONDIUS, Ewoud (org.). Precedent and the Law: Reports to the XVIIth Congress International Academy of Comparative Law Utrecht, 16-22 July 2006. Bruxelas: Bruylant, 2007. p. 181).
Referências Bibliográficas
ABBOUD, Georges. Precedente Judicial versus Jurisprudência Dotada de Efeito Vinculante. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 491-552.
ALGERO, Mary Garvey. The Sources of Law and the Value of Precedent: A Comparative and Empirical Study of a Civil Law State in a Common Law Nation. Louisiana Law Review. Mississipi: Louisiana State University Law School, vol. 65, 2005, p. 775-822.
BARCELLOS, Ana Paula de. Voltando ao Básico: Precedentes, Uniformidade, Coerência e Isonomia. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial – volume II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 143-162.
BRENNER, Saul; SPAETH, Harold J. Stare Indecisis: the Alteration of Precedent on the Supreme Court, 1946-1992. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Atlas, 2020.
CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. A Força dos Precedentes no Moderno Processo Civil Brasileiro. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 553-674.
CAMBI, Eduardo; FOGAÇA, Mateus Vargas. Sistema dos Precedentes Judiciais Obrigatórios no Novo Código de Processo Civil. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues; MACÊDO, Lucas Buril. Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 335-360.
CANOTILHO, J.J.. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolgang; STRECK, Lenio Luiz (Coord. Científica). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014.
CROSS, Rupert; HARRIS, J.W. Precedent in English Law. Oxford: Clarendon Press, Fourth Edition, 2004.
CRUZ E TUCCI, José Rogério. O Regime do Precedente Judicial no Novo CPC. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues; MACÊDO, Lucas Buril. Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 445-458.
Parâmetros de Eficácia e Critérios de Interpretação do Precedente Judicial. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 97-132.
DIDIER JR, Fredie. Editorial 49. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-49/. Acesso em 25 ago. 2021.
BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, vol. 2, 2021.
DUXBURY, Neil. Random Justice: on Lotteries and Legal Decision-Making. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
. The Nature and Authority of Precedent. Cambridge: Cambridge, 2008. DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
FERREIRA, Olavo A. Vianna. Impactos do novo CPC no Processo Constitucional. Disponível em http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/impactos-do-novo- cpc-no-processo-constitucional/16124. Acesso em 24 ago. 2021.
FINE, Toni M. O uso do precedente e o papel do princípio do stare decisis no sistema legal norte-americano. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, v. 782, dez. 2000, p. 90-96.
GERHARDT, Michael J. The Power of Precedent. Oxford: Oxford University Press, 2008.
GONÇALVES, Marcelo Barbi. O incidente de resolução de demandas repetitivas e a magistrada deitada. Revista de Processo. São Paulo: RT, n° 222, ago. 2008, p. 221-247.
LAMOND, Grant. Precedent. Philosophy Compass. Online Publisher: .ol. 2, issue 5, jul. 2007, p. 699-711.
LAMY, Eduardo de Avelar; SCHMITZ, Leornard Ziesemer. A administração pública federal e os precedentes do STF. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 214, p. 199-214, dez. 2012.
LINHARES, José Manel Aroso; GAUDÊNCIO, Ana Margarida. The Portuguese Experience of Judge-Made Law and the Possibility of Prospective Intentions and Effects. In: STEINER, Eva. Comparing the Prospective Effect of Judicial Rulings Across Jurisdictions. Londres: 2015, p. 185-201.
LIVINGSTON, Michael A.; MONATERI, Pier Giuseppe; PARISI, Francesco. The Italian Legal System: An Introduction. Califórnia: SANFOD Law Books, 2.ed, 2015.
MACCORMICK, Neil. Rethoric and the rule of law – A theory of legal reasoning. New York: Oxford University Press, 2005.
MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2015.
MARINHO, Hugo Chacra Carvalho e. A Independência Funcional dos Juízes e os Precedentes Vinculantes. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues; MACÊDO, Lucas Buril. Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 87-98.
MARINONI, Luiz Guilherme Precedentes Obrigatórios. Disponível em http://www.marinoni.adv.br/files_/Confer%C3%AAncia_IAP2.pdf. Acesso em 25 ago. 2021.
Precedentes Obrigatórios. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. São Paulo: RT, vol. 2, 2015.
; MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC: críticas e propostas. São Paulo: RT, 2010
MAZZOTTA, Francesco G. Precedents in Italian Law. Michigan State International Law Review. Michigan: Michigan State University College of Law, vol. 121, 2000.
MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: RT, 2015.
MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes: O desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
Precedentes e jurisprudência: papel, fatores e perspectivas no direito brasileiro contemporâneo. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial – volume II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 11-38.
SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Precedente e IRDR: algumas considerações. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues; MACÊDO, Lucas Buril. Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 567-590.
; SILVA, Larissa Clare Pochmann da; ALMEIDA, Marcelo Pereira de. Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado. 3.ed. Rio de Janeiro: GZ, 2016, obra no prelo.
SILVA, Larissa Clare Pochmann da; ALMEIDA, Marcelo Pereira. O Novo Código de Processo Civil Comparado. 4ª ed. Rio de Janeiro: GZ, 2018.
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 6.ed, 2011.
MERRYMAN, John Henry. The Italian Style III: Interpretation. Stanford Law Review. Califórnia: Stanford Law School, vol. 18, n. 4, 1966, p. 583-611.
MIRANDA DE OLIVEIRA, Pedro. O binômio repercussão geral e súmula vinculante: necessidade da aplicação conjunta dos dois institutos. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 675-750.
MITIDIERO, Daniel. A tutela dos direitos como fim do processo civil no Estado Constitucional. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial – volume II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 247-272.
NERY JUNIOR, Nelson; ABBOUD, Georges. Stare Decisis v. Direito Jurisprudencial. In: FREIRE, Alexandre et al. Novas Tendências do Processo Civil: Estudos sobre o Projeto do novo Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2013, vol. 1, p. 483-512.
NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015.
NOGUEIRA, Gustavo Santana. Precedentes vinculantes no direito comparado e brasileiro. Salvador: Juspodivm, 2.ed, 2013.
SARLET, Ingo W. A Eficácia do Direito Fundamental à Segurança Jurídica: Dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito Constitucional Brasileiro. Disponível em: http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15197-15198-1-PB.pdf. Acesso em 17 nov. 2014.
SCHAUER, Frederick. Precedent. Disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1836384. Acesso em 9 ago. 2021.
Thinking like a Lawyer: a New Introduction to Legal Reasoning. Cambridge: Harvard College of Law, 2009.
SCHELEDER, Adriana Fasolo Pilati. Precedentes e jurisprudência: uma distinção necessária no sistema jurídico brasileiro. Revista Eletrônica Direito e Política. Curitiba: Univali, vol. 10, p. 2079-2111.
SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Uniformização decisória nas demandas coletivizáveis: entre o common law e o civil law. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial – volume II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 705-730.
.; OLIVEIRA, Matheus Farinhas de. O Precedente na Suprema Corte Norte- Americana e no Supremo Tribunal no Brasil. In: LIZIERO, Leonam; ALENCAR, Wladimir Cerveira de. Justiça, Constituição e Sociedade. Trabalho no prelo.
STRECK, Lenio Luiz. Súmulas, Vaguezas e Ambiguidades. Direitos Fundamentais e Justiça. Porto Alegre: PUC-RS, out-dez. 2008, p. 162-185.
; ABBOUD, Georges. O que é isto - o precedente judicial e as súmulas vinculantes? 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
; ABBOUD, Georges. O NCPC e os Precedentes – Afinal, do que Estamos Falando? In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues; MACÊDO, Lucas Buril. Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 175-182.
TARUFFO, Michele. Judicial Rulings with Prospective Effect in Italy. In: STEINER, Eva. Comparing the Prospective Effect of Judicial Rulings Across Jurisdictions. Londres: Springer, 2015, p. 203-206.
. Precedent in Italy. In: HONDIUS, Ewoud (org.). Precedent and the Law: Reports to the XVIIth Congress International Academy of Comparative Law Utrecht, 16-22 July 2006. Bruxelas: Bruylant, 2007. p. 177-188.
. Precedentes e jurisprudência. Revista de Processo, São Paulo: RT, n. 199, 2010, p. 139-158.
; LA TORRE, Massimo. Precedent in Italy. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting Precedents: a Comparative Study. Aldershot: Ashgate Dartmouth, 1997, p. 141-188.
TESHEINER, José Maria. Inconstitucionalidades gritantes no artigo 927 do novo CPC. Revista Páginas de Direito, Porto Alegre, ano 15, nº 1276, 29 de setembro de 2015. Disponível em: http://www.tex.pro.br/index.php/artigos/317-artigos-set-2015/7376- inconstitucionalidades-gritantes-no-artigo-927-do-novo-cpc. Acesso em 24 ago. 2015.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2021.
; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC: Fundamentos e Sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
TORQUATO LEITE, Maria Oderlânia; FEITOSA, Gustavo Pereira Raposo. O Efeito Vinculante e o Novo Código de Processo Civil, p. 8. Disponível em http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e7d4c8d4fe04d9b4. Acesso em 25 mar. 2016.
TRALDI, Maurício. Súmula Vinculante. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Direito da PUC-SP. São Paulo: PUC-SP, 2008.
WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil 3: leis n.º 11382/2006, n.º 11417/2006, n.º 11418/2006, n.º 11341/2006, n.º 11419/2006, n.º 11441/2007 e n.º 11448/2007. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. A Vinculatividade dos Precedentes e o Ativismo Judicial – Paradoxo apenas Aparente. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues; MACÊDO, Lucas Buril. Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 263-274
. Em Direção ao Common Law? In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. O Processo em Perspectiva: Jornadas Brasileiras de Direito Processual. São Paulo: RT, 2013, p. 371-378.
. Precedentes e Evolução do Direito. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Direito Jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012, p. 11-96.
; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo. São Paulo: RT, 2015.
ZANETI JR, Hermes. O Valor Vinculante dos Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2016.
. Precedentes Normativos Formalmente Vinculantes. In: DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues; MACÊDO, Lucas Buril. Coleção Grandes Temas do Novo CPC: Precedentes. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 407- 424.
; PEREIRA, Carlos Frederico Bastos. Precedentes do novo CPC podem contribuir para sistema jurídico mais racional. Disponível em http://www.conjur.com.br/2016-abr- 16/precedentes-cpc-podem-contribuir-justica-racional. Acesso em 16 ago. 2021.
Notas

