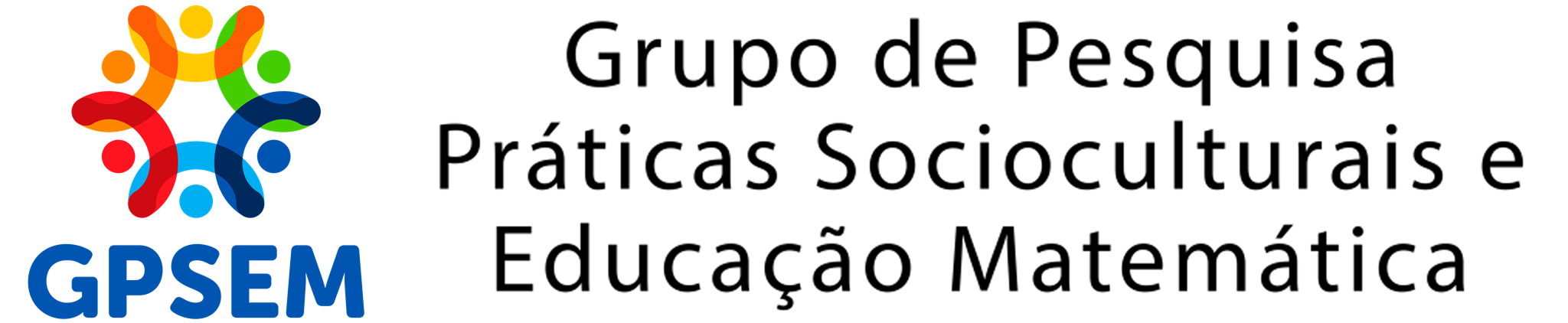

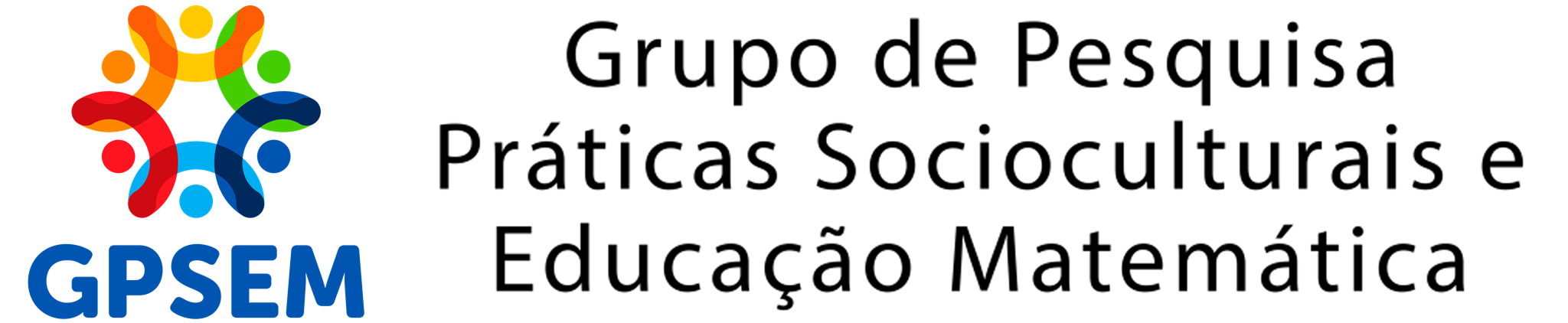

Artigos Científicos
O ensino e a aprendizagem do mapa a partir das contribuições da Teoria da Objetivação
The teaching and learning of the map based on the contributions of the Theory of Objectification
La enseñanza y aprendizaje del mapa a partir de los aportes de la Teoría de la Objetivación
Revista de Matemática, Ensino e Cultura
Grupo de Pesquisa sobre Práticas Socioculturais e Educação Matemática, Brasil
ISSN: 1980-3141
ISSN-e: 1980-3141
Periodicidade: Cuatrimestral
vol. 16, núm. 39, 2021
Recepção: 03 Agosto 2021
Aprovação: 17 Outubro 2021
Publicado: 02 Dezembro 2021

Resumo: O artigo discute processos de ensino e aprendizagem dos saberes de alguns elementos de mapa nas aulas de Geografia de um 6º ano, de uma escola pública, a partir das contribuições teórico-metodológicas da Teoria Cultural da Objetivação. O estudo epistemológico do conceito de mapa oportunizou compreendê-lo enquanto um sistema semiótico cartográfico e foi fundamental para o desenvolvimento do projeto didático. A análise dos dados revelou os modos semióticos que se destacaram nos primeiros “encontros” com o mapa, no labor conjunto entre estudantes e professores, favorecendo uma primeira movimentação da tomada de consciência de formas de pensar geográficas e cartográficas, construídas cultural e historicamente. Esse processo de tomada de consciência crítica e gradual dos conceitos, possibilitado pelo labor conjunto, converge com os processos de objetivação e subjetivação, no contexto de um projeto didático comprometido com a formação de sujeitos sociais éticos, críticos, conscientes de si e que se reconhecem no coletivo.
Palavras-chave: Mapa, Escala, Teoria da Objetivação, Geografia, Cartografia.
Abstract: The article discusses processes of teaching and learning the knowledge of some map elements in Geography classes of a 6th grade, in a public school, based on the theoretical-methodological contributions of the Cultural Theory of Objectification. The epistemological study of the concept of map provided an opportunity to understand it as a semiotic cartographic system and was fundamental for the development of the didactic project. Data analysis evidenced the semiotic modes that stood out in the first “meeting” with the map, in the joint labor between students and teachers, favoring a first movement of awareness of geographical and cartographic ways of thinking, culturally and historically constructed. This process of critical and gradual awareness of concepts, made possible by joint labor, converges with the processes of objectification and subjectification, in the context of a didactic project committed to the formation of ethical, critical and self-aware social individuals, who recognize each other in the collective.
Keywords: Map, Scale, Theory of Objectification, Geography, Cartography.
Resumen: El artículo analiza los procesos de enseñanza y aprendizaje del conocimiento de algunos elementos cartográficos en las clases de Geografía de alumnos de 11 a 12 años, en una escuela pública, a partir de los aportes teórico-metodológicos de la Teoría Cultural de la Objetivación. El estudio epistemológico del concepto de mapa brindó la oportunidad de entenderlo como un sistema cartográfico semiótico y fue fundamental para el desarrollo del proyecto didáctico. El análisis de datos reveló los modos semióticos que se destacaron en los primeros “encuentros” con el mapa, en la labor conjunta entre alumnos y docentes, favoreciendo un primer movimiento de conciencia de formas de pensar geográficas y cartográficas, construidas cultural e históricamente. Este proceso de conciencia crítica y gradual de conceptos, posibilitado por la labor conjunta, converge con los procesos de objetivación y subjetivación, en el contexto de un proyecto didáctico comprometido con la formación de sujetos sociales éticos, críticos, autoconscientes y que se reconocen en el colectivo.
Palabras clave: Mapa, Escala, Teoría de la Objetivación, Geografía, Cartografía.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
As ciências devem, de acordo com Vigotski (2012), reexaminar o papel e a importância de sua disciplina escolar no processo desenvolvimento psicointelectual geral da criança, pois cada uma delas estabelece uma relação específica com esse processo dinâmico. Para Davídov e Márkova (1987, p. 326-327), a experimentação “[...] com disciplinas escolares permite definir melhor o papel dos diferentes fatores do ensino relacionados ao desenvolvimento”. A partir dessa compreensão, justifica-se a preocupação com uma educação escolar que permita à educanda e ao educando o acesso a diferentes campos de conhecimento e, desta forma, o desenvolvimento de uma formação ampla, consistente e crítica. Os saberes geográficos inserem-se nesse contexto.
A ciência geográfica reúne, desde a década de 1970, uma produção acadêmica ampla sobre o processo de ensino e aprendizagem do mapa na disciplina escolar da Geografia. Apesar disso, Pontuschka et al. (2009)[1] apontam que uma das grandes dificuldades apresentadas por estudantes que concluem o ensino médio nas escolas públicas diz respeito à interpretação de mapas e isso sugere que, apesar dos avanços alcançados nas pesquisas, o ensino e a aprendizagem do mapa não se tratam de um assunto esgotado.
Tais constatações e a disseminação dos mapas no cotidiano dos espaços urbanos estimulam a revisitação da temática a partir de um fundamento teórico educacional e contemporâneo, a Teoria Cultural da Objetivação (TO) (RADFORD, 2006), pois possibilita uma compreensão ampla da complexidade e da diversidade dos processos de ensino e de aprendizagem como unidade e propõe uma superação de análises estritamente cognitivas.
Nesse sentido, o texto permeará os saberes relacionados ao mapa e a alguns elementos cartográficos, como a visão vertical, o título e a escala enquanto objetos do processo de ensino e de aprendizagem no 6º ano do ensino fundamental na disciplina escolar de Geografia, a partir de alguns resultados alcançados em uma pesquisa de mestrado que buscou responder ao seguinte questionamento: “Como o processo de aprendizagem do mapa e de alguns de seus elementos cartográficos na disciplina de Geografia, no 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública, contribui com o desenvolvimento de estudantes com vistas a uma análise crítica da realidade e a valorização de uma ética comunitária?” (CASTILHO, 2019).
Importante ressaltar que o saber relacionado ao elemento cartográfico escala nesta etapa do ensino envolve ênfase na noção de proporção, objeto de conhecimento também da Matemática. Vale lembrar que Reclus (2014) destacou a urgência de mudanças no método de ensino e a importância de reformas da educação geográfica, matemática e física a fim de proporcionar uma sólida instrução em Geografia.
Para trazer a análise dos processos de ensino e aprendizagem, fundamentados na TO, na Geografia e na Cartografia, inicialmente, o mapa ocidental será contextualizado teoricamente desde seu surgimento enquanto resposta a necessidades colocadas histórica, cultural e socialmente até sua constituição enquanto um sistema semiótico cartográfico, um saber importante para a ciência geográfica e para a disciplina escolar da Geografia. Em seguida, o primeiro “encontro” com esses saberes será objeto de análise, uma vez que eles devem se transformar em conhecimento para que todas e todos estudantes possam compreender e atuar criticamente e com liberdade no espaço em que se inserem.
REFERENCIAL TEÓRICO
Teoria Cultural da Objetivação
A Teoria Cultural da Objetivação (TO), desenvolvida pelo professor e pesquisador Luis Radford, corresponde a uma teoria educacional contemporânea que traz uma abordagem cultural e semiótica. Embora tenha origem na educação matemática, é proposta como geral para a Educação ao possibilitar avanços na compreensão dos processos de ensino e de aprendizagem fundamentada na Psicologia Histórico-Cultural (Vigotski e Leontiev), na Antropologia, na Semiótica e na Filosofia (Marx, Hegel e Ilyenkov). A sustentação da teoria em diferentes áreas do conhecimento permite a Radford (2006) valorizar princípios e respeitar a diversidade cultural existente no planeta. No seu entendimento, culturas e saberes se relacionam dialeticamente, bem como ligam-se de modo íntimo ao contexto social, político, cultural e histórico. A cultura oferece as condições para que os indivíduos criem diferentes sistemas de pensamento, como por exemplo o pensamento científico, bem como para que os indivíduos se recriem a partir dos sistemas criados (RADFORD, 2014).
O pensamento se constitui como um elemento fundamental da TO dada sua natureza reflexiva e sua dimensão antropológica. Para Radford (2006), o pensamento se refere a um pensar que supera o plano cerebral e atinge o social, no chamado território do artefato. Sua natureza reflexiva envolve um “[...] movimento dialético entre uma realidade constituída histórica e culturalmente e um indivíduo que a refrata e a modifica segundo as interpretações e sentido subjetivos próprios” (RADFORD, 2006, p. 108, tradução nossa).
É importante ressaltar que a mediação semiótica do pensamento na TO ocorre com os artefatos culturais (objetos, instrumentos, sistemas de signos etc.), o corpo (a percepção, os gestos, movimentos etc.), a linguagem, os signos e outros (RADFORD, 2006). Dessa maneira, compreende-se que as ações, os objetos e as reflexões de toda uma sociedade estão baseados na história e na cultura. Isso significa que, para Radford (2014), existe uma dimensão simbólica que transcende e oferece um significado cultural específico, resultado de processos de trabalho que diferenciam uma cultura da outra sem a intenção de hierarquizá-las. Surge assim, o conceito mais complexo e de maior movimentação da TO, o conceito de Sistemas Semióticos de Significação Cultural.
Se os processos de trabalho, históricos e culturais, bem como as trocas ocorrem nas práticas sociais, é no movimento da atividade humana que se constroem e se revelam as relações, bem como é somente nela em que é possível aprofundar a compreensão dos processos. Logo, para refletir e compreender os processos de ensino e de aprendizagem, é necessário analisar o encontro que se concretiza na atividade desenvolvida na comunidade de aprendizagem entre estudantes e a/o professor(a), no labor conjunto (RADFORD, 2006).
Para analisar esse “encontro”, Radford (2017) desenvolve os conceitos dos processos de objetivação e de subjetivação. Afirma que os processos de objetivação são processos sociais de tornar-se progressiva e criticamente consciente de um saber, uma forma codificada de pensamento e de ação que se constitui como potencialidade, adquire significado e se torna conhecimento. Se essa produção coletiva de conhecimento se der a partir de uma ética comunitária, com modos de colaboração de natureza não utilitária e não egocêntrica, o labor conjunto poderá promover postura crítica, solidariedade, responsabilidade e cuidado com o outro, num processo de subjetivação, o qual o aprender torna os sujeitos humanos em seres diferentes, complexos e integrais com potencialidades para transformar o mundo e os próprios indivíduos que o habitam (RADFORD, 2017). Assim, o pesquisador defende a premissa de que a atividade pode transformar continuamente as/os estudantes em sua dimensão do ser social (RADFORD 2015) e considera o aprender como um encontro contínuo e tenso de transformação dialética mútua entre modos culturais de refletir e atuar e uma consciência (indivíduos) que trata de percebê-los (RADFORD, 2017).
Neste texto, para apresentar a análise dos processos de objetivação e de subjetivação do conceito de mapa num estudo de caso com um 6º ano do ensino fundamental, parte-se do entendimento de que o mapa ocidental se constitui como um sistema semiótico, cujo significado resulta de processos sociais e históricos, fundamentado no conceito de Sistemas Semióticos de Significação Cultural da TO.
O mapa enquanto um sistema semiótico cartográfico
O ser humano teve a necessidade de representar o espaço para se movimentar, armazenar conhecimento da área, facilitar a localização de um ponto e demarcar territórios mais favoráveis à caça e à coleta de frutos desde o período pré-histórico (FONSECA, 2004). Essas necessidades estão ligadas ao saber “se localizar” e “se reconhecer” que, de acordo com Claval (2014), são saberes considerados não científicos e indispensáveis a vida na Terra que foram tratados cientificamente pela Geografia. Vale ressaltar que as questões que envolvem a localização, a orientação e a percepção da paisagem não são universais, são influenciados dialeticamente pelas condições físicas, históricas e culturais de uma determinada região.
Para se localizar e se orientar no espaço é necessário descrever o entorno. Isso envolve percepção e entendimento da distribuição e das relações estabelecidas na paisagem[2], relações percebidas apenas depois de uma ordenação do que está no entorno e a transferência das observações a um documento específico, o mapa (CLAVAL, 2014).
O registro de algo relacionado à paisagem, desde as primeiras representações, objetivou uma melhor compreensão e o armazenamento de uma informação. Joly (1990) destaca que os seres humanos sempre procuraram conservar a memória dos lugares e dos caminhos úteis às suas ocupações, para isso aprenderam a gravar em placas de argila, madeira e metal, bem como a desenhar nos tecidos, nos papiros e nos pergaminhos. Para Fonseca e Oliva (2013), traçar mapas responde a uma necessidade de explicitar a ordem das coisas e do mundo, sendo esta uma necessidade intrínseca à condição humana. Trata-se de um instrumento que essencialmente tem o papel de comunicar algo.
É importante ressaltar que o batismo do terreno, no sentido de dar nome a um lugar, foi fundamental para a coletivização do saber (CLAVAL, 2014). A nomeação e o domínio da escrita apontam a relevância da linguagem para a sistematização do uso do mapa e para a memória objetiva.
Ao representar e comunicar informações, os mapas sempre materializaram uma construção social do mundo. De acordo com Dreyer-Eimbcke (1992), os mapas tiveram muita influência subjetiva e se tornaram realmente objetivos a partir do momento que a tecnologia aperfeiçoou seus métodos de elaboração. O sensoriamento remoto, o cálculo eletrônico e a cartografia computadorizada se constituíram importantes meios modernos utilizados pelos cartógrafos para desenvolver a cartografia temática, expressão gráfica da geografia científica (JOLY, 1990).
Embora as principais vantagens da automação tenham sido a rapidez na produção e a divulgação de documentos, a intervenção humana na cartografia foi e sempre será necessária, pois o ser humano é capaz de inventar, discernir voluntariamente, intuir e tem uma imaginação criadora insubstituível, qualidades imprescindíveis ao desenvolvimento científico (JOLY, 1990).
O surgimento de novas necessidades, especialmente para controle de uma área, a prática política, novos discursos geográficos e outros passaram a exigir padronização, universalidade e rigor nas representações (LACOSTE, 1998). Além disso, “[...] a partir do século XVII, as necessidades da guerra e da administração exigiram mapas mais detalhados e de maior escala” (JOLY, 1990, p. 32).
[...] a finalidade mais marcante em toda a história dos mapas, desde o seu início, teria sido a de estarem sempre voltados à prática, principalmente a serviço da dominação, do poder. Sempre registraram o que mais interessava a uma minoria, fato este que acabou estimulando incessante aperfeiçoamento deles (MARTINELLI, 2016, p. 8).
Com o passar do tempo e do avanço científico e tecnológico, os mapas passaram a apresentar uma realidade cada vez mais precisa e uma linguagem cada vez mais técnica, a ponto de existir uma padronização da representação de elementos cartográficos como legenda, escala, orientação e título, por exemplo, para que a representação fosse considerada de fato um mapa, diferenciando-o de croqui, imagem e outros.
Joly (1990) afirma que a diferença entre os esboços e os que ele chama de “verdadeiros mapas” se baseiam numa rede geométrica e matematicamente segura, construída pelos gregos. Eles inventaram sistemas de projeção, fundaram uma cartografia racional, sem influência religiosa e das mistificações comerciais e desenvolveram as referências da geografia científica (JOLY,1990). A orientação e a localização, por exemplo, estão fundadas em referências astronômicas e se constituem um sistema de coordenadas universalmente válido cuja gênese e a consolidação demandaram mais de vinte séculos (CLAVAL, 2014)[3].
Para o pensamento ocidental, Martinelli (2016) explica que o grande avanço da Cartografia ocorreu a partir do Renascimento[4] quando navegantes, comerciantes e colonizadores buscavam mapas que representassem o mundo cada vez mais corretos, estes por sua vez, “[...] confirmaram-se como armas do imperialismo [...]” (MARTINELLI, 2016, p. 9).
O destaque para a função instrumental do mapa permite reconhecer a multiplicidade de seus usos. Para além de um instrumento, é possível compreendê-lo como um signo, dada sua potencialidade de reorganização do pensamento, principalmente espacial. Os mapas e os gráficos libertam a necessidade do contato direto com a realidade para seu entendimento, e permitem leituras do mundo ao ampliar a capacidade de ler e entender o espaço (PASSINI, 2012).
Essa possibilidade torna significativa e inquestionável a relação histórica entre o mapa e a Geografia. Trata-se de uma relação que sempre foi bastante significativa. Oliveira (1977) aponta que representar os fenômenos estudados sempre foi uma necessidade histórica básica dessa ciência e os progressos científicos e tecnológicos da ciência geográfica e da Cartografia se influenciam reciprocamente.
A Cartografia, segundo Simielli (2010), sofreu várias transformações quanto à concepção, área de abrangência, competência e evolução tecnológica. A pesquisadora explica que para entender a linguagem cartográfica é importante conhecer a semiótica, ciência de todas as linguagens, primordialmente dos signos.
Nesse sentido, para além de um conjunto de técnicas, a Cartografia deve ser tratada como uma linguagem, um instrumento para construção de saberes geográficos que permite compreender, apreender, expressar e comunicar a espacialidade dos fenômenos, importante para o raciocínio geográfico. Há, então, uma importante relação entre a produção do saber geográfico e a representação cartográfica, de modo que o mapa materializa uma interpretação científica do espaço, é um meio de comunicação e tem uma linguagem. Com a palavra e o símbolo, “(...) o mapa registra, expressa e possibilita uma leitura mais ampla e contextualizada do espaço geográfico” (RICHTER, 2011, p. 96). A análise desse espaço geográfico passa a ser considerado o segundo grande objetivo da cartografia no decorrer do século XX (JOLY, 1990).
Para Fonseca e Oliva (2013), os mapas são construções feitas a partir de uma ou de várias escolhas
O mapa é uma construção gráfica e social de visões do mundo em diversas escalas e modalidades. Longe de servir apenas como uma simples imagem da natureza, que pode ser verdadeira e falsa, os mapas descrevem o mundo recriando-o, do mesmo modo que outras elaborações humanas científicas ou culturais em geral o fazem. Nessa recriação, contam as relações e práticas de poder, preferências e prioridades culturais que compõem, por exemplo, as cosmogonias. O que vemos num mapa está relacionado ao mundo social e suas ideologias como qualquer um dos fenômenos vistos e medidos na sociedade e no espaço (FONSECA; OLIVA, 2013, p. 60).
A aproximação do mundo social e cultural na comunicação feita com e através do mapa, como indicaram os pesquisadores na citação acima, incentiva pensar o mapa enquanto um Sistema Semiótico de Significação Cultural. Esse conceito permite compreender a dimensão simbólica das culturas, ou seja, a ação concreta e material emerge um mundo de ideias e um mundo simbólico na produção e reprodução da vida (RADFORD, 2014). O fato de compreender o mapa ocidental enquanto um sistema semiótico cartográfico, consistiu em reconhecer que se trata também de um artefato cultural, um saber resultante de uma forma de pensamento produzido histórico e culturalmente sobre o espaço e sua representação, logo permite uma determinada compreensão dos fenômenos. Esse entendimento se fundamenta em Radford (2006; 2007; 2014; 2017) que demonstra preocupação em contextualizar o artefato sem hierarquizar sua importância perante as outras culturas existentes no mundo.
Radford (2006) afirma que a mediação semiótica do pensamento em relação ao mundo ocorre através da forma e do modo de atividade dos indivíduos, com os artefatos (objetos, instrumentos, sistemas de signos, etc.), a linguagem, o corpo e outros. Isso significa que a maneira como pensamos e conhecemos está envolvida por significados culturais (concepções que envolvem natureza, modo de existência, relação com o mundo e outros) que atuam como enlaces mediadores entre a consciência individual e a realidade cultural objetiva. Trata-se da dimensão antropológica da TO.
Ao enfocar o mapa como um artefato que materializa um sistema semiótico cartográfico, o percebemos como um instrumento para uma prática, um conceito e um signo ao permitir com e por meio dele, compreender e pensar geograficamente sobre o espaço, a paisagem, o território ou o lugar.
A cartografia no ensino de Geografia
A histórica relação entre a linguagem cartográfica e a Geografia permite considerar a Cartografia imprescindível ao ensino de Geografia. Para Katuta (2002), a Cartografia corresponde a uma das coordenadas semióticas de linguagem potenciais para sistematizar as geografias discentes, ao proporcionar sujeitos que se tornem enunciadores de saberes acerca do espaço que (re)produzem.
Influenciada pela concepção de mapa enquanto uma linguagem, Fonseca (2004) destaca diferentes funções da linguagem cartográfica. A função de comunicar algo através de uma linguagem que lhe é específica foi considerada na pesquisa (CASTILHO, 2019) como função principal do mapa e essencial para iniciar o trabalho de alfabetização cartográfica com estudantes do 6º ano do ensino fundamental, pois, quem deseja comunicar algo através do mapa deve, primeiramente, conhecer essa linguagem. Do mesmo modo, esse conhecimento é deveras importante para aquele que visa ler e compreender um mapa.
A partir de uma relação dialética dialógica, a concepção da linguagem cartográfica é compreendida como mediadora do real representado, tendo como conteúdo o compromisso com a totalidade, a história e a prevalência do social que representa. Logo, o mapa pode levar pessoas a um permanente processo comunicativo, representa o conhecimento do homem, ser histórico e social e toda a metodologia de ensino da linguagem cartográfica “[...] se baseia no diálogo, supõe o outro e necessita de interação” (FRANCISCHETT, 2011, p. 144).
Importante ressaltar que os elementos básicos de uma representação cartográfica, ou seja, de um mapa, envolvem a visão vertical, oblíqua e horizontal, o desenho pictórico ou abstrato, a noção de proporção, legenda, as referências e o título (SIMIELLI, 2006). Alguns desses elementos, coincidem com as noções cartográficas (proporção, legenda, visão vertical e oblíqua, escala, área, ponto, linha, bem como imagem bidimensional e tridimensional) fundamentais para o raciocínio espacial das/ dos estudantes de acordo com Castellar e Vilhena (2011).
Concorda-se com Macedo (2015) quando afirma que o ensino de Geografia não pode omitir o ensino dos principais elementos cartográficos e destaca que o mapa, enquanto um componente de processos simbólicos, tem potencial para contribuir com a aprendizagem de conceitos geográficos a partir de um trabalho intencional da/do professor(a). Atualmente, o mundo está repleto de tecnologias digitais e muitos outros equipamentos contém essa linguagem. Logo, um amplo e sólido conhecimento dos elementos cartográficos permite maior liberdade de ser e estar no mundo (MACEDO, 2015).
Para este texto é importante ressaltar que a visão vertical se configura como a perspectiva que não negligencia nenhuma parcela do espaço e exige um grau de abstração elevado sendo considerada uma dificuldade para as/os estudantes. Em relação ao título do mapa, trata-se do elemento que apresenta ao leitor o assunto que será tratado no mapa e deve responder as perguntas “o quê?”, “onde?” e “quando?”, especialmente nos mapas temáticos (MARTINELLI, 2016). O elemento cartográfico que envolve as referências é a orientação representada no mapa pela rosa dos ventos e também envolve o saber relacionado às coordenadas geográficas, pois para que o indivíduo consiga se orientar e se localizar, ele deve ordenar o que vê a partir de pontos de orientação e/ou referência (CLAVAL, 2014).
No que diz respeito ao elemento cartográfico que envolve a escala destaca-se que foi o objeto de análise mais aprofundado dos processos de objetivação e subjetivação na pesquisa (ver Castilho, 2019). Neste trabalho será discutido o primeiro momento de encontro com esse saber, bem como com a noção de visão vertical, de orientação e o título na comunidade de aprendizagem.
Há um consenso de que a proporção e a escala são saberes fundamentais para a compreensão de um mapa. O entendimento do conceito de escala depende da uma noção de proporção solidificada. Essa noção está prevista nas disciplinas de Matemática e Geografia do ensino fundamental na Prefeitura Municipal de São Paulo (SÃO PAULO, 2018).
Na gênese da noção de escala, Le Sann (2010) afirma que a definição de escala como proporção entre uma distância real e o comprimento de sua representação gráfica revela correlação conceitual da relação de proporção e de dimensão. “A noção de escala tem um altíssimo nível de abstração apesar da aparente simplicidade” (p. 116). A noção da “relação de proporção” estrutura-se nos conceitos de representação, relação, relação quantificada, proporção e, finalmente, escala.
Em 1990, Joly (1990) afirma que a escala de um mapa não é apenas uma simples relação de redução, mas um meio de enfocar um estudo conforme diversas ordens de grandeza. Castro (2006) contribui com a discussão sobre a escala, ao mesmo tempo que afirma ser um assunto marginalizado na Geografia. Destaca a necessidade de uma conceituação da escala geográfica, reconhecendo sua diferença em relação à escala cartográfica. Embora Castro (2006) reconheça essa diferença, não nega a importância da escala cartográfica, da proporção para mensurar e entende que a complexidade do espaço geográfico exige maior nível de abstração. Logo, problematiza a escala a partir de uma abordagem geográfica da realidade, como estratégia de aproximação do real.
Para o processo de aprendizagem do conceito de escala, Castellar e Vilhena (2011) destacam a relevância de diferentes situações que levam as crianças a compararem e utilizarem a memória para representar trajetos e plantas. Assim, é possível contribuir com o alcance cada vez maior da noção de continuidade, proporcionalidade, área e linha, bem como a quantificação, a classificação e a hierarquização de fenômenos.
Ao considerar a análise epistemológica do processo de constituição do mapa desde uma necessidade até um sistema semiótico cartográfico, bem como a reflexão acerca do lugar que o mapa ocupa na Geografia e no processo de ensino e de aprendizagem de Geografia, justifica-se a relevância da pesquisa que foi desenvolvida com o principal objetivo de analisar os processos de subjetivação e objetivação (RADFORD, 2006) dos conceitos que envolvem o mapa e alguns de seus elementos cartográficos em estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública na cidade de São Paulo a partir das contribuições da TO.
METODOLOGIA
Orientação metodológica da TO
Radford e Sabena (2015) afirmam que na TO o método, em uma abordagem semiótica vigotskiana, está enraizado em princípios teóricos que transmitem visões de mundo, se constitui de uma prática reflexiva e filosófica e corresponde a um elemento central da investigação científica. Em síntese, a teoria se fundamenta no processo em movimento e não apenas no resultado. As pesquisas desenvolvidas com as lentes desta teoria visam explicar e investigar o fenômeno educacional de ensino e aprendizagem, muito mais do que apenas descrever. Logo, de acordo com Radford e Sabena (2015), os fenômenos são compreendidos no âmbito das ciências sociais e seus resultados, as afirmações gerais, podem guiar ações adicionais futuras que ao projetá-las podem alterar e transformar os modos como ocorrem o ensino e a aprendizagem.
Radford (2015) realiza um “experimento científico” para que o objeto investigado, os processos de objetivação, seja analisado. Afirma que a unidade metodológica de análise nessa teoria é a atividade de sala de aula, um sistema que contribui para a satisfação de necessidades coletivas e que operam dentro de uma divisão específica do trabalho.
Um dos grandes méritos da TO é o detalhamento da metodologia, que explicita desde o planejamento de atividades em sala de aula, com a análise epistemológica do conteúdo a ser ensinado, a definição das tarefas, do objeto e do objeto da atividade; o desenvolvimento da atividade na sala de aula; o registro fotográfico e em vídeo da atividade para a coleta, o processamento e o armazenamento de dados; e a análise do processo de objetivação e de subjetivação das/dos estudantes.
Durante o desenvolvimento da atividade em sala de aula, Radford (2018) orienta que se oportunize e se valorize uma postura ativa das/dos estudantes no processo de ensino e de aprendizagem, pois o modelo transmissivo de ensino é alienante. Em relação à/ao professor(a), destaca a importância da circulação entre os grupos para a discussão e a contribuição no intercâmbio das soluções pensadas com as/os estudantes. Ressalta que, nos momentos de socialização e discussão geral, há possibilidades de compreensão do outro cognitivamente de maneira cuidadosa e respeitosa (RADFORD, 2006).
Para que o pesquisador analise a aprendizagem, Radford (2006) propõe que todo o experimento científico seja fotografado e filmado para posterior análise. Após filmagem, o pesquisador assiste, seleciona e transcreve passagens importantes do experimento, os chamados segmentos salientes que “[..] remetem a passagens que parecem conter as evidências de aprendizagem procuradas” (RADFORD, 2015, p. 561), ou seja, os meios semióticos de objetivação (gestos, linguagens, símbolos) para a análise conjunta dos relatos, dos argumentos e avaliações das/ dos estudantes que permitam compreensões dos momentos de objetivação e subjetivação desenvolvidos na comunidade de aprendizagem.
Em consonância com essas contribuições metodológicas da TO, um experimento didático-formativo foi desenvolvido na pesquisa. A primeira etapa do experimento consistiu no planejamento do projeto didático descrito no próximo item. Esse planejamento foi precedido de uma análise epistemológica do conceito de mapa, apresentada no tópico “O mapa enquanto um sistema semiótico cartográfico” e da interação em sala de aula que, de acordo com Artigue (1988) apud Radford (2015), deve ser feita anteriormente. Nesse momento, foi identificada a potencialidade de se objetivar conhecimentos em níveis profundos relacionados ao mapa e o pensar geográfico ao desenvolver uma linha conceitual com problemas de crescente complexidade, como recomenda Radford (2015).
Projeto didático sobre o mapa: o despertar dos elementos cartográficos
Durante a elaboração do projeto didático sobre o mapa para um estudo de caso com uma sala de 6º ano do ensino fundamental de uma escola pública na cidade de São Paulo, a pesquisadora, que era também professora regente da turma, seguiu os seguintes princípios orientadores do planejamento e organização das tarefas: buscou criar condições especiais e tarefas que motivassem as/os estudantes e os colocassem dentro de uma situação conflituosa que dificultasse a realização automática e os incentivasse a buscar soluções, principalmente com a utilização de meios externos, como mapas temáticos e outros.
Essa situação conflituosa esteve baseada em necessidades históricas vivenciadas pela sociedade como as necessidades ligadas ao movimento, ao armazenamento do conhecimento da área, à localização de um ponto ou a demarcação de um território, como destaca Fonseca (2004). Além disso, os conceitos trabalhados durante o projeto didático envolveram tarefas que visavam a formação, especialmente, de um leitor crítico de mapas, que pensa geograficamente. Em consonância com esse entendimento, após a análise epistemológica do conceito de mapa e as contribuições de Moura[5] (2017) que destaca o estudo prévio do movimento lógico-histórico do conceito, uma situação desencadeadora de aprendizagem sobre o mapa foi desenvolvida para a primeira fase do experimento didático-formativo que totalizou seis tarefas na pesquisa.
A primeira fase do projeto didático teve por objetivo a conscientização, o entendimento e o desencadeamento do processo de constituição do mapa e dos elementos cartográficos como o conhecemos atualmente. Na gênese do mapa destaca-se a necessidade de representar o espaço e comunicar uma informação. Fundamentados nessa concepção, foi proposta uma situação desencadeadora de aprendizagem utilizando um layout da rede social Facebook para atrair a atenção das/dos estudantes. Para solucionar o problema, as/os estudantes deveriam elaborar uma representação do esconderijo de um tesouro dentro da escola para o Notielc ZICA que não conhecia o interior da escola (Figura 1):

No momento em que as/os estudantes foram incentivadas/os a representar a escola sem usar palavras, foram inseridos num conflito parecido com o vivido pela sociedade quando representou um espaço pela primeira vez, antes da escrita. Dessa maneira, a primeira tarefa de representação foi feita individualmente e a segunda tarefa envolveu a troca das representações entre as/os estudantes para leitura e compreensão. Na terceira tarefa foram convidados coletivamente a ler e compreender o esconderijo do tesouro numa planta baixa da escola oferecida pela professora. A quarta tarefa de representação coletiva do esconderijo do tesouro na escola, após a reflexão da representação individual e do contato com a planta baixa, foi feita em pequenos grupos de quatro ou cinco estudantes. Na quinta tarefa, foi proposto um segundo momento de troca das representações, desta vez entre os grupos. Na sexta e última tarefa, a professora encorajou e estimulou uma discussão geral sobre a leitura e compreensão da representação do outro grupo, bem como sobre as dificuldades de representação coletiva.
A resolução da tarefa exigiu que as/os estudantes representassem uma área conhecida e comunicassem algo que desse possibilidade para uma pessoa que não conhecesse o espaço encontrasse o esconderijo. O desafio de representar o espaço escolar mobilizou a memória voluntária desse espaço e a organização das ideias, ou seja, a escolha do que e como fariam isso. Logo, vivenciaram na prática o interesse e a postura ativa do mapeador.
No que diz respeito às leituras e compreensões da planta baixa da escola e da produção do outro colega ou grupo, esta última proporcionada pelas trocas, tinham como hipóteses que o contato com a planta baixa da escola influenciaria uma nova representação das/dos estudantes. As dificuldades que envolveriam a compreensão das representações, bem como o debate e as reflexões surgidas desta tarefa e na tarefa de discussão geral deveriam se configurar como momentos ricos do despertar da necessidade de alguns elementos cartográficos[6] pelas/pelos estudantes num trabalho coletivo com a professora.
ANÁLISES E RESULTADOS
A escola, para Moreira (2007, p. 118), é um dos “[...] ambientes que formam o mundo vivo da geografia” e o labor conjunto (RADFORD, 2006) verificado na sala de aula, na comunidade de aprendizagem, possibilitou a análise do “encontro” com o saber relacionado ao mapa entre as/os estudantes e a professora.
A tarefa de representar no papel o esconderijo de um tesouro na escola sem usar palavras gerou conflito, tensão, dúvidas e angústia entre as/os estudantes como por exemplo, “devemos fazer um desenho?” ou “um mapa?” Após serem encorajados pela professora, estiveram animadas/os com a possibilidade do personagem da publicação existir. Vale destacar que a ação de representar contribui com o pensar sobre o espaço, pois
Desde criança, o indivíduo representa aspectos de sua realidade. Por meio de gestos, fala ou grafia, mesmo em tenra idade, evoca uma ação realizada por ele mesmo ou que apenas presenciou. Ele substituirá a ação pela representação, o que lhe permitirá, mais tarde, raciocinar sobre o espaço que está expresso no mapa (MARTINELLI, 2006, p. 54-55).
Essa primeira etapa da tarefa de representação do esconderijo da escola foi produzida pelas/pelos estudantes individualmente a fim de sondar como resolveriam o desafio, bem como se compreendiam e como compreendiam um mapa. Neste momento, não houve associação da representação com os elementos cartográficos, apesar de muitos denominarem sua representação como mapa.
Na tarefa seguinte de troca das representações, as/os estudantes deveriam identificar o esconderijo e avaliar se a representação permitiria que qualquer pessoa chegasse ao esconderijo mesmo que não conhecesse a escola. Neste momento, a preocupação foi que as/os estudantes compreendessem a função comunicativa de uma representação gráfica, função básica de um mapa. Muitos tiveram dificuldade para compreender de maneira geral a representação do colega. Logo, foi possível notar que a tarefa foi suficientemente complexa, como devem ser as tarefas propostas de acordo com Radford (2006), no sentido de favorecer o surgimento de diferentes formas de pensar e representar o espaço.
Enquanto o processo de compreensão da representação, primeiro individual e depois coletivamente, gerou confusão e dúvidas, as/os estudantes foram levados a refletir e debater sobre o que poderia ser feito para que isso não acontecesse. Assim verbalizaram e/ou registraram problemas que seriam resolvidos com alguns dos elementos cartográficos no mapa, e iniciaram um processo de tomada de consciência da função comunicativa do mapa e das necessidades dos elementos cartográficos (ver quadro 1).
Durante a terceira tarefa, as/os estudantes leram e compreenderam a representação do esconderijo da escola a partir de uma planta baixa da escola oferecida pela professora. Neste momento, as/os estudantes acessaram uma representação completa da escola que possibilitou uma outra organização do pensamento, da compreensão e da percepção do espaço escolar. Confirmou-se, assim, o primeiro papel que o mapa cumpre, de acordo com Richter (2011), o de desenvolver uma nova organização das ideias e interpretações pessoais da realidade visíveis na representação coletiva de um grupo (imagem B da figura 2). A isso atribui-se ao fato de que todos os grupos representaram a escola de maneira mais totalizadora (imagem B da figura 2) e não apenas de partes da escola, como mostra a imagem A da figura 2, o que facilitou para muitos a compreensão da representação (CASTILHO, 2019).

O segundo movimento de troca, nesta ocasião, das representações coletivas, como mostra a imagem B da figura 2, mostrou que não houve dificuldade de análise e interpretação do esconderijo pelos grupos, que pode estar relacionado ao importante papel da linguagem permitida pela identificação escrita dos espaços. As intervenções dialogadas da professora com os grupos, seguindo a orientação da circulação do professor de Radford (2006), mostrou uma tomada de consciência para alguns elementos cartográficos importantes, como a legenda, o título, a visão vertical e a representação dos detalhes em determinados grupos. Mesmo assim, todos os grupos enfrentaram problemas para a total compreensão das representações e compartilharam as dificuldades na aula proposta para a socialização e discussão geral das reflexões e das ideias (CASTILHO, 2019).

A tarefa de refletir sobre o que produziu e compartilhar as interpretações das/dos colegas durante as trocas das produções coletivas na socialização, proporcionou às/aos estudantes um repensar sobre o mapa e alguns elementos cartográficos que se configurara momentos iniciais de objetivação do conhecimento, segmentos de sínteses muito interessantes da mobilização dos saberes relacionados ao mapa na comunidade de aprendizagem.
Para a teoria da objetivação, a aprendizagem não consiste em construir ou reconstruir um conhecimento. Trata-se de dar sentido aos objetos conceituais que o aluno encontra em sua cultura. A aquisição de conhecimento é um processo de elaboração ativa de significados. É o que chamaremos, mais tarde, o processo de objetivação (RADFORD, 2006, p 113, tradução nossa).
Essa elaboração ativa de significados se mostrou evidente nas aulas destinadas à produção da representação, mas principalmente durante a socialização das dificuldades nos processos de representação e leitura na discussão geral. Esta por sua vez, proporcionou o início de uma tomada de consciência de formas de pensar cartograficamente construídas cultural e historicamente que envolvem o conceito de mapa, a importância da continuidade e dos detalhes da representação, a não neutralidade da representação, o título, a visão vertical, a escala (noção de proporção) e a noção de orientação (referências), que foram aprofundadas no decorrer do experimento didático-formativo.
No que diz respeito a não neutralidade do mapa, uma conversa entre dois estudantes e a professora foi selecionada como um segmento saliente durante a discussão geral (figura 3) que mostrou que, apesar da maioria dos grupos representarem a escola de modo mais completo, por exemplo, alguns estudantes ainda defenderam a escolha de representar apenas parte da escola, argumentando o interesse e o objetivo de sua representação.
Aluno Wagner: Se o esconderijo (pausa enquanto o estudante pensa e reformula), nós vamos desenhar pra cá, por que nós temos que desenhar pra lá?
Professora: Exatamente, quando a gente escolhe fazer uma representação, a gente decide o que é importante representar. Se a gente avalia que não é importante, a gente não representa.
Professora: Mas é a mesma questão do primeiro grupo. Precisava ter representado toda essa parte?
Aluno Milton: Não, porque o nosso objetivo era representar o lugar onde estava o tesouro, não pra fazer a escola. (CASTILHO, 2019, p. 133)
Esse trecho mostra que, para representar coletivamente o espaço, as/os estudantes pensaram, buscaram informações na memória, debateram e selecionaram as melhores para serem mapeadas. O objetivo estabelecido previamente pelo sujeito direciona a identificação, a delimitação e a representação (MACEDO, 2014). Trata-se do mapeamento. A justificativa e a defesa dessa escolha demonstraram um momento de síntese crítica importante, pois permitiu que as/os estudantes se conscientizassem conjuntamente de que não há neutralidade nas produções dos mapas e que muito depende do interesse do mapeador. Assim, concorda-se com Martinelli (2016, p. 8) quando afirma,
Os mapas, junto a qualquer cultura, sempre foram, são e serão formas de saber socialmente construído; portanto, uma forma manipulada de saber socialmente construído; portanto, uma forma manipulada do saber. São imagens carregadas de julgamentos de valor. Não há nada de inerte e passivo em seus registros (Harley, 1988, 1991; Jacob, 1992; Wood, 1992; Thrower, 1996).
O trecho da discussão geral apresentado entre os grupos e a professora mostrou que um saber colocado em movimento na atividade permite às/aos estudantes aprenderem de maneira ativa. Nesse sentido, a/o professor(a) não é a/o transmissor(a) do conhecimento, pelo contrário, como destacam Radford e Sabena (2015), atribui-se um papel diferente daquele que encontramos na maioria das outras abordagens educacionais, a/o professor(a) exerce um papel ético na comunidade de aprendizagem.
A discussão geral é outra maneira de trocar ideias e discuti-las. É outro momento em que o professor tem que iniciar a discussão em pontos que exigem maior profundidade de acordo com os padrões curriculares (RADFORD, 2006, p. 122, tradução nossa).
Outro ponto que exigiu maior debate envolveu o “título” do mapa. A combinação da fala e a interação do grupo com a professora, a partir da reflexão sobre as representações produzidas e lidas apresentadas a seguir permitiram verificar que o labor conjunto foi fundamental para a associação do assunto do mapa ao elemento cartográfico “título”, como visto no trecho do diálogo abaixo.
Professora: Todo mundo quer saber como foi a leitura e análise da planta de vocês feita pelo colega do 6º ano A. Ninguém quer saber o que vocês acharam da pessoa. Conseguiram identificar o assunto da planta?
Aluno Élio: Sim.
Aluna Sara: Depois de um monte de dica.
Professora: Por que vocês acham que eles tiveram dificuldade pra responder essa pergunta?
Aluna Sara: Pra mim, é porque ela não conhece a escola.
Aluno Élio: Sabe por quê? Porque o desenho não “ta dahora” (legal).
Professora: Onde, no mapa, tem mostrado, explicitamente, o assunto que está sendo tratado no mapa?
Grupo: Indicando com as mãos... no título.
Professora: No título. Então, se ela teve dificuldade em responder essa primeira pergunta, de qual é o assunto do mapa, com certeza ela não olhou e não sabe pra que serve o que?
Aluno Élio: A planta.
Professora: O título.
Aluna Sara: Ela nem viu, nem leu o título. (CASTILHO, 2019, p. 126).
O trecho apresentado mostrou que, ainda que as/os estudantes tivessem alguma consciência da função do elemento cartográfico “título”, quando utilizam as mãos para indicá-lo corretamente, não associaram prontamente a dificuldade das/dos colegas compreenderem o assunto da representação do grupo à visualização do título, de modo que o labor conjunto com a professora foi fundamental para esse entendimento. Durante o desenvolvimento do projeto didático, outro segmento saliente foi analisado uma vez que mostrou uma nova situação conflituosa envolvendo esse importante elemento cartográfico (ver CASTILHO, 2019).
Durante a discussão geral, outro segmento saliente se destacou. No quadro 1, o modo semiótico gestual mostra que o estudante Pedro utilizou as mãos para apontar primeiramente o percurso feito para alcançar o esconderijo com o apoio do artefato.

A verbalização do trajeto e dos pontos de referência (modo semiótico “fala”) necessitou da intervenção e questionamento da professora, o que mostra o processo de objetivação em curso. Vale ressaltar que se deslocar num espaço sempre foi uma necessidade e descrever esse percurso a outra pessoa exige que pontos de referência conhecidos entre os envolvidos sejam selecionados. Essa constatação não é natural, pelo contrário, é fruto de uma produção cultural e exige a escolha do que é importante no espaço. Trata-se de uma tomada de consciência fundamental para o processo de aprendizagem do conceito de orientação.
Em relação a visão vertical, outro elemento cartográfico importante, os modos semióticos visuais e de fala, como mostra o quadro 2, demonstram uma tomada de consciência da relevância da representação na perspectiva da visão vertical no instante em que reconhecem a visão horizontal da representação como um problema.

Outro segmento saliente se destaca na associação entre os modos semióticos visuais da e de fala no quadro 3, pois um grupo percebe e apresenta a desproporção como um dificultador para o processo de compreensão. O reconhecimento e a insatisfação quanto ao tamanho e a largura da quadra representada expressos pelo estudante Denis mostram uma relação matemática que introduziu o tema da noção de proporção na sala de aula.

Essa constatação surgiu na fala de outros grupos também. Vale destacar que a noção de proporção envolve o elemento cartográfico da escala do mapa. A professora explicou, nessa ocasião, que apesar da desproporção dificultar o entendimento, ela era compreensível em mapas mentais. Todavia, reiterou que é um tipo de problema que pode ser resolvido com a representação na escala correta (CASTILHO, 2019), pois tanto a escala numérica quanto a gráfica apresentam uma relação proporcional entre medidas do real e do representado. Vale ressaltar que outros segmentos salientes foram selecionados para analisar os processos de objetivação do conceito de escala das/dos estudantes de maneira mais detalhada e aprofundada na pesquisa (ver Castilho, 2019).
Nesta primeira fase do projeto didático foi possível perceber que o intercâmbio das soluções pensadas e das dificuldades entre as/os estudantes e a professora se mostrou um momento rico, dada a oportunidade de compreender os outros, não apenas cognitivamente, mas de maneira cuidadosa e respeitosa, como destaca Radford (2006). Esse modo de ensinar e de aprender se mostrou também diferente da aula no modelo transmissivo e alienante, a qual a/o estudante não encontra meios para se expressar (RADFORD, 2018). Assim, esses movimentos tornaram possíveis a análise dos processos de objetivação e de subjetivação na comunidade de aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho apresentado trouxe as contribuições teórico-metodológicas da TO para análise da aprendizagem de estudantes na sala de aula de Geografia, desde o planejamento da atividade pela professora até a aprendizagem das/dos estudantes, que superou o registro escrito e individual e buscou no processo e nos modos semióticos gestual, visual e de fala o movimento coletivo de tomada de consciência do mapa e dos elementos cartográficos título, visão vertical, noção de orientação e noção de escala.
No decorrer do planejamento da atividade, a análise epistemológica do conceito de mapa permitiu compreender essa representação como resultado da necessidade humana de se localizar, se movimentar no espaço e guardar um caminho ou um lugar na memória. Além disso, o mapa ocidental se destacou como um sistema semiótico cartográfico que possibilita diferente compreensão e comunicação de fenômenos geográficos. É relevante apontar que pesquisar os processos de objetivação e subjetivação em estudantes do 6º ano de uma forma de pensar e representar o espaço através do mapa ocidental como um sistema semiótico cartográfico, não significa que haja uma única possível, verdadeira e hegemônica representação do espaço.
Uma vez que se compreende a representação do espaço enquanto algo intrinsecamente ligado à cultura de um povo, reconhece-se a importância dos saberes relacionados ao mapa e aos elementos cartográficos na cultura brasileira, pois esse sistema semiótico cartográfico pode, por exemplo, permitir e facilitar um deslocamento independente ou se tornar um obstáculo, dificultando ou restringindo o que é de direito do ser humano. Além disso, o mapa proporciona outro entendimento com maior complexidade e profundidade dos fenômenos geográficos.
Não resta dúvida que esses conceitos devem ser trabalhados em sala de aula, a questão é como ser trabalhada. É esse modo de ensinar e de aprender um conteúdo ou um conceito em sala de aula que a TO problematiza e desenvolve seus princípios de participação ativa e cooperativa das/dos estudantes e da/do professor(a) para que, em labor conjunto, possam tomar consciência de formas de pensar geográficas construídas cultural e historicamente. Mais do que isso, as/os estudantes possam ser transformadas e transformados enquanto seres sociais éticos, críticos, conscientes de si e que se reconhecem num coletivo maior.
A participação ativa e cooperativa das/dos estudantes na primeira fase do projeto didático foi verificada com compromisso assumido na produção individual e coletiva do artefato pelas/pelos estudantes, bem como no respeito e na escuta durante a verbalização formulada e reformulada do pensamento a partir das reflexões impulsionadas na atividade. Logo, o labor conjunto possibilitou uma primeira movimentação da tomada de consciência crítica e gradual dos conceitos bem como dos processos de subjetivação, pois como destaca Radford (2018a), a aprendizagem é o resultado sempre parcial e em curso dos processos de objetivação.
REFERÊNCIAS
CASTELLAR, S.; VILHENA, J. Ensino de geografia. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
CASTILHO, R. C. O “encontro” com o mapa e a Geografia no sexto do ensino fundamental na escola: contribuições da Teoria Cultural da Objetivação. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de São Paulo, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Guarulhos, 2019. 209f.
CASTRO, I. E. O problema da escala. In: CASTRO, I. E.; (Orgs). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.
CLAVAL, P. Epistemologia da geografia. Florianópolis: Ed. UFSC, 2014.
DREYER-EIMBCKE, O. O Descobrimento da Terra: história e histórias da aventura cartográfica. São Paulo: Melhoramentos/ Edusp, 1992.
FONSECA, F. P.; OLIVA, J. Cartografia. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2013.
FONSECA, F. P. A inflexibilidade do espaço cartográfico, uma questão para a Geografia: análise das discussões sobre o papel da Cartografia. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de Geografia. Programa de Pós-Graduação em Geografia Física. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2004.
FRANCISCHETT, M. N. A importância do mapa no contexto escolar. In: Revista Geografia Ensino & Pesquisa, v. 15, p. 143-151, 2011.
JOLY, F. A Cartografia. Tradução Tania Pallegini. Campinas/ SP: Papirus, 1990.
LE SANN, J. G. Metodologia para introduzir a geografia no ensino fundamental. In: ALMEIDA, R. D (org). Cartografia escolar. São Paulo: Contexto, 2010, p. 95-118.
MARTINELLI, M.. Mapas da geografia e cartografia temática. São Paulo: Contexto, 2016.
MACEDO, F.G. O Lugar do Mapa no Ensino e Aprendizagem de Geografia: a questão de escala na formação de professores. Dissertação (mestrado). São Paulo: Departamento de Geografia Humana da Universidade de São Paulo, 2015.
MOREIRA, R. Conceitos, categorias e princípios lógicos para o método e o ensino da geografia. In: MOREIRA, R. Pensar e ser em geografia: ensaios de história, epistemologia e ontologia do espaço geográfico. São Paulo: Contexto, 2007, p. 105-118.
MOURA, M. O. de. A objetivação do currículo na atividade pedagógica. In: Obutchénie: Revista de Didática e Psicologia Pedagógica, Uberlândia, MG, v.1, n.1, p. 99-128, jan./jun. 2017. Disponível em: http://www.seer.ufu.br/index.php/Obutchenie/article/view/38419/21804. Acesso em 13 abr. 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.14393/OBv1n1a2017-5
OLIVEIRA, L. Estudo metodológico e Cognitivo do mapa. Tese (Livre Docência) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 1977.
PASSINI, E. Y. Alfabetização Cartográfica e a aprendizagem de Geografia. São Paulo: Cortez Editora, 2012. v. 1. p. 215
PONTUSCHKA, N. N.; PAGANELLI, T. I.; CACETE. N. H. Para ensinar e aprender Geografia. São Paulo: Cortez, 2009.
RADFORD, L. Elementos de una teoria cultural de la objetivación. In: Relime, Número Especial, 2006, p. 103-129.
RADFORD, L. Cultura e historia: dos conceptops dificiles y controversiales en aproximaciones contemporaneas en la educación matemática. In: MENDES, I. A.; FARIAS, C. A. Práticas socioculturais e educação matemática. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014, p. 49-68.
RADFORD, L. Methodological Aspects of the Theory of Objectification. In: Perspectivas da Educação Matemática, v. 8(18), 2015, p. 547-567. Disponível em: http://www.luisradford.ca/pub/2015-%20%20Radford%20PEM%20Methodology%20of%20the%20TO.pdf. Acesso em 10 mai 2019.
RADFORD, L. A teoria da objetivação e seu lugar na pesquisa sociocultural em educação matemática. In: MORETTI, V. D. & CEDRO, W. L. Educação Matemática e a teoria histórico-cultural (pp. 229-261). Campinas, São Paulo: Mercado de Letras, 2017.
RADFORD, L. Semiosis and Subjectification: The Classroom Constitution of Mathematical Subjects. In: PRESMEG, N., RADFORD, L., ROTH, M., & KADUNZ, G. (Eds), Signs of signification. Semiotics in mathematics education research. Cham, Switzerland: Springer, 2018, pp. 21-35. Disponível em: http://www.luisradford.ca/pub/2018%20-%20Radford%20Semiotics%20ICME13%20Chap2%20Semiosis%20and%20subjectification%20-%20web.pdf. Acesso em 9 maio 2019.
RADFORD, L. Algunos desafíos encontrados en la elaboración de la teoría de la objetivación. PNA, 12(2), 2018, 61-80. Disponível em: http://www.luisradford.ca/pub/2018%20-%20Radford%20PNA%20algunos%20desafios%20de%20la%20TO.pdf. Acesso em 10 mai 2019 (a).
RECLUS, É. Escritos sobre educação e geografia. Élisée Reclus, Piotr Kropotkin. Tradução Rodrigo Rosa da Silva, Guilherme Amaral e Adriano Skoda. São Paulo: Biblioteca Terra Livre, 2014.
RICHTER, D. O mapa mental no ensino de geografia: concepções e propostas para o trabalho docente. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011.
SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da Cidade: Ensino Fundamental: Geografia. São Paulo: SME/ COPED, 2017.
SIMIELLI, M. E. R. O mapa como meio de comunicação e a alfabetização cartográfica. In: ALMEIDA, R. D (Org). Cartografia escolar. São Paulo: Contexto, 2010.
VIGOTSKI, L. Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. In: VIGOTSKI, L. S. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem/ Lev Semenovich Vigotski, Alexander Romanovich Luria, Alex N. Leontiev. Tradução: Maria da Pena Villalobos. São Paulo: Ícone, 2012, p. 103-118.
Notas
Ligação alternative
https://www.rematec.net.br/index.php/rematec/article/view/24 (pdf)

