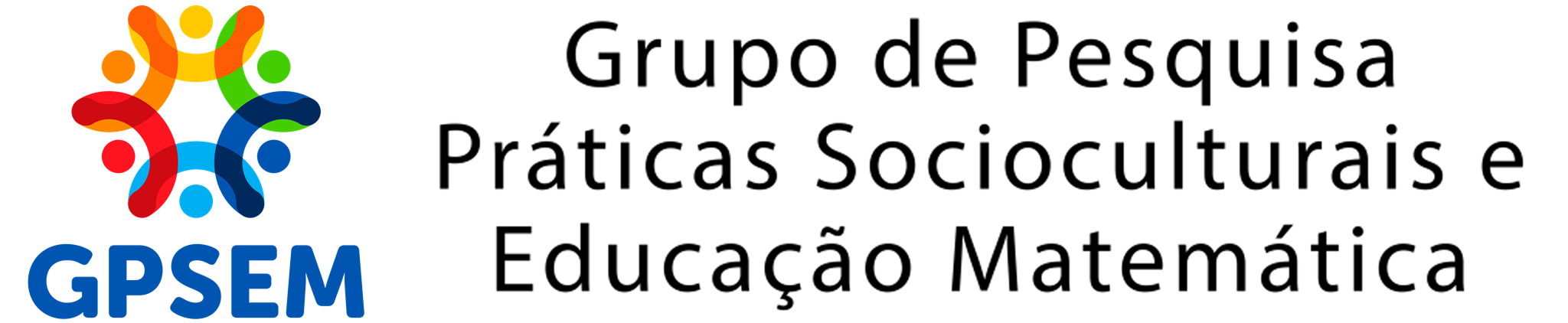

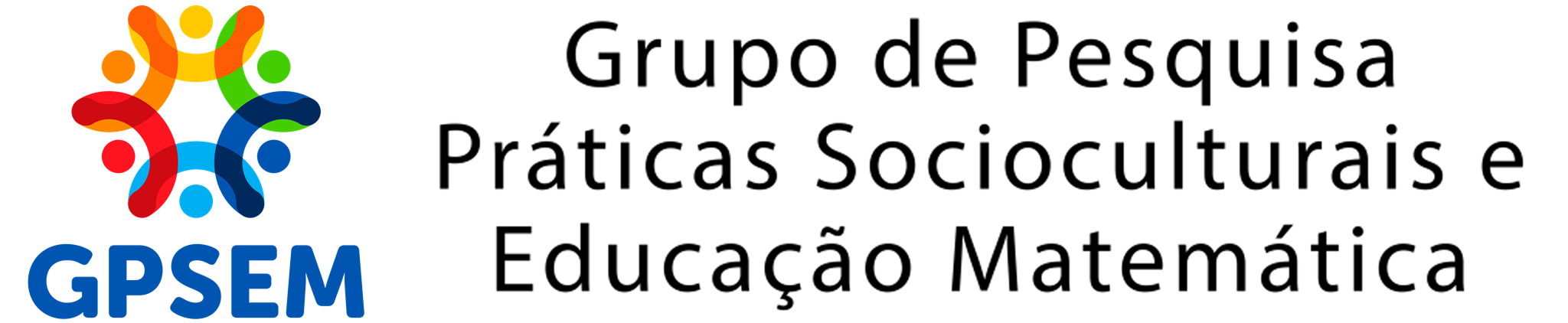

Artigos Científicos
Os meios semióticos de objetivação e o pensamento algébrico: uma análise à luz da Teoria da Objetivação
The Semiotic Means of Objectification and Algebraic Thinking: An Analysis in the Light of The Objectification Theory
Los medios semióticos de objetivación y el pensamiento algebraico: un análisis a la luz de la Teoría de la Objetivación
Revista de Matemática, Ensino e Cultura
Grupo de Pesquisa sobre Práticas Socioculturais e Educação Matemática, Brasil
ISSN: 1980-3141
ISSN-e: 1980-3141
Periodicidade: Cuatrimestral
vol. 16, núm. 39, 2021
Recepção: 04 Agosto 2021
Aprovação: 16 Outubro 2021
Publicado: 02 Dezembro 2021

Resumo: Esse artigo teve como objetivo analisar os distintos meios semióticos de objetivação mobilizados por uma aluna do 8° ano do Ensino Fundamental e, com isso, identificar as diferentes formas de pensamento algébrico que ela conseguiu mobilizar ao responder uma tarefa de generalização de padrões. Para chegar a este objetivo utilizamos como base teórica a perspectiva de pensamento algébrico fundamentada na Teoria da Objetivação (TO) que defende que o pensamento tem uma parte ideacional, que corresponde a imaginação e a fala interior, e uma parte material, referente aos gestos, desenhos, entre outros elementos que emergem durante a atividade. Esses elementos são denominados meios semióticos de objetivação e para identificá-los foi necessário gravar em vídeo todo o momento em que a aluna resolvia a tarefa proposta. A partir da análise dos dados verificamos que ela conseguiu mobilizar as três formas de pensamento algébrico definidas pela TO, são elas: factual, contextual e simbólica.
Palavras-chave: Pensamento Algébrico, Teoria da Objetivação, Álgebra Escolar, Generalização de Padrões.
Abstract: This article aims to analyze the different semiotic means of objectification used by an 8th grader student and, with this, to identify the different forms of algebraic thinking that she managed to mobilize when answering a pattern generalization task. To reach this goal, we used as a theoretical basis the perspective of algebraic thinking based on the Theory of Objectification which argues that the thought has an ideational part, which corresponds to imagination and inner speech, and the material part, referring to gestures, drawings, among other elements that emerge during the activity. These elements are called semiotic means of objectification and to identify them it was necessary to record on video every moment the student solved the proposed task. From analyzing the data, we verified that she managed to mobilize the three forms of algebraic thinking defined by OT, they are: factual, contextual, and symbolic.
Keywords: Algebraic Thinking, Theory of Objectification, School Algebra, Generalization of Patterns.
Resumen: Este articulo tuvo como objetivo analizar los distintos medios semióticos de objetivación movilizados por una alumna de 8° grado de Educación Primaria y, con esto, identificar las diferentes formas de pensamiento algebraico que ella logró movilizar al responder a una tarea de generalización de patrones. Para alcanzar este objetivo utilizamos como base teórica la perspectiva de pensamiento algebraico basada en la Teoría de Objetivación (TO) que sostiene que el pensamiento tiene una parte ideacional, que corresponde a la imaginación y el habla interior, y una parte material, que corresponde a los gestos, dibujos, entre otros elementos que emergen en la actividad. Estos elementos son nombrados medios semióticos de objetivación y para identificarlos fue necesario grabar en video todo el momento en que la alumna respondía la tarea propuesta. Con base en el análisis de los datos verificamos que ella logró movilizar las tres formas de pensamiento algebraico definidas por la TO, que son: factual, contextual y simbólica.
Palabras clave: Pensamiento Algebraico, Teoría de la Objetivación, Algebra Escolar, Generalización de Patrones.
INTRODUÇÃO
Os resultados apresentados nesse artigo fazem parte de um recorde da pesquisa de dissertação de Silva (2021), primeira autora desse trabalho, que teve por objetivo identificar as diferentes formas de pensamento algébrico que alunos dos anos finais do ensino fundamental mobilizaram ao responderem uma tarefa de generalização de padrões. Nesse texto apresentaremos os resultados de uma das estudantes investigadas, que a chamaremos de Juliana. Essa aluna estava cursando o 8° ano do Ensino fundamental quando a pesquisa foi realizada, isso ocorreu no segundo semestre de 2020.
A álgebra por muitos anos foi entendida como a utilização de letras para indicar valores (BOOTH, 1995; USISKIN, 1995), mas por volta da metade da década de 90 essa concepção começou a sofrer modificações. Educadores começaram a defender que resumir a álgebra dessa maneira seria equivalente a reduzi-la ao seu simbolismo alfanumérico que, por muitas vezes, está acompanhado de memorização de regras e procedimentos. Com isso, a partir dessa década para alguns pesquisadores a álgebra começou a ser vista como uma forma de pensar em relação às ideias matemáticas (FIORENTINI et al., 1993; LINS; GIMENEZ, 1997; KIERAN, 2007; RADFORD, 2010).
Ao observarmos uma perspectiva histórica da álgebra apresentada por Fiorentini et al. (1993) notamos que o surgimento do simbolismo alfanumérico ocorreu depois de muitos anos de estudos dessa área da matemática. A perspectiva em questão tomou como base o desenvolvimento histórico da linguagem algébrica e está vinculada a três distintos momentos que se referem à: linguagem retórica; linguagem sincopada; e linguagem simbólica.
O primeiro momento faz referência à fase da utilização da linguagem retórica verbal, correspondente à época das antigas civilizações (4000 a 3500 a.C.), como os egípcios, os babilônicos e os gregos anteriores a Diofanto de Alexandria (Século III). Segundo Fiorentini et al. (1993) e Radford (2011), alguns dos indícios que não levam a identificar o trabalho com álgebra dessas civilizações são: a utilização, pelos egípcios, do método da falsa posição para resolução de equações do primeiro grau e a utilização da geometria ingênua, pelos babilônicos, para resolução de equações do segundo grau. Essas ideias eram apresentadas por meio de uma linguagem corrente, como a escrita cuneiforme gravada nas tábuas de argila pelos Babilônicos.
A linguagem sincopada é a característica do segundo momento. Esse faz referência à época em que Diofanto começou a utilizar a palavra arithmos para indicar uma incógnita, tornando suas equações mais concisas e abreviadas. A utilização do arithmos conduziu a álgebra para um tratamento mais sistemático e global dos seus problemas (RADFORD, 2011). Esse modelo sincopado também foi utilizado por Cardano (1545) ao descrever uma equação da seguinte maneira: “cubus p. 6 rebus aequalis 20”, o que corresponde a x3 + 6x = 20.
A última fase dessa perspectiva histórica de desenvolvimento da álgebra, apresentada por Fiorentini et al. (1993), possui como característica o que eles denominam linguagem simbólica e faz referência ao momento de introdução de novos símbolos na álgebra por François Viète (1540-1603). A evolução dessa simbologia deu continuidade com os outros matemáticos, como é o exemplo de Descartes (1596-1650) que fez uso das últimas letras do alfabeto para referir-se a incógnitas e das primeiras letras para referenciar os números fixos.
Diante desses relatos históricos observamos que o desenvolvimento da linguagem simbólica alfanumérica ocorreu mediante uma sucessão de ideias que estavam relacionadas com a necessidade e o contexto social e cultural da época, ou seja, a partir do aprofundamento dos estudos da álgebra foi que surgiu a necessidade de desenvolver esse simbolismo. Esses fatos nos indicam que pode não ser interessante definir e trabalhar a álgebra dentro da sala de aula apenas com foco em sua simbologia alfanumérica, pois para chegar a ela é necessário um entendimento do que ela representa, e não apenas sua manipulação.
Mesmo com alguns estudos sendo desenvolvidos para o ensino da álgebra estar mais voltado para a mobilização do pensamento algébrico, algumas pesquisas apontam que esse ensino muitas vezes ainda é reduzido ao simbolismo alfanumérico, como aponta as investigações de Ferreira e Wagner (2010) e a de Ramos et al. (2013). A primeira pesquisa buscou identificar as crenças e concepções de uma professora de matemática no ensino fundamental e médio. Os autores notaram que a professora analisada afirmava que a álgebra corresponde ao estudo de técnicas para resolver exercícios, a definindo como prática de exercícios de memorização. Essas concepções também se fizeram presentes na pesquisa de Ramos et al. (2013) que, observando uma aula do 7° ano sobre equações do primeiro grau, constataram que a resolução de problemas muitas vezes era confundida com a resolução de exercícios fortemente voltados para a manipulação e memorização de métodos. O professor observado utilizou na aula uma sequência de atividades presentes no livro didático e elas estavam voltadas para uma concepção de álgebra como resolutiva de problemas que não favorecia a autonomia dos alunos para levantar hipóteses e estratégias.
Em paralelo a essas pesquisas algumas investigações já apontam a preocupação de alguns professores brasileiros com a expansão do ensino da álgebra para além de regras e procedimentos. As investigações de Pereira e Pires (2010) e Mazaro e Pires (2010) indicam que esse ensino não deve ser reduzido ao seu simbolismo, mas, sim, deve estar voltado para o desenvolvimento do pensamento algébrico dos estudantes, de modo que eles consigam perceber regularidades, estabelecer relações entre variáveis, entre outros. Para isso as autoras defendem a necessidade de atividades que desafiem os alunos, que os levem a descobertas e reflexões, sendo ativos no processo de resolução.
Analisando outras pesquisas brasileiras percebemos que alguns educadores e pesquisadores já entenderam a álgebra como um pensamento que é representado por meio de diversas linguagens, como mostra a pesquisa de Bredariol e Nacarato (2013), que teve por objetivo analisar os raciocínios de estudantes do 6° ao 8° ano ao responderem uma tarefa com padrões. Os alunos trabalharam em grupos de 4 componentes, assim como socializaram suas ideias para toda a turma. Em suas conclusões os pesquisadores ressaltaram a importância da interação social, da linguagem e do desenvolvimento humano para a mobilização do pensamento algébrico e o uso da linguagem, tanto a falada quanto a escrita, como forma de expressão desse pensamento.
Rodrigues et al. (2013) buscaram identificar os tipos de pensamento algébrico, com base na definição de Blanton e Kaput (2005), que os alunos do 6° ano do ensino fundamental mobilizavam ao responderem três tarefas matemáticas envolvendo padrões. Foram analisadas as produções escritas e a fala dos alunos, e os autores concluíram que mesmo sem utilizar a linguagem simbólica alfanumérica os estudantes mobilizaram alguma forma de pensar algebricamente, expressando as ideias algébricas de diferentes formas.
A pesquisa de Pereira (2019) investigou os modos de produção de significação do pensamento algébrico que os alunos do 7° ano produziam ao responderem tarefas com sequências figurativas ou numéricas. Podemos observar que as investigações relatadas anteriormente afirmam que a linguagem escrita e oral são expressões do pensamento e Pereira (2019) defende a ideia de que esses elementos são a externalização do pensar, ou seja, a parte material do pensamento. Além da escrita e da fala o autor identificou que os estudantes utilizavam múltiplas linguagens para externar o pensamento algébrico, como os gestos e os desenhos.
Para realizar essas afirmações Pereira (2019) se apoiou na fundamentação de pensamento algébrico segundo a Teoria da Objetivação (TO) – uma teoria sociocultural de ensino-aprendizagem desenvolvida pelo professor Luis Radford. Na visão dessa teoria o pensamento possui uma natureza multimodal e é divido em duas partes: a material e a ideacional. Essa última é composta pela imaginação e fala interior do estudante, enquanto a material é constituída por gestos, percepção, falas, desenhos, escrita, entre outros (MOGOLLÓN, 2020). Esses diversos elementos são denominados meios semióticos de objetivação.
A partir dos distintos meios semióticos de objetivação utilizados pelos estudantes podemos definir qual forma de pensamento algébrico ele consegue mobilizar: factual, contextual, simbólica (RADFORD, 2006, 2010, 2018). Diante a isso, essa pesquisa teve como objetivos: analisar os diferentes meios semióticos de objetivação mobilizados por uma estudante do 8° ano do ensino fundamental e, com isso, identificar as diferentes formas de pensamento algébrico que ela conseguiu mobilizar ao responder uma tarefa de generalização de padrões. A análise foi feita mediante à observação da gravação de todos os momentos de resolução da tarefa proposta.
Esse artigo está dividido em quatro seções. A primeira está voltada para o referencial teórico da pesquisa e nela apresentamos uma síntese sobre a TO, seus elementos e as principais características das formas de pensamento algébrico que está fundamentada nessa teoria. A segunda seção é referente a metodologia da pesquisa e discorremos sobre a abordagem qualitativa que adotamos, os momentos da atividade realizada na investigação, assim como a tarefa utilizada. Posteriormente temos a seção de análises e resultados, nela é possível encontrar os detalhes de como a estudante mobilizou as três formas de pensamento algébrico e o caminho que ela percorreu para isso. Por fim, trazemos as reflexões finais e apontamos como os diferentes meios semióticos de objetivação foram essenciais para Juliana no decorrer da atividade.
REFERENCIAL TEÓRICO
Coelho e Aguiar (2018) afirmam que não existe um consenso entre os pesquisadores para a definição de pensamento algébrico. Segundo Vergel (2014), isso ocorre porque na álgebra existe uma variedade de objetos, como equações, funções, padrões, entre outros; além disso, as diferentes definições para essa forma de pensar se fundamentam em diferentes teorias. Nesse artigo adoraremos a perspectiva de pensamento algébrico fundamentada na Teoria da Objetivação (TO).
A TO é uma teoria sociocultural de ensino-aprendizagem que começou a ser desenvolvida na primeira metade dos anos 1990 pelo Professor Luis Radford. Ela tem sua base alicerçada na dialética de Hegel, no materialismo dialético de Karl Marx, na escola de pensamento de Vygotsky e nas ideias de Paulo Freire, Leontiev e outros. Essa teoria se preocupa com as questões culturais, históricas e sociais e enfatiza que o objetivo da educação matemática deve ser visto como
Um esforço dinâmico, político, social, histórico e cultural que busca a criação dialética de sujeitos reflexivos e éticos que se posicionam criticamente em discursos e práticas matemáticas que se constituem histórica e culturalmente, discursos e práticas que estão em permanente evolução. (RADFORD, 2017b, p. 97, tradução nossa)
A teoria em questão defende que a educação deve ir além do saber matemático, para isso a TO afirma que o processo de ensino-aprendizagem é caracterizado como uma única atividade que está em uma relação dialética com o saber (o conhecer) e com o ser (tornar-se). Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem deve levar os envolvidos da atividade à “uma compreensão profunda dos conceitos matemáticos e à criação de um espaço político e social dentro do qual os sujeitos possam desenvolver subjetividades reflexivas, solidárias e responsáveis” (RADFORD, 2014, p. 136, tradução nossa).
Para Radford (2017b, 2020) existe uma diferença entre saber e conhecimento. O primeiro é caracterizado como pura potencialidade, enquanto o último é visto como a materialização ou a atualização do saber. Esse saber não se encontra na cabeça do estudante, é uma entidade histórico-cultural (MOREY, 2020), uma capacidade geradora, que não pode ser apropriada ou possuída (RADFORD, 2020).
A palavra potencialidade, utilizada para definir o saber, carrega o sentido adotado por Aristóteles, que significa movimento, poder ou disposição (MOREY, 2020). Por exemplo, uma bateria tem a potencialidade de emitir um som, os alunos têm a potencialidade de pensar algebricamente. Por meio de um movimento, isso é, de uma atividade, esse saber pode ser materializado e atualizado (transformado em ato). Quando o instrumento emite o som, ou quando o aluno mobiliza alguma forma de pensamento algébrico, são exemplos da materialização do saber que é denominada conhecimento na Teoria da Objetivação (RADFORD, 2017b, 2020).
O conhecimento é singular. Por exemplo, ao resolvermos problemas de multiplicação de números naturais é possível utilizar diferentes mecanismos. O saber é a multiplicação que pode ocorrer de diferentes formas, mas sua materialização, isso é, sua transformação em ato, ocorre utilizando um dos mecanismos. Portanto, essa forma singular de multiplicação, o conhecimento, está sendo revelada a consciência no decorrer da atividade e pode ser modificada e ampliada. A modificação e transformação do saber se baseia na ideia de que esse não é atemporal, assim como não é universal. Com isso, a TO considera que o saber não surgiu aleatoriamente, mas é fruto de longos processos históricos e culturais.
Diante dessas características, para que as formas de pensamento algébrico se materializem é importante que o estudante esteja em uma atividade, em que, se possível, ele possa dialogar, apresentar suas ideias, respeitar as opiniões dos colegas, entre outros elementos. Para a TO o pensamento algébrico é visto como o saber, que poderá ser materializado no decorrer de uma atividade. Esse saber algébrico, na visão dessa teoria, é entendido como uma
Síntese evolutiva – sintetiza a ação humana, é dinâmica, transformadora – e culturalmente codificada – como padrões de ação – de fazer e refletir em términos analíticos – isso é, a analiticidade em términos do caráter operatório do desconhecido – sobre números indeterminados e conhecidos. (VERGEL, ROJAS, 2018, p. 51, tradução nossa)
Essa analiticidade está interrelacionada com o senso de indeterminação e o modo particular de designar os objetivos (denotação semiótica ou designação simbólica), sendo esses três os elementos caracterizadores do pensamento algébrico (RADFORD, 2006, 2010). A analiticidade é o principal elemento que distingue o pensamento algébrico do aritmético, podendo a indeterminação e a denotação também estarem presentes no pensar aritmeticamente (RADFORD, 2018).
O senso de indeterminação envolve números desconhecidos e é designado para os objetos algébricos – incógnitas, variáveis, parâmetros, entre outros – sendo oposto à determinação numérica. A analiticidade refere-se ao caráter operatório dos objetos algébricos (VERGEL, 2015b), isso é, o momento em que os objetos algébricos são tratados analiticamente (RADFORD, 2006). Ela está fundamentada em dois vetores (GOMES, 2020): trabalhar com o indeterminado como se fosse conhecido; sendo esse trabalho realizado a partir de deduções, ou seja, baseando-se em certas premissas é possível chegar a um determinado resultado (VERGEL, 2019). Além disso, cada estudante apresentará seu modo particular simbólico de designar os objetos, também chamado de denotação semiótica ou designação simbólica, sendo por eles a maneira que o indeterminado é apresentado (VERGEL, 2016), isso é, “a maneira especifica de nomear ou referir-se aos objetos” (VERGEL, 2015b, p. 196, tradução nossa).
Destacamos que para Radford (2010) o pensamento é definido como “uma forma complexa de reflexão mediada pelos sentidos, pelo corpo, sinais e artefatos” (p.15, tradução nossa). Seguindo esse viés, Vergel e Rojas (2018) argumentam que na TO o pensamento é visto como um processo de atividade humana, sendo essa sensorial e concreta, que está em constante movimento e mudança.
Como abordamos anteriormente, a TO defende que o pensamento possui uma natureza multimodal, sendo então composto por diversos elementos, como gestos, movimentos, palavras escritas, desenhos, artefatos, entre outros. Esses elementos constituem a parte material do pensamento, enquanto a imaginação e a fala interior a parte ideacional.
Os diversos elementos que constituem a parte material do pensamento são denominados por Radford (2003) de meios semióticos de objetivação, eles são utilizados pelos indivíduos em “processos de criação de significado social para alcançar uma forma estável de consciência, para tornar aparentes suas intenções e realizar suas ações, com o intuito de atingir o objetivo de suas atividades” (RADFORD, 2003, p. 41, tradução nossa).
Diante disso, Radford (2006) argumenta que não é possível reduzir o pensamento algébrico apenas ao uso de letras e que o devemos entender como uma forma de pensar em relações às situações matemáticas, que é constituída pelos diversos meios semióticos de objetivação. Como o pensamento possui uma natureza multimodal, também chamada de multisemiótica, os estudantes podem mobilizar diversos meios semióticos de objetivação em uma única atividade.
Para definir as três formas de pensamento algébrico Radford (2010) tomou como base uma pesquisa longitudinal em que aplicou diversas tarefas de generalização de padrões e buscou observar como os estudantes evoluíam nas respostas dadas aos problemas. Diante disso, ele analisou os diversos meios semióticos que os alunos recorriam para objetivar a generalização. Radford (2006) justifica o uso dessas tarefas pois defende que atividades que envolvem generalização de padrões é um bom caminho para iniciar o estudo da álgebra.
O que diferencia uma forma de pensamento algébrico da outra são os níveis de generalidade que os alunos operam, e o que distingue esses níveis são os meios semióticos que os estudantes utilizam para tornar aparente as maneiras de trabalhar com os problemas de generalização. Destacamos que os três elementos caracterizadores do pensamento algébrico devem estar presentes nas três distintas formas desse pensamento. Ademais, como essas formas foram definidas a partir de problemas de generalização de padrões é importante destacar que para realizar uma generalização algébrica o estudante deverá perpassar um caminho que está baseado nos seguintes pontos:
A tomada de consciência de uma propriedade comum que se nota a partir de um trabalho no campo fenomenológico de observação sobre certas figuras particulares (por exemplo, p1, p2, p3, ..., pk);
A generalização dessa propriedade a todas as figuras subsequentes da sequência (pk+1, pk+2, pk+3, ...);
A capacidade de usar essa propriedade comum a fim de deduzir uma expressão direta que permite calcular o valor de qualquer figura da sequência. (RADFORD, 2013, p. 6, tradução nossa).
Em resumo, o aluno deve perceber uma característica comum na observação de um número finito de figuras, o que Radford (2013) chama de “escolha entre determinações sensíveis potenciais” (p. 6). Essa característica deve ser generalizada aos outros termos da sequência, esse processo de generalização é chamado abdução. Por fim, busca-se que o aluno consiga deduzir uma fórmula, não necessariamente utilizando o simbolismo alfanumérico, mas que ela possa ser utilizada para encontrar qualquer termo da sequência trabalhada.
Em todo o percurso para a dedução da fórmula no processo de generalização os alunos utilizam distintos meios semióticos para tornar aparente suas ideias e com isso materializar (e atualizar) o saber algébrico, revelando, assim, qual das três formas de pensamento algébrico ele está mobilizando durante a atividade: pensamento algébrico factual; pensamento algébrico contextual; pensamento algébrico simbólico (ou padrão) (RADFORD, 2010, 2018).
O pensamento algébrico factual foi inicialmente chamado por Radford (2003) de forma elementar e pré-simbólica do pensamento algébrico. Isso se deve ao fato de os alunos não utilizarem nenhum simbolismo alfanumérico para mobilizar esse pensamento e recorrerem a outros meios semióticos de objetivação para tornarem aparente suas ideias.
Segundo Vergel (2015b), os meios semióticos mobilizados nessa forma de pensamento são: os gestos, os movimentos, o ritmo, a atividade perceptiva e as palavras. Além disso, a indeterminação está presente, mas é denotada pelos estudantes por meio de números específicos ou ações concretas, o que leva a um trabalho com a indeterminação de maneira implícita. Radford (2018) afirma que é devido a esse motivo que essa forma de pensamento recebe o nome de factual, pois esse adjetivo “significa que as variáveis da fórmula aparecem de forma tácita” (RADFORD, 2018, p. 14, tradução nossa).
Ressaltamos que nesse pensamento o aluno não faz uso do simbolismo alfanumérico e não denota o indeterminado de uma forma geral. Porém, mesmo estando dentro de uma camada primária de generalidade e deduzindo uma fórmula baseada em números particulares, Radford (2010) defende que essa forma de pensar não é simples, pois necessita de mecanismos, coordenação, palavras e símbolos para ser desenvolvida.
O pensamento algébrico contextual recebe esse nome devido ao fato de a dedução da fórmula estar diretamente ligada a algum contexto observado pelos estudantes no processo de generalização (RADFORD, 2003). Nessa forma de pensar os alunos não trabalham mais com números específicos, agora está em curso um novo objeto que é a figura geral. Isso significa que no pensamento contextual a indeterminação se torna explícita, ou seja, ela é nominalizada, e o estudante começa a substituir os gestos, os ritmos e os movimentos por frases “chaves” (VERGEL, 2015b), que constituem o principal meio semiótico de objetivação.
Portanto, a fórmula deduzida no pensamento algébrico contextual tenderá a ser uma descrição espacial da figura (VERGEL, 2015b). Nessa fórmula a indeterminação será denotada explicitamente por meio de um conjunto de palavras e o estudante trabalhará com a variável como se a conhecesse.
O uso do simbolismo alfanumérico não é característico nessa forma contextual do pensamento algébrico, mas algumas fórmulas que fazem uso desse meio semiótico de objetivação não conseguem romper com a estrutura figural observada e com isso as letras são vistas como índices, que indicam o passo a passo que deve ser realizado para trabalhar com a indeterminação explicitamente. O rompimento entre o pensamento algébrico contextual e o simbólico ocorre na transformação de índice em símbolo.
Com isso, temos que o pensamento algébrico simbólico apresenta como principal característica o uso do simbolismo alfanumérico como meio semiótico de objetivação (RADFORD, 2003) e é visto como o pensamento algébrico mais sofisticado dentre os três já discutidos.
Mas não são todas fórmulas que utilizam esse tipo de simbolismo que podem evidenciar que o aluno pensa algebricamente. Por exemplo, se a fórmula for encontrada com base em adivinhações ou tentativa e erro (indução ingênua), ela não pode ser considerada uma fórmula algébrica, pois não foi deduzida por um processo que envolve determinações sensíveis, características comuns e abdução analítica.
É importante destacar que para chegar nesse nível mais avançado do pensamento algébrico, que é o pensamento algébrico simbólico, o simbolismo não deve atuar de maneira indexical, ou seja, o aluno deve conseguir operar com o simbolismo alfanumérico para que a fórmula não represente uma descrição espacial da figura. Para Radford (2018) “a importância do simbolismo algébrico padrão não reside em sua tremenda eficiência apenas para realizar cálculos. Ela também reside nas possibilidades que oferece para alcançar novos modos estéticos de imaginação e percepção” (p. 23, tradução nossa).
Mesmo Radford (2010) afirmando que a linguagem simbólica com significado é o auge do pensamento algébrico, ele também defende que essa tipologia não deve ser seguida de maneira hierarquicamente rígida. Ele afirma que essas três camadas de generalidade é “uma tentativa de entender os processos pelos quais os alunos passam a ter contato com as formas de ação, reflexão e raciocínio veiculados pela práxis historicamente constituída da álgebra escolar” (RADFORD, 2010, p. 15, tradução nossa).
Quadro 1 são apresentadas de maneira resumida as principais características das três formas de pensamento algébrico.
| Pensamento Algébrico | Principais características |
| Factual | - A indeterminação é trabalhada implicitamente; - Os principais meios semióticos de objetivação são: gestos, movimentos, ritmos, atividade perceptiva; - Trabalho com números específicos. |
| Contextual | - O contexto que a fórmula foi construída fica em evidência; - A indeterminação é trabalhada explicitamente; - Os principais meios semióticos de objetivação são: frases chaves que emergem por meio da fala e da escrita; |
| Simbólico | - O aluno consegue utilizar o simbolismo alfanumérico de maneira simbólica e operar com a sintaxe alfanumérica; - A indeterminação é trabalhada explicitamente; - O principal meio semiótico de objetivação é: simbolismo alfanumérico. |
Diante dessa explicação das formas de pensamento algébrico fundamentadas na Teoria da Objetivação, destacamos que Radford (2018) defende que o simbolismo algébrico não é apenas o simbolismo alfanumérico, mas os gestos, a linguagem, o ritmo, ou qualquer outro recurso semiótico que o estudante utilize para significar ou apresentar a generalidade.
Na seção seguinte apresentamos a metodologia da nossa pesquisa, explicamos os diversos momentos da atividade que foi realizada, assim como sua estrutura e a tarefa utilizada nesse estudo. Também elucidamos como foi feita a gravação de todo momento da atividade e a metodologia de análise adotada.
METODOLOGIA
O estudo aqui apresentado possui uma abordagem qualitativa de pesquisa. Segundo Ludke e André (1986) essa abordagem tem como principais características o pesquisador ser um participante atuante no processo de produção de dados, em que esses são predominantemente descritivos e o processo é mais importante do que apenas o resultado. Diante a isso, para alcançarmos nosso objetivo de analisar os diferentes meios semióticos de objetivação mobilizados por uma estudante do 8° ano do ensino fundamental e, com isso, identificar as diferentes formas de pensamento algébrico que ela conseguiu mobilizar ao responder uma tarefa de generalização de padrões, partimos da definição de atividade que a TO apresenta (labor conjunto), que se configura como um “sistema dinâmico orientado para a satisfação das necessidades coletivas” (RADFORD, 2020, p. 23, tradução nossa). Nessa atividade o professor e aluno são postos a trabalharem ombro a ombro em busca da realização de uma obra comum.
Destacamos que a pesquisa com a estudante Juliana foi realizada durante a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), que se iniciou no primeiro semestre de 2020. Devido a esse fato foi necessário evitar aproximação entre pessoas para dificultar a propagação do vírus e, portanto, a investigação tomou como base os princípios do labor conjunto, mas buscou evitar qualquer tipo de aglomeração. As escolas ainda estavam fechadas no momento da produção de dados, por esse motivo essa produção ocorreu na casa da estudante e a pesquisadora atuou como professora no momento da atividade, tentando sempre trabalhar conjuntamente com a aluna (RADFORD, 2020). A atividade desse estudo se dividiu em três momentos (Figura 1) e em todos eles a pesquisadora sempre esteve presente ao lado da estudante.
1° momento: entrega da folha da tarefa à aluna, realização da leitura da tarefa e explicação da atividade.
2° momento: a aluna iniciou a resolução dos problemas individualmente.
3° momento: voltado para as discussões professora-estudante.

Podemos observar na figura anterior que a seta que interliga o segundo e o terceiro momento é bidirecional, isso ocorre pois frequentemente esses dois momentos foram transformados em um único, em que a aluna mostrava suas ideias, dialogava sobre suas dúvidas com a professora e voltava a responder a tarefa, transformando todo o percurso em um trabalho conjunto. Quando era notável que a aluna estava com dificuldade, mas, por algum motivo, não queria tirar suas dúvidas algumas perguntas eram feitas, como por exemplo: “como você pensou para encontrar esses resultados?”; “explique-me como você resolveu esse problema.”.
A tarefa de generalização de padrões trabalhada com a estudante se baseia na estrutura da atividade da sala de aula definida pela Teoria da Objetivação (RADFORD, 2017a), essa estrutura é denominada componente didático da atividade e é composta por três elementos: o objeto, o objetivo e a tarefa.
O objeto corresponde ao projeto didático do professor, que no caso dessa pesquisa é referente ao pensar algebricamente mediante a uma sequência figural. O objetivo é o caminho percorrido para alcançar o objeto, ou seja, para os alunos conseguirem pensar algebricamente eles precisam resolver os problemas propostos em relação à sequência figural de forma algébrica. A tarefa é referente aos problemas utilizados para chegar ao objetivo (RADFORD, 2017a).
Na Figura 2 visualizamos o esquema da estrutura da atividade equivalente ao que Radford (2017a) criou para sua pesquisa. Os componentes são correspondentes à nossa, pois também trabalhamos com sequência figural e pensamento algébrico. A diferença é a abordagem de uma única tarefa, e não várias, assim como todos os problemas aplicados em um único momento, sem ser realizada uma pesquisa longitudinal.

A ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. apresenta a tarefa utilizada nesse estudo. Inicialmente foi apresentada à estudante uma das sequências figurais utilizadas por Radford (2010) em suas investigações. A aluna precisava observar essa sequência e responder à sete problemas.

Os cinco primeiros problemas referem-se à mobilização do pensamento algébrico factual, pois aborda questionamentos sobre números específicos. O problema f faz referência ao pensamento algébrico contextual, no momento que trata de uma figura indeterminada e, por fim, o problema g refere-se ao pensamento simbólico ao solicitar que o aluno utilize o simbolismo alfanumérico. É importante ressaltar que mesmo esses problemas estando alinhados com as características das distintas formas de pensamento algébrico é possível que a aluna não consiga pensar algebricamente quando for resolvê-los ou não mobilize todas as formas de pensamento algébrico.
Para identificarmos se a aluna pensou algebricamente e quais das formas desse pensamento ela mobilizou utilizamos como base de dados as gravações de todos os momentos da atividade e as respostas da folha de tarefa da estudante, posteriormente houve a descrição, interpretação e categorização desses dados. As gravações, tanto em áudio como em vídeo, são justificadas pela natureza do pensamento algébrico, que na perspectiva da TO possui uma natureza multimodal, apresentando sua parte material (gestos, percepção, fala, escrita, entre outros) e ideacional (imaginação e a fala interior).
Buscando evitar qualquer perda de dados nas gravações foram utilizados dois equipamentos: uma câmera digital, que ficou localizada estaticamente na frente da aluna, e um smartphone localizado em um tripé diagonal à estudante que poderia ser deslocado dependendo dos movimentos que a aluna realizasse. Ressaltamos que durante a atividade apenas a pesquisadora e o sujeito da pesquisa estavam presentes, logo a pesquisadora também foi responsável pela gravação de toda as fases da atividade.
Para a análise dos dados, que serão apresentados e comentados na próxima seção, utilizamos a metodologia de análise multimodal (ou multisemiótica), que gira em torno de um estudo refinado das gravações, dando atenção aos gestos, percepção, linguagens e outros meios semióticos que a aluna utilizou para tornar aparente suas ideias (RADFORD, 2018).
ANÁLISES E RESULTADOS
A estudante Juliana iniciou a atividade resolvendo os três primeiros problemas por meio de uma generalização aritmética, seguindo o raciocínio de somar dois círculos de uma figura para outra. Nesse primeiro momento a aluna não faz muito o uso de gestos, apenas lê e escreve suas respostas no papel. Essas respostas podem ser visualizadas na Figura 4.

Ao finalizar sua escrita a aluna foi questionada em como chegou às respostas dos três primeiros problemas, ela afirma que foi somando de dois em dois até chegar à figura de número 10 – evidenciando, mais uma vez, um pensamento aritmético na perspectiva de Radford (2013). Após esse momento a estudante retoma a resolução da tarefa e demora um pouco para responder o problema ., que se refere à quantidade de círculos da figura 100. Percebendo que ela está levando um longo tempo para responder esse problema a professora retoma o diálogo.
Professora: como você está resolvendo o problema d?
Juliana: eu já fiz uma parecida, mas faz muito tempo, então fica difícil de me lembrar.
Professora: mas como você está fazendo para chegar à quantidade de círculos da figura 100?
Juliana: eu estou... assim... é... de 1 para 10 eu fiz a soma de quantos dois somariam, aí é 18. Aí eu ia fazer 18 vezes 9 para 100, é... e depois ia... somar mais 18 antes.
Professora: pensa se essa ideia funciona também para as figuras que você já conhece.
Quando Juliana afirma estar buscando uma ideia parecida com problemas que ela resolveu durante sua vida escolar para solucionar o problema . é o momento que emerge o elemento iconicidade, definido na teoria da objetivação como um “processo pelo qual os alunos recorrem a experiências anteriores para orientar suas ações em uma nova situação” (RADFORD, 2007, p. 94, tradução nossa.). A continuidade da discussão professora-estudante evidencia que a ideia inicial da aluna não a ajuda encontrar a resposta da quantidade de círculos da figura 100, o que é confirmado pela própria estudante.
Nesse momento que Juliana nota que a característica comum de somar de dois em dois a quantidade de círculos não vai levá-la a encontrar o número de círculos da figura 100, tampouco a ideia de tomar como referência problemas anteriores, ela busca observar as diferentes determinações sensíveis, por meio do trabalho no campo fenomenológico (RADFORD, 2013), a fim de que alguma delas a ajude a encontrar a solução para o problema .. Ao afirmar que mesmo por meio da observação ela não consegue resolver o problema, a estudante foi solicitada a observar mais uma vez as figuras dadas. Abaixo segue a transcrição do momento dessa discussão entre Juliana e a professora.
Juliana: eu não estou conseguindo.
Professora: vamos fazer o seguinte, vamos voltar para essas figuras que você já tem [referência às figuras 1, 2 e 3] e perceber se tem alguma outra relação além dessa que você percebeu. Observa as figuras, a quantidade de círculos em relação ao número da figura. Será que tem alguma relação?
Por meio da atividade perceptiva, que emerge como meio semiótico de objetivação, Juliana consegue observar uma outra característica comum nessa sequência figural. Mas para compreender o raciocínio da aluna é necessário observar sua fala juntamente com os gestos realizados no mesmo momento – indicados por uma seta laranja na Figura 5.
Juliana: aqui [aponta para a quantidade de círculos da figura 1], subtraindo [aponta para o número da figura 1] da 4; aqui [aponta para a quantidade de círculos da figura 2] subtraindo [aponta para o número da figura 2] da 5; aqui [aponta para a quantidade de círculos da figura 3] subtraindo [aponta para o número da figura 3] da 6.
Professora: não entendi, você pode repetir? Subtraindo o que? E do que?
Juliana: os círculos, aqui tem cinco círculos [aponta para os círculos da figura 1], ai cinco menos a figura [aponta para o número da figura 1] daria 4; ai aqui teria [aponta para os círculos da figura 2] 4, 5, 6, 7 [conta o número de círculos da figura 2]... ai 7 subtraindo 2 [aponta para o número da figura 2] aqui da 5. Ai aqui o 9 [aponta para os círculos da figura 3] subtraindo 3 [aponta para o número da figura 3] aqui da 6.

Em outras palavras o raciocínio da aluna é correspondente a: a quantidade de círculos menos o número da figura é equivalente ao número da figura mais três. Em uma linguagem simbólica alfanumérica podemos escrever como: Nc - n = n + 3, o que é equivalente à Nc = 2n + 3, em que representa o número de círculos e o número da figura. Mas essas indeterminações não foram denotadas por Juliana dessa maneira, isso é, a indeterminação estava implícita e sendo denotada por números específicos e ações concretas (RADFORD, 2018).
Na resposta dessa estudante as ações concretas para denotar a indeterminação são os gestos e o ritmo: quando aponta primeiro para o número de círculos e posteriormente para o número da figura. Esses gestos estão acompanhados da fala e da percepção da aluna, o que indica uma ação linguística-perceptiva-gestual. Essa ação é denominada nó semiótico (RADFORD, 2013) e consiste em “um segmento da atividade semiótica que signos que provêm de diferentes sistemas semióticos se complementam para alcançar uma tomada de consciência de maneira que a tarefa seja abordada desde um ponto de vista algébrico” (VERGEL, 2015a, p. 14, tradução nossa). Nesse momento Juliana faz uso de diferentes meios semióticos de objetivação que a ajudam a tornar aparente suas ideias e atingir o objetivo de responder aos problemas propostos.
O elemento caracterizador analiticidade também se faz presente na resposta da estudante, podemos observar que ela opera com a indeterminação, subtraindo do número de círculos o número da figura e percebendo que isso equivale ao número da figura mais três. Com essa igualdade estabelecida, e tomando-a como premissa, ela consegue rapidamente responder o questionamento do problema ., deduzindo que o número de círculos da figura 100 é 203. Essa resposta pode ser observada na fala da estudante.
Professora: e o que isso te ajuda a encontrar o número de círculos da figura 100?
Juliana: a subtração fica em sequência [nesse momento ela aponta para a figura 1, figura 2 e figura 3 já desenhadas], aí fica uma diferença de... que esse daqui [aponta para quantidade de círculos da figura 3] subtraindo [aponta para o número da figura 3] fica aumentando... aí aqui [apontando para o número da figura 3] dá uma diferença de 3. Cada um tem uma diferença de três. Aí eu coloquei 103, que seria a figura 100... subtraindo a quantidade de círculos com a figura 100 daria 103. Ai eu fazendo assim a quantidade de círculos daria 203.
No momento que a aluna afirma que “a subtração fica em sequência” e “cada um tem uma diferença de três”, ela mostra que a ideia que teve para as figuras iniciais, ou seja, a característica comum encontrada, não fica restrita apenas para algumas figuras, mas pode ser aplicada em qualquer uma delas. Nesse momento ocorre a abdução analítica, em que a característica comum se transforma em hipótese e é generalizada, levando à dedução de uma fórmula algébrica (RADFORD, 2013).
Com base nessa análise multimodal da resposta da aluna ao problema ., podemos afirmar que ela mobilizou o pensamento algébrico factual (RADFORD, 2010), com a indeterminação trabalhada implicitamente e denotada por números particulares e ações concretas. Além disso, os principais meios semióticos de objetivação que emergiram para a materialização do saber algébrico nesse momento foram: atividade perceptiva, os gestos, a fala e a escrita.
A Figura 6 apresenta a resposta escrita da aluna Juliana aos problemas d, e e f.

Na resposta dos problemas d e e é possível observar a evidência do caráter operatório da indeterminação, ou seja, a analiticidade, em que a aluna toma como premissa o fato de “o número de círculos menos o número da figura é igual ao número da figura mais três”, ideia desenvolvida para responder o problema d. A partir disso e por meio de um processo de dedução ela consegue descrever como resposta ao problema e que “para descobrir o número de círculos você precisa somar o número da figura com o número da figura mais 3”, isso é, Nc = n + n + 3. Nesse momento, mesmo o problema e questionando sobre uma figura específica (a figura 200) a indeterminação implícita é deixada de lado e passa a ser denotada por meio das palavras “número da figura”. Esse momento demonstra que a aluna perpassa o pensamento algébrico factual e mobiliza o pensamento algébrico contextual (RADFORD, 2010).
Ao ler o problema f a aluna realiza uma expressão facial que indica não perceber o sentindo daquele questionamento e por meio de um breve diálogo com a professora ela percebe que é a mesma resposta do problema .. Isso pode ter ocorrido pois quando ela foi solicitada a indicar como descobrir o número de círculos da figura 200 ela não se deteve a um número específico e realizou o trabalho com um número qualquer, o que caracteriza o questionamento do problema f.
Em relação ao problema g, que traz o simbolismo alfanumérico, a aluna não apresentou muitas dificuldades para respondê-lo. Ao realizar a leitura do problema, ela rapidamente escreveu como resposta n + (n+3). Radford (2010) afirma que o uso desses parênteses não ocorre de maneira arbitrária, eles narram de forma condensada as experiências da estudante, nesse caso o n + 3 que está entre parênteses é equivalente ao “número da figura mais três”, apresentado na mobilização do pensamento algébrico contextual.
Nesse momento a aluna faz uso do simbolismo alfanumérico com significado e a indeterminação também é explícita, mas agora está sendo denotada pela letra n. Ao ser questionada se não poderia escrever essa fórmula de uma outra maneira a estudante Juliana opera com o desconhecido mais uma vez e demonstra que há uma equivalência entre n + ( n + 3 ) e 2n + 3. Na Figura 7 podemos observar a resposta da estudante a esse problema.

Ao finalizar a análise das respostas de todos os problemas da tarefa de generalização de padrões da aluna Juliana, podemos identificar que ela mobilizou as três formas de pensamento algébrico definidas por Radford (2010, 2018): factual, contextual e simbólica. Além disso, podemos afirmar que para a materialização do saber algébrico a estudante fez uso do simbolismo alfanumérico, da atividade perceptiva, gestos, ritmos e linguagem (oral e escrita), evidenciando que o pensamento algébrico é de natureza multimodal (RADFORD, 2018).
Na última seção a seguir ressaltamos os principais pontos analisados nessa investigação e como eles estão relacionados com nosso objetivo de pesquisa.
REFLEXÕES FINAIS
Mediante ao que foi exposto na análise dos dados da aluna Juliana destacamos a importância da atividade perceptiva, que fez com que a estudante retomasse ao campo fenomenológico algumas vezes para encontrar uma característica comum que a levasse à dedução de uma fórmula. Também destacamos a importância dos gestos nas respostas iniciais da aluna, eles foram o meio semiótico de objetivação que a ajudou a trabalhar com a indeterminação implicitamente e começou a configurar toda a ideia que foi apresentada posteriormente em uma linguagem natural (oral e escrita) e evoluída para uma linguagem simbólica alfanumérica. Se não tivéssemos realizado a análise dos gestos da estudante seria trabalhoso identificar, quiçá impossível, apenas por meio da sua linguagem oral a forma inicialmente mobilizada de pensamento algébrico.
Outro ponto importante é a contração semiótica realizada no percurso de toda a tarefa. Essa contração, que é o momento que a aluna concentra o mesmo significado em um menor número de símbolos (RADFORD, 2006), ocorreu em diferentes sistemas semióticos: quando ela iniciou utilizando gestos juntamente com sua fala e trabalhou a indeterminação por meio de números específicos e ações concretas, depois conseguiu apresentar a indeterminação por meio de um conjunto de palavras e, por fim, denotá-la com o uso da letra n. A contração semiótica em um mesmo sistema foi realizada no momento que a aluna percebe que n + ( n + 3 ) é equivalente à 2n + 3.
Concluímos que as respostas de Juliana à tarefa de generalização de padrões nos mostraram que o pensamento algébrico vai muito além de somente utilizar a linguagem algébrica alfanumérica, mas que a partir de distintos meios semióticos de objetivação, como por exemplo os gestos, a estudante conseguiu externalizar o seu pensamento algébrico, ou seja, conseguiu extrapolar a mente.
Por fim, esperamos que esse artigo contribua de maneira positiva com o ensino da álgebra e que os professores possam entender as diversas faces e os distintos caminhos que podem ser percorridos para a mobilização do pensamento algébrico quando trabalhamos com uma tarefa de generalização de padrões. Também destacamos que é imprescindível que os educadores tomem consciência da relação dialética entre o saber e o ser, pois com isso poderemos contribuir para a formação de cidadãos que adentrem diversos discursos, sejam eles matemáticos ou referentes a distintas esferas da sociedade.
REFERÊNCIAS
BOOTH, L. R. Dificuldades das crianças que se iniciam em álgebra. In: COXFORD, A. F; SHULTE, A. P.; (org.). As idéias da álgebra. São Paulo: Atual Editora, 1995. p. 23-36.
BREDARIOL, C. C.; NACARATO, A. M. Raciocínios Algébricos de alunos do 6° ao 8° ano quando resolvem uma situação-problema envolvendo padrões. In: XI Encontro Nacional de Educação Matemática. Anais do XI ENEM, 2013.
COELHO, F. U.; AGUIAR, M. A história da álgebra e o pensamento algébrico: correlações com o ensino. Estudos Avançados, v. 32, n. 94, p.171-187, dez. 2018. FapUNIFESP (SciELO).
FERREIRA, M. L.; WAGNER, V. M. P. S. Crenças e concepções de uma professora de matemática sobre álgebra. In: X Encontro Nacional de Educação Matemática. Anais do X ENEM, 2010.
FIORENTINI, D.; MIORIN, M. A.; MIGUEL, A. A contribuição para um repensar... a educação algébrica elementar. Pro-Posições, v. 4, n. 1, p. 78-91, 1993.
GOMES, L. P. S. Introdução à álgebra nos anos iniciais do Ensino Fundamental: uma análise a partir da Teoria da Objetivação. 2020. 182 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020.
KIERAN, C. Developing algebraic reasoning: The role of sequenced tasks and teacher question from the primary to the early secondary school levels. Quadrante, v. 16, n. 1, p. 5-26, 2007.
LINS, R. C.; GIMENEZ, J. Perspectivas em Aritmética e Álgebra para o Século XXI. 4. ed. Campinas: Ed. Papirus, 1997.
LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Métodos de Coleta de dados: observação, entrevista, e análise documental. In: LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: Epu, 1986. Cap. 3. p. 25-44.
MOGOLLÓN, O. L. P. Contando cantidades: más allá del establecimiento de correspondencias uno a uno. In: GOBARA, S. T.; RADFORD, L (org.). Teoria da Objetivação: Fundamentos e Aplicações para o Ensino e Aprendizagem de Ciências e Matemática. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2020. p. 71-93.
MOREY, B. Abordagem semiótica na Teoria da Objetivação. In: GOBARA, S. T.; RADFORD, L (org.). Teoria da Objetivação: Fundamentos e Aplicações para o Ensino e Aprendizagem de Ciências e Matemática. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2020. p. 43-68.
PEREIRA, A. M. M; PIRES, M. N. M. A noção de função por meio da investigação matemática. In: X Encontro Nacional de Educação Matemática. Anais do X ENEM, 2010.
PEREIRA, J. T. G. O desenvolvimento do pensamento algébrico: significações produzidas por alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental. 2019. 178 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Educação, Universidade São Francisco, Itaiba, 2019.
RADFORD, L. Gestures, Speech, and the Sprouting of Signs: a semiotic-cultural approach to students' types of generalization. Mathematical Thinking And Learning, v. 5, n. 1, p.37-70, jan. 2003.
RADFORD, L. Algebraic Thinking and The Generalization of Patterns: a semiotic perspective. In: 28° PME-NA. Anais do North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education 28, 2006.
RADFORD, L. Iconicity and contraction: a semiotic investigation of forms of algebraic generalizations of patterns in different contexts. Zdm, v. 40, n. 1, p.83-96, 5 dez. 2007.
RADFORD, L. Algebraic thinking from a cultural semiotic perspective. Research In Mathematics Education, v. 12, n. 1, p.1-19, mar. 2010.
RADFORD, L. A origem histórica do pensamento algébrico. In: MOREY, B; MENDES, I. A. (org.). Cognição Matemática: História, Antropologia e Epistemologia. São Paulo: Livraria da Física, 2011. Cap. 5. p. 117-153.
RADFORD, L. En torno a tres problemas de generalización. In: RICO, L.; CAÑADAS, M. C.; GUTIÉRREZ, J.; MOLINA, M.; SEGOVIA, I. (ed.). Investigación en Didáctica de las Matemáticas. Granada, Espanha: Editorial Comares, 2013. p. 3-12.
RADFORD, L. De la teoría de la objetivación. Revista Latinoamericana de Etnomatemática Perspectivas Socioculturales de la Educación Matemática, v. 7, n. 2, p. 132-150, 2014.
RADFORD, L. Aprendizaje desde la perspectiva de la Teoría de la Objetivación. In: D'AMORE, B.; RADFORD, L. Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: problemas semióticos, epistemológicos y prácticos. Bogotá: Ud Editorial, 2017a. Cap. 5. p. 115-136.
RADFORD, L. Saber y conocimiento desde la perspectiva de la Teoría de la Objetivación. In: D'AMORE, B.; RADFORD, L. Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas: problemas semióticos, epistemológicos y prácticos. Bogotá: Ud Editorial, 2017b. Cap. 4. p. 97-114.
RADFORD, L. The Emergence of Symbolic Algebraic Thinking in Primary School. In: KIERAN, C (ed.). Teaching and Learning Algebraic Thinking with 5- to 12-Year-Olds: the global evolution of an emerging field of research and practice. New York: Springer, 2018. p. 3-25.
RADFORD, L. Un recorrido a través de la Teoría de la Objetivación. In: GOBARA, S. T.; RADFORD, L (org.). Teoria da Objetivação: Fundamentos e Aplicações para o Ensino e Aprendizagem de Ciências e Matemática. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2020. p. 15-42.
RAMOS, C. S.; SILVA, A. B.; OLIVEIRA, R. C. Os problemas e as concepções de álgebra em uma aula de matemática do sétimo ano. In: XI Encontro Nacional de Educação Matemática. Anais do XI ENEM, 2013.
RODRIGUES, P. H.; SILVEIRA, A. R. C.; NAGY, M. C. Indícios de mobilização de pensamento algébrico por alunos de uma turma de 6° ano do ensino fundamental. In: XI Encontro Nacional de Educação Matemática. Anais do XI ENEM, 2013.
SILVA, R. M. Pensamento Algébrico em Tarefa com Padrões: uma investigação nos anos finais do ensino fundamental. 2021. 146f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica – UFPE, Recife, 2021.
VERGEL, R. Formas de pensamiento algebraico temprano en alumnos de cuarto y quinto grados de Educación Básica Primaria (9-10 años). 2014. 326 f. Tese (Doutorado) - Curso de Doctorado Interinstitucional en Educación, Facultad de Ciencias y Educación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 2014.
VERGEL, R. ¿Cómo emerge el pensamiento algebraico? El caso del pensamiento algebraico factual. Uno: Revista de Didáctica de Las Matemáticas, La Rioja, España, v. 68, n. 1, p. 9-17, abr. 2015a.
VERGEL, R. Generalización de patrones y formas de pensamiento algebraico temprano. PNA (Revista de Investigación en Didáctica de la Matemática), Granada, Espanha, v. 9, n. 3, p.193-215, mar. 2015b.
VERGEL, R. El gesto y el ritmo en la generalización de patrones. Uno: Revista de Didáctica de Las Matemáticas, La Rioja, España, v. 73, n. 1, p. 23-31, jul. 2016.
VERGEL, R. Una posible zona conceptual de formas de pensamiento aritmético "sofisticado" y proto-formas de pensamiento algebraico. In: XV CIAEM. Anais da XV Conferência Interamericana de Educação Matemática, 2019.
VERGEL, R.; ROJAS, P. J. Álgebra temprana, pensamiento y pensamiento algebraico. In: VERGEL, R.; ROJAS, P. J. Álgebra escolar y pensamiento algebraico: aportes para el trabajo en aula. Bogotá: Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2018. Cap. 3. p. 41-74.
Ligação alternative
https://www.rematec.net.br/index.php/rematec/article/view/23 (pdf)

