
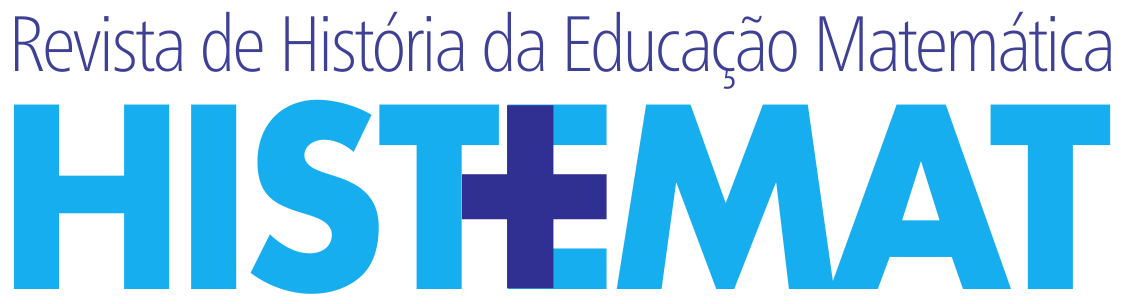

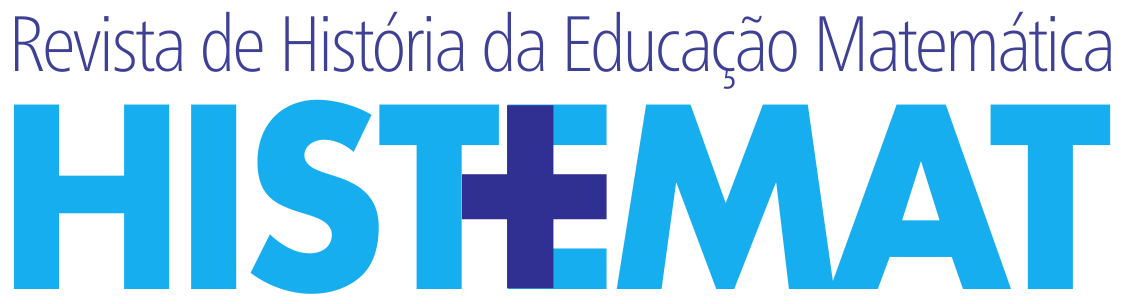
HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
AS FACULDADES DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO E A FATEC OURINHOS: DIAS DE LUTAS E DE GLÓRIA
THE TECHNOLOGY FACULTIES OF THE STATE OF SÃO PAULO AND FATEC OURINHOS: DAYS OF STRUGGLE AND GLORY
Revista de História da Educação Matemática
Sociedade Brasileira de História da Matemática, Brasil
ISSN-e: 2447-6447
Periodicidade: Frecuencia continua
vol. 8, 2022
Resumo: Ao completar trinta anos de existência em outubro de 2021, a Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (Fatec Ourinhos) traz consigo um cabedal histórico que merece ser revivido e repensado, criando-se possibilidades de entendimentos e aprendizados acerca do seu contexto de criação e de paradigmas que ainda circulam nos seus intramuros. Apesar da sua criação (em caráter excepcional), em 1991, ter ocorrido depois de seis anos do fim do regime militar, a faculdade sempre foi subordinada ao Centro Paula Souza, autarquia responsável pela gestão das Faculdades de Tecnologia do estado de São Paulo, sendo uma instituição criada pelo decreto-lei de 6 de outubro de 1969, na gestão do governador Roberto Costa de Abreu Sodré (1967 – 1971) e em pleno regime militar. Logo, quais reflexos o Centro Paula Souza e as suas faculdades sentiram nesse período? Houve alguma área do conhecimento científico que sofreu alguma intolerância por ser julgada subversiva ao regime imposto? Como as ciências exatas (particularmente a Matemática) foram influenciadas em seus modos de transposição em sala de aula? Para atingir o objetivo de (re) pensar tais questões, optou-se pela metodologia da História Oral, que é um dos modos de se criar narrativas, fontes orais que são transformadas em registros escritos e, para compor a narrativa proposta, entrevistas foram realizadas com professores que atuaram/atuam nas Faculdades de Tecnologia do estado de São Paulo. Logo, como resultado, temos as entrevistas e suas narrativas que surgiram como pontas de icebergs e que se juntaram a outras fontes como uma possibilidade do fazer historiográfico que colaborou com a compreensão de um determinado contexto. As narrativas dispararam certos entendimentos ao entorno da vida acadêmica das Fatecs nas décadas analisadas, permitindo uma reflexão sobre a disciplina da Matemática na época do regime militar, assim como forneceram vestígios da luta constante em se estabelecer uma cultura escolar própria para o ensino tecnológico, baseada na prática e no mundo do trabalho.
Palavras-chave: Regime Militar, História Oral, Ensino Tecnológico.
Abstract: Upon completing thirty years of existence in october 2021, the Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (Fatec Ourinhos) brings with it a historical background that deserves to be revived and rethought, creating possibilities for understanding and learning about its context of creation and paradigms that still circulate in its intramurals. Despite its creation (in exceptional character) in 1991, having occurred six years after the end of the military regime, the faculty has always been subordinated to the Centro Paula Souza, an autarchy responsible for the management of the Faculties of Technology in the state of São Paulo. this is an institution created by the decree-law of October 6, 1969, under Governor Roberto Costa de Abreu Sodré (1967 – 1971) and under the military regime. So, what reflexes did the Centro Paula Souza, and its faculties feel during this period? Was there any area of scientific knowledge that suffered any intolerance for being considered subversive to the imposed regime? How were exact sciences (particularly Mathematics) influenced in their ways of transposition in the classroom? To achieve the objective of (re)thinking such questions, we opted for the methodology of Oral History, which is one of the ways of creating narratives, oral sources that are transformed into written records and, to compose the proposed narrative, interviews were conducted with professors who worked/worked at the Faculties of Technology in the state of São Paulo. Therefore, as a result, we have the interviews and their narratives that emerged as tips of icebergs and that joined other sources as a possibility of historiographical work that collaborated with the understanding of a certain context. The narratives that triggered certain understandings around the academic life of the Fatecs in the analyzed decades, allowing a reflection on the discipline of Mathematics at the time of the military regime, as well as providing vestiges of the constant struggle to establish a school culture of its own for technological education, based on practice and the world of work.
Keywords: Military Regime, Oral History, Technological Education.
INTRODUÇÃO
Para que se pudesse pensar numa história da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (Fatec/Ourinhos), criou-se uma trama que caminhou ao encontro de memórias e de resistências revisitadas não somente na década de 1990, época de sua criação, mas também nas cercanias dos anos de 1970 e 1980, momentos marcados por discussões no interior das universidades sobre o excesso teórico e a duração dos cursos de graduação que afastavam os jovens do mercado de trabalho. Tais tendências iam de encontro a um país mergulhado num momento intenso de grandes investimentos e, especialmente o estado de São Paulo que, com o seu parque industrial, demandava pessoal qualificado para atuar na indústria. A urgência da formação superior diferenciada das demais existentes, como a do bacharelado e a das licenciaturas, fez emergir os cursos de tecnologia.
Destarte, em 1969, em meio às turbulências da Ditadura Militar, que facilitou a intervenção e o controle policial em várias universidades (Oliveira, 2013), surgiram os cursos tecnológicos, de nível superior, com duração de dois ou três anos. Uma autarquia para articular e desenvolver a formação de tecnólogos foi criada e recebeu, em princípio, o nome de Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo (CEET) (Motoyama, 1995).
O CEET iniciou suas atividades em 19 de maio de 1970 e, em 20 de maio de 1970, criou-se a Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. Em 1973, a capital ganhou a Fatec São Paulo, localizada no antigo prédio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).
Com o passar dos anos, criaram-se outras faculdades vinculadas ao então Centro Paula Souza (CPS) e, dentre elas, a Fatec Ourinhos que, na década de 1990, surgiu como extensão de campus da Fatec São Paulo. Dentre as disciplinas presentes desde o início dos cursos, a Matemática assumiu um papel de ferramenta para a formação de seus tecnólogos. Mas, quem eram os professores que atuavam no ensino da disciplina? Sofreram eles algum tipo de interferência ou resistência do Regime Militar?
Para responder essas e outras indagações, a pesquisa apresentada foi apoiada na metodologia da História Oral e, como num trabalho de arqueólogo que procura indícios para poder definitivamente mergulhar em seus estudos, cada uma das oito entrevistas realizadas com professores de Matemática da Fatec Ourinhos e a de São Paulo (somente uma entrevista não foi realizada com uma docente da disciplina, mas esta trouxe uma expressiva contribuição acerca da história, justamente por ter assumido diversas funções e cargos ao longo de sua trajetória profissional no Centro Paula Souza), possibilitou depoimentos orais em resultados que agora são fontes de pesquisas. Logo, o recorte temporal transitado neste nosso trabalho (1970 a 1990) privilegia alguns aspectos que podem trazer elementos para uma breve história da instituição aqui pesquisada e do regime político em que foi implantada.
1. ERA UMA VEZ...
Era uma vez um tempo em que as coisas andaram muito tumultuadas pelo Brasil. Não há qualquer erro quanto à conjugação do verbo dessa frase inicial. O leitor até pode pensar em associá-la com o momento atual e suas conturbações econômicas, políticas e sociais, mas o contexto do qual se fala aqui é outro. Era uma vez um país em que as pessoas foram proibidas de pensar, falar e fazer o que queriam. Era uma vez um país onde muita gente ficava presa e as crianças eram privadas de seus pais. Era uma vez uma história triste que ninguém gosta de ouvir, mas que precisa ser lembrada, contada e recontada para nunca se repetir (BRASIL, 2009).
Logo, houve esse tempo e esse contexto. Hoje, passados mais de cinquenta anos, ele tem sido revisitado por pesquisadores das mais diversas procedências e áreas, matizando, nas interpretações recentes, algumas das interpretações criadas no passado.
A década de 1960 foi marcada no Brasil por taxas de urbanização e de crescimento demográfico que davam indícios do desenvolvimento e da necessidade de modernização do país (Napolitano, 2014). Modernizar, segundo alguns conceitos que permeavam as teorias elaboradas por cientistas sociais americanos, à época, era uma necessidade urgente para que se pudesse combater a ameaça comunista que poderia ser instalada de modo fácil em países subdesenvolvidos como o Brasil e focava setores prioritários como a educação, responsável por efeitos multiplicadores e disseminadores de valores nos jovens que frequentavam as nossas instituições de ensino. Para que pudessem aflorar ideologias julgadas democráticas que iriam garantir o afastamento de quaisquer possibilidades de tendências como a marxista e a comunista, a modernização nos países pobres ia além do progresso econômico e desenvolvimentista.
Desse ponto de vista, as mudanças políticas e culturais faziam-se necessárias, bem como a modernização das instituições educacionais brasileiras, principalmente as universidades, pois eram os lócus de treinamento de mão de obra qualificada, de líderes e de formação de opiniões.
Contrapondo-se a tais ideias políticas da época e fazendo aproximações não bem recebidas por seus oposicionistas, o Governo de João Goulart (1961-1964), mais conhecido como Jango, que já havia assumido a presidência em meio a turbulências, passou a ser visto como ameaçador das ideologias de modernização então vigentes, tanto por setores e segmentos brasileiros, contrários ao seu governo, como por agências e interesses americanos (Napolitano, 2014).
Napolitano (2014), em seu livro sobre a história do regime militar brasileiro, afirmou que o “golpe de estado” que uniu forças civis e militares para a derrubada de João Goulart do poder foi tramado tanto dentro como fora do país, sendo resultado de uma coligação conservadora e antirreformista. Jango, que enfrentou crises em seu governo desde que fora empossado em 1961, não conseguiu cumprir a promessa das reformas sociais, políticas e econômicas para o Brasil. Na verdade, a direita temia sua aproximação com os comunistas e sustentou a bandeira de que ele se tornara incompetente administrativamente, irresponsável como homem político, um populista que prometia mais do que podia dar às classes populares. Contudo, o que se pregava a respeito do governo ia além das reações aos eventuais erros e acertos de Jango: perpassava questões geradas pela divisão da sociedade brasileira, projetos distintos de país, leituras diferenciadas do que poderia ser o processo de modernização e de reformas sociais, incrementados pelo quadro da Guerra Fria (disputa entre as duas superpotências da época: Estados Unidos (EUA) e União Soviética (URSS), no período de 1947 a 1989) ligação dos exércitos nacionais dos países subdesenvolvidos com o bloco capitalista liderado pelos EUA (Napolitano, 2014).
Interessante notar que Napolitano (2014) aponta que a própria historiografia brasileira retratou (e retrata) o governo de Jango a partir de uma visão negativa e recheada de críticas, favorecida pela própria confusão entre a memória e a história marcada, por um lado, pela opinião pública e, por outro, pelos historiadores.
Contudo, o aspecto cultural e intelectual desse governo se agitou em meio à agenda reformista sugerida pelo presidente, adensando iniciativas para reinventar o país mediante o nacionalismo inspirado na cultura popular e no modernismo.
Embora a reforma universitária se incorporasse às reformas de base anunciadas pelo governo João Goulart, criando centros de pesquisa de modo a aumentar o número de verbas e de vagas para os alunos excedentes, bem como tomando como modelo para as demais instituições de ensino superior a Universidade de Brasília (UnB), essas intenções não se realizaram devido à concretização do golpe.
Na madrugada do dia 31 de março de 1964, o golpe militar foi deflagrado contra o governo de João Goulart, tirando do poder, segundo liberais, conservadores, reacionários, nacionalistas autoritários e alguns reformistas moderados, um governo que estava conduzindo o país ao precipício, com índices alarmantes de aumentos de preços gerados pela inflação que rondava o país.
O medo, a insegurança, as supostas circulações de ideais comunistas – o “perigo vermelho” - na sociedade e principalmente nas universidades, o temor gerado pelos movimentos sociais no campo, o fortalecimento dos sindicatos e as greves contribuíram para o fortalecimento e a mobilização de vários setores e segmentos conservadores da época, principalmente dos militares (Napolitano, 2014).
Vitorioso o Golpe, outras prioridades, para além da reforma universitária, entraram em pauta. A Operação Limpeza, nome dado pelos agentes do estado, ou Operation Clean-up, expressão usada pelos diplomatas americanos no Brasil, visou afastar quaisquer possibilidades de ameaça dos adversários derrotados pelo Golpe de 1964, perseguindo comunistas, socialistas, trabalhadores e outros que tendiam à esquerda.
Oliveira (2013) ressalta que havia um esforço para se driblar a censura, mas a localização das cidades em relação aos grandes centros determinava a intensidade do eco provocado pelas manifestações da população. Quanto mais distantes de São Paulo e do Rio de Janeiro, menos intensa era a censura imposta pela ditadura e menor era o eco dessa repercussão.
Alguns docentes e pesquisadores, para fugirem do constrangimento e das tensões dos inquéritos, preferiram exilar-se (às vezes caracterizando o providencial abandono de cargo) ou mesmo migrar para universidades particulares; outros conseguiram driblar o expurgo e, com o passar do tempo, com a sensação de que a Operação Limpeza atingira seus objetivos, dissipando a insegurança do período, retornaram do exterior e às atividades acadêmicas. Dezenas de estudantes foram presos, expulsos de suas universidades, alguns abandonaram os estudos para fugir da repressão ou para que pudessem ter a liberdade de militância, enquanto outros se viram obrigados a concluir suas graduações no exílio.
Certas medidas rumo à reforma universitária começam a aparecer no primeiro governo militar do presidente Castelo Branco (1964 a 1967) e alguns textos legais foram editados. O Decreto-Lei n.53 (18 de novembro de 1966) e sua complementação, o Decreto-Lei n. 252 (28 de fevereiro de 1967) estabeleceram a unidade entre ensino e pesquisa, a reorganização das cátedras, a definição dos departamentos como subunidades universitárias, o estabelecimento das funções de colegiados de curso, responsáveis pela gestão das atividades de ensino, a realização de atividades de extensão no interior das universidades, estendendo à comunidade os resultados das pesquisas e projetos (Motta, 2014).
Muitas negociações marcaram os paradoxos do período, pois o favoritismo esteve presente entre o jogo de interesses durante o regime militar. Aliás, a cultura política do Brasil ainda parece pautar-se nesse modelo, caracterizando um tradicionalismo arraigado ao passado e com dificuldade de ruptura, ancorando-se em conciliações, flexibilidades e valorização de laços pessoais.
Contudo, indícios de uma aproximação com a abertura, bem como de uma certa democracia relativa e de uma transição política pacífica começam a despontar nos dois últimos governos militares comandados pelos generais Ernesto Geisel e João Baptista Figueiredo. Em 1981, Figueiredo, o último governo militar, mantinha boas relações com o regime marxista de Angola e enviou professores àquele país, a fim de ajudar na montagem de seu sistema universitário. Ao mesmo tempo que se consolidaram disparidades sociais, econômicas e de poder, lançaram-se as bases para a criação de instituições de ensino superior e de pesquisa úteis ao desenvolvimento econômico do país (Motta, 2014), assim caminhando ao encontro da criação das Fatec no estado de São Paulo, criadas em meio a tantas turbulências e interesses de diversas ordens.
2. A FATEC OURINHOS
As Faculdades de Tecnologia do estado de São Paulo (Fatec) são importantes instituições brasileiras de Ensino Superior, sendo pioneiras na graduação de tecnólogos. Elas estão localizadas na capital, na Grande São Paulo, no interior e no litoral do estado. A Faculdade de Tecnologia de Ourinhos (Fatec Ourinhos) é uma das setenta e quatro unidades dessa instituição pública do Governo do estado de São Paulo, tendo iniciado as suas atividades em 1991, com o curso de Processamento de Dados (PD) na gestão do diretor-superintendente Oduvaldo Vendrameto, como extensão de campus da Fatec São Paulo, para ministrar o curso superior de PD (Belloti, 2015).
No início de 1991, a Prefeitura Municipal de Ourinhos, liderada pelo prefeito municipal Dr Clóvis Chiaradia, atendendo aos anseios da população, encaminhou à Fatec São Paulo um pedido de instalação de uma faculdade na cidade. Em 13 de março de 1991, a instituição nomeou uma comissão para visitar a cidade e estudar a proposta. Essa comissão era composta pelo diretor da Fatec São Paulo, José Manoel Souza das Neves e pelos professores Hamilton M. Viana e a professora Vera Lúcia Silva Camargo (uma das entrevistadas desta pesquisa).
Em 15 de março de 1991 - o Departamento de Processamento de Dados da Fatec São Paulo indica o Professor Paulo Henriques Chíxaro (um dos depoentes desta pesquisa) para coordenar as atividades de criação da faculdade em Ourinhos.
(...) teve até muita pressão para que não se abrisse a Fatec Ourinhos, porque diziam que seria uma loucura, seria melhor fazer uma segunda Fatec em São Paulo. A pressão era tão grande que eles não conseguiram a aprovação da atual Fatec Ourinhos como Fatec. Na realidade, ela começou como uma extensão do campus da Fatec São Paulo, porque ficou mais fácil aprová-la. A aprovação foi feita em nível de congregação na própria Fatec São Paulo, consentida como uma extensão de campus. Logo, ninguém queria vir para cá como coordenador, uma vez que não seria estabelecido o cargo de diretor e sim, de coordenador de extensão de campus. Era arriscado e audacioso demais mudar com a família, mudar com todo mundo para uma aventura de ser um coordenador de extensão de campus, numa cidade que na época tinha 40, 50 mil habitantes, e não era vista com grandes possibilidades e perspectivas! (informação verbal [4]).
Em 18 de abril de 1991, a congregação da Fatec São Paulo aprova a criação de uma extensão de campus na cidade. A aprovação pelo conselho deliberativo do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) aconteceu em 09 de maio de 1991.
O Reitor da UNESP, prof. Dr. Paulo Milton Barbosa Landin, em 14 de outubro de 1991, com o Parecer 16/91, Resolução UNESP Nº 65, autoriza o oferecimento, em caráter experimental, em Ourinhos, de uma extensão de campus, onde funcionaria o curso de Processamento de Dados, criando-se, então, criada a Fatec Ourinhos, como extensão da Fatec São Paulo, para início das atividades no 1º semestre de 1992, em 6 de fevereiro, sendo o professor Sidney Ferrari, depoente desta pesquisa, foi o primeiro professor a entrar na sala de aula da Fatec Ourinhos:
(...) em 1992, deu certo da Fatec se instalar no município. Prestei o concurso na faculdade, passei, fui o primeiro professor contratado, tendo a chance de ser o primeiro professor a pisar na sala de aula, também, na Fatec Ourinhos. Dei a primeira aula, mas não era aula inaugural, era a primeira aula de verdade, para valer. Foi numa segunda-feira, às 13h30 da tarde, mas não era aula inaugural, era a primeira aula de verdade, para valer. Foi numa segunda-feira, às 13h30 da tarde. A disciplina era a Matemática 1, que hoje é o nosso Cálculo Diferencial e Integral. Tinha Matemática 1, Matemática 2, que correspondem aos atuais Cálculo Diferencial 1 e Cálculo Diferencial 2. Depois tinha outro cálculo, o Numérico, além da Pesquisa Operacional e da Estatística, mais adiante do curso. (informação verbal[5]).
Como ainda não havia um corpo docente completo, alguns professores da Fatec São Paulo vieram até Ourinhos para ministrar aulas, como o professor Walter Paulette (um dos entrevistados do trabalho).
A congregação da Fatec São Paulo, em junho de 1995, aprova a proposta de transformar a Extensão Ourinhos em Unidade e, em agosto, o Conselho Deliberativo do CEETEPS também aprova essa emancipação. Em outubro, a UNESP dá o seu parecer favorável, encaminhando para apreciação do Governador do Estado.
Em 10 de dezembro de 1997, é criada como Fatec Ourinhos, por decreto do Senhor Governador Mário Covas, quando se dá início ao projeto de criação do curso de Análise de Sistemas e Tecnologias da Informação. Este curso foi aprovado em 2001, pelo Conselho Estadual de Educação e teve início em setembro de 2002 (Belloti, 2016).
Atualmente, a Fatec-Ourinhos oferece seis cursos superiores de tecnologia, devidamente autorizados e reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo: Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais, Segurança da Informação, Ciências de Dados e Gestão Empresarial.
O recorte temporal aqui apresentado tem o propósito de salientar a trama traçada até o momento, envolvendo a Fatec São Paulo, paradigma das demais faculdades do Centro Paula Souza e a Fatec Ourinhos, que por anos foi considerada sua extensão de campus, justificando-se, deste modo, a escolha dos entrevistados que fizeram (e fazem) parte das instituições e contribuíram para a construção da história contada.
3. AS ENTREVISTAS E AS FONTES ORAIS COMO UM (RE) PENSAR HISTORIOGRÁFICO
Para que se possa construir um (re) pensar a respeito de resistências e da memória acerca da educação brasileira, alguns pontos foram destacados nas entrevistas realizadas com alguns professores que atuaram (atuam) nas Faculdades de Tecnologia do estado de São Paulo, mais especificamente, os da Fatec Ourinhos e da Fatec São Paulo. Suas narrativas orais são fontes para um limiar histórico que pode ser compreendido como um momento de reflexão entre o passado, o futuro e o presente.
O quadro a seguir apresenta algumas considerações acerca das entrevistas realizadas; contudo, foram destacadas somente aquelas que possibilitaram emergir os pontos pertinentes e que atendessem alguns questionamentos acerca da memória em tempos de resistências da (e na) educação tecnológica.
Vale ressaltar que, todos os entrevistados assinaram uma carta de cessão, autorizando a divulgação de informações, imagens e sons contidos nas entrevistas realizadas.
| ENTREVISTADO | FORMAÇÃO | LOCAL |
| Paulo Henriques Chixaro Mestre em Engenharia Naval e Oceânica pela USP, no ano de 2003. Atualmente é professor da Fatec Ourinhos, SP. | Matemática | Ourinhos |
| Vera Lúcia Silva Camargo Graduada em Processamento de Dados, pelo CEETPS (1977-1978) | Tecnologia | Ourinhos |
| Sidney Carlos Ferrari Doutor em Engenharia de Produção, pela UFScar, em São Carlos, interior de São Paulo (2016). | Matemática | Ourinhos |
| Walter Paulette Doutor pela Unesp - Rio Claro em Educação Matemática (2003). | Matemática | São Paulo |
| Ayrton Barboni Mestre em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP (1983). | Matemática | São Paulo |
| Jaques Vereta Mestre em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2000). | Matemática | São Paulo |
| Katsuyohi Kurata Mestre em Tenologia em Gestão, Desenvolvimento e Formação, pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CEETEPS (2007). | Matemática | São Paulo |
| Suzana Abreu de Oliveira Souza Doutora em Matemática Aplicada na Universidade de São Paulo (2001) | Matemática | São Paulo |
O professor Walter Paulette menciona, em sua entrevista, a chegada à São Paulo e a situação no momento do golpe de 1964:
Eu cheguei a São Paulo em 1964, bem na época em que explodiu a revolução. No Dia da Revolução, no dia 31 de março, eu estava indo dar aula quando eu li nos jornais, que estavam no jornaleiro, sobre o acontecido. Estávamos em quatro pessoas, eu e mais três colegas, e decidi não ir para a escola e sim para o trem, pois tudo iria parar e não conseguiria voltar para casa. Eu voltei para casa, fiquei ouvindo num radinho as notícias e não fui dar aula naquele dia. Foi exatamente assim. Foi exatamente assim. Eu dava aula em Santo André. Tinha que pegar o trem para chegar a Santo André. Eu fiquei bastante tempo dando aula no ensino básico, porque, quando eu estava no meu segundo ano, prestei o concurso e passei a ser efetivo e, em 1967, tornei-me professor efetivo no primário, efetivando-me na zona norte da capital. Vim para São Paulo. Mudei para cá. Eu fiquei três anos dando aula em Santo André, depois mudei para cá. Eu cursava a faculdade e dava aula no primário. Eu fiz a PUC, na Monte Alegre. Eu comentava com os professores o porquê de um professor, por exemplo, de Cálculo, dar aula para mim, dar aula no Mackenzie e outras faculdades também. Quantas aulas ele tinha? Tinha poucas porque existiam poucas faculdades para lecionar, portanto os professores que circulavam nessas faculdades eram bem conhecidos, nós conhecíamos, por exemplo, todas as deficiências deles (informação verbal[6]).
De acordo com a sua entrevista, o professor Walter, no dia 31 de março, ao pegar o trem para Santo André, leu nos jornais que os militares tinham assumido o comando do país, retornando para casa com medo dos acontecimentos e das incertezas que estariam por vir e, ao longo dos anos seguintes, a sua trajetória profissional também foi marcada pelo pequeno número de faculdades e as parcas aulas existentes, obrigando-o a circular em diversas instituições para garantir um salário melhor.
O aumento de vagas e as mudanças no sistema de ingresso às faculdades fizeram parte de um debate que se arrastou entre 1964 e 1968. Em 1969, quando o impulso modernizador do país estava intimamente relacionado à estratégia de seduzir lideranças descontentes com os novos rumos políticos do país, que se encontrava no auge de seu autoritarismo, a reforma universitária surgiu como uma espécie de compensação, bem como o aumento de investimentos na educação superior e na pesquisa. Nesse sentido, até que chegassem as reformas almejadas na educação superior, algumas lideranças estudantis ocuparam os prédios de algumas faculdades para garantir suas reivindicações, protestar contra a violência policial e fortalecer o movimento dos estudantes (Motta, 2014).
Um dos reflexos da Lei n. 5540, de 1968, foi a instalação de programas de nível superior de curta duração, possibilitando ao Centro Paula Souza a criação de cursos similares aos do Senai, estabelecendo a articulação, a realização e o desenvolvimento da educação tecnológica (Motoyama, 1995) e, consequentemente, a implantação de suas faculdades de tecnologia.
O professor Ayrton Barboni, ao chegar na Fatec São Paulo na década de 1970, não sentiu um clima hostil em relação ao local de trabalho e à disciplina ministrada:
A Fatec não era considerada um ambiente hostil e nem de subversivos, como os militares diziam. A Politécnica, por exemplo, nunca se envolveu em complicações, era mais o pessoal de humanas, como na própria PUC que teve um episódio famoso (...). Isso mesmo. A Fatec não tinha isso. Nós não tivemos esse problema, nunca houve. (informação verbal[7]).
Destaca-se aqui, mediante a afirmação do professor Ayrton Barboni de que “a Fatec não era considerada um ambiente hostil e subversivo”, o fato de que a instituição atendida a alguns propósitos ideológicos do Regime Militar, como o da formação qualificada do profissional que iria contribuir para o desenvolvimento econômico do país e que se encontrava entre o técnico e o engenheiro (Prado, 2018).
Contudo, mesmo não sofrendo de modo direto as marcas do regime militar como outras instituições de ensino superior, os primeiros cursos do Centro Paula Souza tinham a grade curricular dividida em duas áreas: a Técnica e a de Humanidades. As ideias de ideologia desenvolvimentista e de desenvolvimento com segurança não escaparam do currículo das faculdades e, deste modo, disciplinas como o Estudo de Problemas Brasileiros, Relações Humanas e Direito Trabalhista, e Humanidades fizeram parte de um caráter doutrinador – de obediência e respeito aos valores impostos naquele período (Brotti, 2012).
Outro ponto tratado na entrevista do professor Ayrton Barboni foi o fato do “episódio famoso” ocorrido na PUC de São Paulo e na época do Regime Militar: na noite de noite de 22 de setembro de 1977, a Universidade foi destruída e houve quem sofreu queimaduras graves durante um ato público na porta do teatro Tuca. Tratava-se da celebração da realização do 3º Encontro Nacional de Estudantes que havia sido proibido pelo regime militar e da comemoração da reorganização do movimento estudantil e da União Nacional dos Estudantes, que atuava na clandestinidade. Tropas policiais chegaram ao campus atirando bombas sobre os manifestantes e, em seguida, entraram na Universidade para prender professores, estudantes e funcionários (J.Puc-SP, 2021).
O professor Jaques chegou à Fatec ainda durante o regime militar, no ano de 1982, mas não presenciou nenhuma influência do Estado nas práticas da instituição, mesmo porque, segundo ele, a Matemática não foi uma área afetada naquele momento, e a área de ciências humanas e sociais chamou mais a atenção do regime, embora alguns pesquisadores das ciências naturais também tenham sofrido restrições em suas carreiras (Motta, 2014).
A Fatec São Paulo é de 1972 e eu cheguei 10 anos depois, em 1982, ainda sob o regime militar, mas não vi muita interferência dele aqui dentro, mesmo porque a Matemática não foi uma área tão afetada naquele momento. Eu entrei num momento na Fatec e agora presencio outro – o da expansão das faculdades. E o que aconteceu? Como diminuiu a procura de aluno por vaga é óbvio que se trabalha com um nível de conteúdo mais baixo trazido pelo ingressante, mas tem um detalhe, como eu tenho participado das formaturas, percebo que ainda temos um crivo que funciona em todos os semestres dos cursos. Nós temos aproximadamente 1.500 alunos por semestre, ou seja, entram por semestre, cerca de 1.300, 1.400 ou 1.500 alunos ou alguma coisa assim. Então, na formatura, teoricamente se saísse todo mundo, seriam 1.500 alunos egressos. Nós temos a formatura de todos os cursos realizada num mesmo dia, todos juntos, e nesses últimos quatro anos, estão saindo e se formando apenas 500 alunos, dos 1.500 ingressantes. Um terço. Nessa última formatura não chegou a 400 alunos, dos 1.500 aproximadamente que ingressaram, o que mostra que, embora o nível tenha diminuído ao longo dos tempos, continuamos segurando o aluno que não tem condições e eu acho que é isso que mantém o nome da instituição, porque o mercado de trabalho sabe que não vai pegar um aluno nosso com um diploma que possa ter sido facilitado (informação verbal[8]).
Quando da chegada do professor à instituição, já não mais se sofria, como no início do Regime Militar, o rigor da vigilância dos meios acadêmicos e com o controle exacerbado das pesquisas, a censura sobre publicações estudantis e o expurgo dos professores considerados contrários à filosofia de governo, que representavam uma ameaça em sala de aula. Mesmo a tortura de estudantes considerados subversivos, uma ameaça ao processo de modernização das universidades pouco a pouco desapareceu, já que eram os anos finais do último governo militar[9] (Motta, 2014).
De cordo com o professor Kurata, um dos entrevistados dessa pesquisa, a sua graduação em Matemática deveria acontecer em quatro anos, mas durou cinco anos devido à reforma universitária no final da década de 1960, mais precisamente, em 1968. Foi uma época em que o regime militar estava em seu apogeu e, de acordo com o relato do professor, ele acabou não tendo uma boa formação por conta das consequências do contexto da época. As greves, as assembleias e as paralisações que aconteceram durante seu curso também contribuíram para que ele não concluísse a sua faculdade no período usual.
Também peguei umas greves na época da ditadura. Então, quanto à formação que eu tive, eu acho que não foi boa porque tinha semestre em que se ficava um mês, dois meses de greve e alguns cursos que não foram bons. Eu acho que a minha formação na USP não foi boa em função de muitas paralisações, muitas assembleias porque era no prédio da Física o nosso curso, mais precisamente era no Instituto de Física que a maioria das nossas aulas acontecia porque a Matemática não tinha prédio próprio. Tínhamos aula no prédio da reitoria ou numa sala no bloco do Instituto de Física. Não éramos muitos alunos, em torno de 15, 20 alunos, no máximo. Algumas disciplinas reprovavam mesmo, por exemplo, disciplinas em que o professor lecionava, a ponto de se fazer a matrícula na disciplina já sabendo que não ia passar. Ninguém passava. Mas era um crânio o homem. Passei por tudo isso e não sei se hoje é assim ainda, já faz muito tempo que eu me formei, mais de 40 anos. Hoje a Matemática tem um prédio próprio, mas naquela época ficávamos pulando para lá e para cá, sendo que às vezes tínhamos aula na sala da Poli, no prédio da Física, na reitoria. Foi uma época difícil. Espero que hoje esteja melhor o curso (informação verbal[10]).
A área de ciências humanas e sociais, além de seus muitos professores expurgados e vigiados pelos militares, atraiu a atenção das agências repressivas e tornou-se objeto de iniciativas “pedagógicas” do governo como a implantação da disciplina de Educação Moral e Cívica, o que implicou a formação de professores de EMC nas instituições de ensino particulares (Motta, 2014). A área, tal qual o professor de Matemática, não sentiram tanto os reflexos do regime militar e o ensino da disciplina não padeceu de influência explícita do militarismo (Oliveira, 2013).
Ao relatar que sua formação não foi tão boa quanto gostaria, o professor atribui tal consequência às paralisações ocorridas ao longo de seu curso, que certamente ocorreram também em função da edição do Ato Institucional n.5, no final de 1968, que dava ao presidente da República poderes praticamente ilimitados, sem prazo para expirar, podendo ele demitir, remover ou aposentar qualquer servidor público, sem necessidade de processo ou inquérito (Motta, 2014).
Na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, frequentada pelo professor Kurata, a criação do AI-5 gerou uma sensação, entre os professores e alunos, de derrota política e desânimo. As aulas foram interrompidas em outubro de 1968, após a Batalha da Maria Antônia e só foram retomadas no início de 1969, no campus do Butantã, sob a alegação de desativar o prédio devido às situações precárias em que se encontrava (Motta, 2014).
A Batalha da Maria Antônia foi o nome do confronto entre estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCL - USP) e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ocorrido em 3 de outubro de 1968. Na época, as duas instituições, localizadas à Rua Maria Antônia, região central de São Paulo, eram vizinhas, e era comum que o endereço fosse palco de eventos como passeatas e manifestações. Desde meados de julho de 1968, o prédio da USP estava ocupado por estudantes que se reuniam constantemente em assembleias. No dia 3 de outubro, o tumulto começou por conta de um pedágio que os alunos da USP, situada no prédio onde antes funcionava a Junta Comercial de São Paulo, cobravam na Rua Maria Antônia. O valor serviria para custear o congresso da União Nacional dos Estudantes. Irritado, um aluno da Universidade Mackenzie atirou um ovo contra os cobradores do pedágio, o que levou os estudantes da Universidade de São Paulo a revidarem com pedras e tijolos. mackenzistas e uspianos acabaram se enfrentando com rojões, foguetes, coquetéis molotovs e tiros. Os estudantes se manifestavam com barricadas, pregos para os pneus dos carros da polícia e bolas de gude para derrubar a cavalaria (São Paulo, 2017).
Destarte, vale ressaltar que, em meio a turbulências políticas, houve a tentativa de modernização do Ensino Superior brasileiro, consequência da necessidade de mão de obra e de tecnologias próprias para caminhar rumo às demandas de desenvolvimento do país, podendo justificar a implantação da primeira Fatec no estado de São Paulo, a de Sorocaba, cidade que contava, à época, com um parque industrial muito grande, que demandava profissionais com formação técnica e tecnológica (Prado, 2018).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante as transcrições e textualizações das narrativas dos depoentes surgiram elementos que necessitavam de compreensões que, pressupostamente, iriam auxiliar na produção de dados e análises. Por meio dos depoimentos que dispararam indícios, houve um diálogo com outras fontes disponíveis. Foi necessário mergulhar em questões relativas ao entorno da criação das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo para que se pudesse melhor entender as tramas políticas que resultaram – ou contribuíram para – a configuração de um curso num determinado lugar e tempo, com determinadas características. Era a época da ditadura... Como aquele regime poderia ter influenciado a formação, o cotidiano e a atuação profissional de nossos entrevistados? Por que em alguns contextos a repressão não foi sentida do mesmo modo que em outros espaços? Por que a impressão de as faculdades de tecnologia não sentiu diretamente as retaliações do regime militar? Quais interesses motivaram a criação do Centro Paula Souza?
As fontes orais dispararam a operação historiográfica que foi desenvolvida, mas também dialogaram com tantas outras fontes que foram possíveis de consultar. Contar uma história, aqui, significou criar um texto, resultado de uma leitura que se abriu a leituras outras, interpretação e atribuição de significados mediante as vivências. Foi também exercício de negociação, de memórias várias, de relatos e impressões dos que viveram, cada um a seu modo, o contexto em questão. Acima de tudo, contar uma história proposta foi assumir a interferência de quem conta essa história, posto que não há, definitivamente, neutralidade em pesquisa.
Ao transitar por diferentes cenários já construídos, criou-se um palco – o palco dessa pesquisa –, mediante apropriações prévias, para que se pudesse compreender os meandros da implantação do Centro Paula Souza e de suas faculdades de tecnologia onde atuam as entrevistadoras e os entrevistados.
A função cultural da instituição acabou por estabelecer normas, práticas cotidianas e condutas que podem variar (ou permanecer) de acordo com a época, mas que, de modo geral, fez com que as faculdades deixassem de ser apenas um local de aprendizagem de saberes para se tornarem um local de incorporação de comportamentos e hábitos exigidos por uma filosofia de governo que apregoava uma formação em tempo reduzido e uma certa ordem social e educacional para atender às urgências do desenvolvimento do país e para sanar as necessidades de mão de obra qualificada e diferenciada daquela proveniente dos cursos de bacharelado.
Logo, os cenários apresentados constituem exemplos para se pensar (mesmo que brevemente) a cultura escolar para a ampliação do conhecimento histórico da educação e das transformações da instituição no período. As nossas entrevistas, as demais fontes e abordagens da pesquisa podem apontar como, no entorno dos artefatos culturais das Fatec, foram instituídas práticas discursivas, modos de organização pedagógica, constituição de sujeitos, aspirações de modernização educacional e significados simbólicos: ensinar Matemática para o mundo do trabalho em tempos de ordem social.
Se por muitas vezes nos deparamos com a escassez de outras fontes que pudessem nortear ou aprofundar a nossa pesquisa devido a singularidade do tema abarcado, para a reconstrução da história das Faculdades de Tecnologia do estado de São Paulo, alguns vestígios foram alavancados por meio das narrativas dos professores entrevistados e anunciaram uma cultura produzida nas faculdades ao longo da história e que tem se perpetuado até os dias atuais, a ponto de potencializar os seus sujeitos.
Contudo, cabe destacar que ainda há muito a se explorar, seja por meio das entrevistas, de outras fontes e/ou dos diálogos entre elas, contribuindo para estudos futuros e que possam culminar com as parcas pesquisas acerca da educação tecnológica no Brasil.
REFERÊRENCIAS
Belloti, E. C. S. (2015). Aspectos de Subjetivação e Memória na Criação da Extensão de Campus da Fatec/SP – em Ourinhos. In Carvalho, Maria Lucia Mendes de (Org). Patrimônio Artístico, Histórico e Tecnológico de Educação Profissional. (pp. 267-276). São Paulo: Centro Paula Souza.
Belloti, E. C. S. (2016). A Construção de Saberes e Memórias ao viés das Antigas Aulas de E.P.B. e de Eventos Culturais e Artísticos na Fatec de Ourinhos (SP). In: Carvalho, Maria Lucia Mendes de (Org). Coleções, Acervos e Centros de Memória. Memórias e História da Educação Profissional. (pp. 27-284). São Paulo: Centro Paula Souza.
Broti, M. P. (2012). O Ensino Superior no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza: sujeitos, experiências e currículo (1969-1976). Dissertação de Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade. Pontifícia Universidade católica de São Paulo. São Paulo.
J.Puc-SP. (2021). Lembrar é resistir: 40 anos da invasão da PUC-SP. Recuperado de: https://j.pucsp.br/noticia/lembrar-e-resistir-40-anos-da-invasao-da-puc-sp.
Ministério da Educação e Cultura. (2009). Centenário da rede federal de educação profissional e tecnológica. Recuperado de: http://portal. mec. gov.br/setec/ arquivos /centenario/histórico_educacao_profissional.pdf
Motoyama, S. (1995). Educação Técnica e tecnológica em questão. 25 anos de CEETEPS: uma história vivida. São Paulo: Unesp.
Motta, R. P. S. (2014). As universidades e o regime militar: cultura política brasileira e modernização autoritária. Rio de Janeiro: Zahar.
Napolitano, M. (2014). 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto.
Oliveira, F. D. de. (2013). Hemera: sistematizar textualizações, possibilitar narrativas. Tese de Doutorado. Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências. Bauru.
Prado, R. C. (2018). As Faculdades de Tecnologia do estado de São Paulo: um histórico da instituição e aspectos relativos ao ensino de Matemática nela praticado. Tese de Doutorado. Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências. Bauru.
São Paulo. (2021). Maria Antonia: dos tempos de regime de exceção à plena democracia. Recuperado de: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/mari a-antonia-dos-tempos-de-regime-de-excecao-a-plena-democracia/.
Notas
Ligação alternative
https://histemat.com.br/index.php/HISTEMAT/article/view/476 (pdf)

