
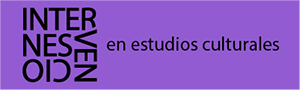

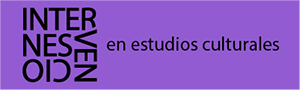
Artículos
Seguimos temendo os Estudos Culturais? Reflexões sobre os Estudos Culturais no Brasil
Seguimos temendo os Estudos Culturais? Reflexões sobre os Estudos Culturais no Brasil
Intervenciones en estudios culturales, vol. 3, núm. 4, 2017
Pontificia Universidad Javeriana
Palavras chave: Brasil, Estudos Culturais, Comunicação, Educação, Literatura Comparada
Em 2004, ainda no inicio de meu doutoramento em Literatura Comparada (LC) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)2 , propus a mim mesma pensar a respeito da então situação dos Estudos Culturais no contexto das pesquisas realizadas sob a égide dos estudos literários e, principalmente, sob a perspectiva da LC, vistas as constantes discussões teórico-críticas acerca das tensas relações entre os campos dos Estudos Culturais (EC) e da LC. Tal reflexão resultou no artigo “Quem tem medo dos Estudos Culturais?” publicado pela revista Organon (vol. 18, nº 37) da UFRGS.
Intitulei aquele artigo fazendo alusão ao título da peça de Edward Albee, Quem tem medo de Virginia Woolf? (1962), que teria sido inspirado por uma frase lida pelo dramaturgo no banheiro público de um bar. O trocadilho engendrado a partir da canção Quem tem medo do lobo mau, da animação Os três porquinhos (1933), dos Estúdios Disney, teria emergido de sua memória ao começar a escrever a peça. É este jogo de apropriações e transformações que articula distintos constructos culturais: o nome da escritora inglesa, Virginia Woolf, ícone da literatura feminina, que, no entanto, está na margem do sistema literário de hegemonia masculina, é imbricado à canção infantil imortalizada em uma produção dos Estúdios Disney, ícone da cultura massiva. É assim, definitivamente, que se articula o território dos Estudos Culturais. Ao apropriar-me do título de uma peça de Albee, por sua vez já esse título uma apropriação de uma frase sem autoria, revelo minha própria posição em relação ao tema e ao meu pensar acadêmico, o desejo de promover articulações no terreno das relações consideradas, a princípio, incompatíveis, como, por exemplo, a inusitada, mas comprovadamente possível, relação entre o Lobo Mau e Virginia Woolf, da qual Albee fez nascer um dos mais pungentes textos da dramaturgia estadunidense. Neste sentido, o título carregado de ironia que propus traz em si uma provocação aos meus colegas de antes e, também, e talvez de maneira mais bifurcada, aos meus colegas de agora em relação ao posicionamento que mantêm e que defendem quanto à presença dos EC na academia. Começava assim minha reflexão:
As discussões acerca da relação entre Literatura Comparada e Estudos Culturais têm se revelado um terreno movediço, com fronteiras nebulosas, de difíceis conclusões (mas quem deseja conclusões?). Cada vez mais parece que a questão está em manter, com unhas e dentes, um espaço “ilusório” de domínio acadêmico teórico-crítico. E talvez, mais do que se queira acreditar, tudo não passe da exteriorização de uma sensação de insegurança e de medo? Medo dos comparatistas de serem suplantados no interior dos Estudos Culturais, e medo dos críticos culturais de serem vistos apenas como mais uma vertente da Literatura Comparada. Mas afinal, entre nós comparatistas: Quem tem medo dos Estudos Culturais? (Medeiros: 2004, p. 1)
Utilizei a pergunta do título, “Quem tem medo dos Estudos Culturais?”, como ponto de partida para pensar sobre os sentimentos dicotômicos, de euforia e de desconfiança, no campo da Teoria Literária e, especialmente, da LC em relação aos EC. Para tanto, busquei colocar em diálogo textos de vários intelectuais brasileiros do campo comparatista, que se dividiam entre otimistas em relação à crítica comparatista cultural, como Tania Franco Carvalhal, Wander Melo de Miranda e Eneida Maria de Souza, e receosos, dentre estes Leyla Perrone-Moisés, Luiz Costa Lima e Heidrun Krieger Olinto.
Em 2004, adentrei a questão pela perspectiva da LC e das críticas que vinham sendo feitas à crescente falta de definição de seu campo de ação, que era associada à entrada dos EC em seu escopo de atuação. No entanto, como salientei na época, esta ascensão dos EC no fazer comparatista decorria da própria tendência interdisciplinar da disciplina (em sua vertente norte-americana) e da influência que a linha de pensamento dos EC, bem como de outras importantes linhas de pensamento, como o Desconstrutivismo, a Nova História e as Teorias Pós-coloniais, exerceram na transformação do fazer comparatista, ao colocarem em xeque conceitos como os de nação, de identidade, de língua e de literariedade, que, até então, eram tomados como referenciais seguros. Neste sentido, o discurso coeso, unânime e universalizante da LC deu lugar a um discurso plural, descentrado e situado historicamente. Enquanto no eixo Europa Ocidental/América do Norte a atenção se volta para as margens (étnicas e sexuais), no eixo periférico (China, Índia, África e América Latina) houve um desvio do olhar, que passou a tratar as questões a partir do próprio locus do pesquisador. A possibilidade do fazer comparatista de transitar em diversas áreas fez com que a “literatura” passasse a ser vista em suas relações e interferências com outras áreas do saber e da cultura, deixando de ser entendida como o objeto único e específico das pesquisas comparatistas.
Volto agora a pensar a respeito da situação dos Estudos Culturais no Brasil a partir de uma nova perspectiva. Professora do Mestrado em Letras – Literatura Comparada da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), atuando na linha de pesquisa Comparatismo e Processos Culturais, deparo- me outra vez com o questionamento dos limites (incertos e movediços) entre o fazer dos EC e o campo de atuação da LC. Mas minha reflexão é marcada, sobretudo, pela consciência de que a situação atual da América Latina e do Brasil exige uma atuação intelectual e acadêmica cada vez mais engajada e autorreflexiva, na qual é imperativo um olhar crítico sobre questões sociopolíticas, econômicas, culturais e educacionais, postura que é sancionada e estimulada pelos EC, principalmente, em sua vertente latino-americana.
No entanto, ainda há no Brasil muita incerteza em relação ao que são afinal os EC e, também, ao lugar deste fazer no campo teórico-crítico. Seria como área disciplinar, transdisciplinar ou pós-disciplinar? Com o intuito de pensar a respeito da atual situação dos EC no Brasil e buscando, também, fundamentar meu posicionamento teórico-crítico, proponho uma revisão e uma reflexão acerca dos caminhos, ora bifurcações ora encruzilhadas, dos EC no país.
Os EC no Brasil: transgredindo disciplinas
Quando falamos em EC, é importante pensarmos a respeito do lugar de onde se enunciam estes estudos, uma vez que são sempre marcados pela(s) história(s), cultura(s) e identidade(s) dos lugares em que são produzidos, configurando-se de maneira única em cada lugar. Com relação ao Brasil, vale destacar que a vocação à crítica cultural já existia no país antes mesmo da emergência dos EC, como comenta Maria Elisa Cevasco (2014):
é possível pensar a formação dos estudos culturais britânicos em relação “diversa mas não alheia” com um projeto de crítica cultural brasileira e a partir daí se pensar uma construção de estudos culturais no Brasil. Uma tradição brasileira de crítica cultural que converge com a formação dos estudos culturais como descrita aqui é a que se formou em torno da Universidade de São Paulo em duas gerações consecutivas (Cevasco, 2014: 4) .
A esta tendência, que se originou na USP, Antônio Cândido nomeou de “radicalismo modesto”. A revista Clima, editada por jovens intelectuais da USP, dentre eles Paulo Emilio Salles Gomes (1916-1977) e Antônio Cândido, não separava arte de sociedade, e buscava na crítica cultural caminhos para pensar a realidade nacional no contexto da acelerada industrialização. Era a crítica da sociedade através da cultura.
No artigo “Revisitando a antropofagia: os estudos culturais nos anos 90”, Ângela Prysthon retoma reflexões teórico-críticas que viriam a ser basilares para os EC brasileiros, propondo uma reflexão sobre a maneira como a crítica cultural que já se fazia no Brasil vai aos poucos sendo influenciada pela emergência no país dos EC e das teorias pós-colonialistas na década de 1990. Em relação aos estudos literários, Prysthon retoma as reflexões de Antônio Candido sobre as relações entre subdesenvolvimento e literatura, que seriam posteriormente relacionadas aos estudos subalternos, e retoma também a noção de “ideias fora de lugar”, de Roberto Schwarz, em Ao vencedor as batatas (1977), que redimensionou o conceito de dependência a partir de uma perspectiva crítica marxista. Para além dos estudos literários, a autora retoma os trabalhos de Renato Ortiz que, desde os anos 1980, propõe- se a analisar a cultura de massas e, em Mundialização e cultura (1994), discute a identidade nacional frente ao advento da globalização.
Vale aqui destacar que, em 2004, Ortiz publicou na revista Tempo Social, do departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia da USP, um artigo, intitulado “Estudos Culturais”, em que se propõe a responder a um conjunto de perguntas de pesquisadores de Stanford, a respeito da configuração dos Estudos Culturais no Brasil e na América Latina. Ele começa justamente por discutir a contraposição existente na tentativa de definirem sua atuação. Enquanto em Stanford o autor se vê reconhecido como um importante “latino-americanista dedicado aos Estudos Culturais”, no Brasil é visto “simplesmente” como sociólogo ou antropólogo.
Cada um a seu modo, o trabalho destes intelectuais pode ser entendido como releituras das propostas modernistas da Antropofagia3 como ferramenta de atuação e de análise para crítica cultural brasileira em relação às influências externas, e que vem propor a identidade nacional “como uma construção discursiva que visa a delinear diferenças, inverter e subverter oposições e questionar a dependência cultural” (Prysthon, 2002: 106). Neste jogo de repensar as relações entre a tradição estrangeira e a identidade nacional por um viés que desconstrua a ideia de dependência, surge a proposta de “entre-lugar”4, de Silviano Santiago, que pensa o nacional como uma mescla entre as ideias de progresso e modernidade e as minorias (culturais, sociais e linguísticas), um imbricamento de culturas e imaginários. A própria posição de Santiago estaria por sua vez no entre-lugar da crítica nacional ao estar entre o interesse na análise social e histórica, e os adeptos à análise da forma e da estética. A emergência estética e teórica deste terceiro espaço, que significa um lugar de interpenetrações, será discutida por críticos brasileiros e latino-americanos a partir do conto de Graciliano Ramos, “A terceira margem do rio”, que constrói a imagem de um lugar intangível e de mobilidade que a pós-modernidade e o pós-modernismo representam. O texto de Prysthon reafirma que a crítica cultural já estava presente nas análises e estudos brasileiros, antes da chegada dos EC ao Brasil, e como tal foi essencial na constituição de um viés brasileiro dos EC. Não por acaso, os intelectuais elencados por Prysthon foram alçados ao panteão dos Estudos Culturais brasileiros e latino-americanos quando assim começaram a ser entendidos por aqui.
Na perspectiva da constituição de um campo de atuação advindo das práticas da Europa e dos EUA, a entrada dos EC no Brasil se deu, conforme analisa Ortiz, pelas margens dos “departamentos hierarquizados de ciências sociais, particularmente nas escolas de comunicação” (Ortiz, 2004: 121), que apresentavam uma maior flexibilidade teórico-crítica, sendo uma área muito mais aberta que outras, como a sociologia, a antropologia ou a literatura. Mesmo assim, a adesão aos EC não significou colocar em discussão a área de atuação específica de cada disciplina.
Conforme Renato Ortiz, uma das inspirações para ascensão dos EC no Brasil e na América Latina adveio do dilema das identidades nacionais, questão que levou à compreensão do “universo cultural (cultura nacional, cultura popular, imperialismo e o colonialismo cultural) como algo intrinsecamente vinculado às questões políticas” (Ortiz, 2004), o que fez com que discutir “cultura” fosse, de certa forma, discutir política. Ou seja, a grande questão por trás dos Estudos Culturais é a associação entre teoria e política, que transforma a prática teórico- crítica do intelectual em uma forma de intervenção. Não por acaso, a expansão e a legitimação dos EC na América Latina confluíram com os processos de reabertura política pós-ditatoriais como um campo propício à reflexão sobre a reinserção democrática da região. Ortiz contextualiza o processo de emergência dos estudos EC na América Latina, e especialmente no Brasil, em três etapas: a emergência da indústria cultural, que redefiniu a ideia de cultura popular; o Estado-nação, como pressuposto básico da argumentação desenvolvida; e a institucionalização das ciências sociais, que “incentivou a separação entre compreensão da realidade e atuação política” (Ortiz, 2004).
A ascensão dos EC no Brasil conflui, então, com a sua ascensão nos campos teórico- críticos latino-americanos e a reflexão subsequente deste fazer, igualmente polêmica - basta pensarmos em Los Estudios y la Crítica en la Encrucijada, de Beatriz Sarlo, apresentada no Chile, em 1997; ou ainda em La épica de la globalización y el melodrama de la interculturalidad, apresentado por Nestor García Canclini no Simpósio New perspectives in/on Latin América, nos EUA, em 1998. Além disso, surgem no contexto latino-americano conceitos advindos desta nova perspectiva de análise, que não demoram a ser adotados na academia brasileira em várias áreas como, por exemplo, a ideia de “hibridismo cultural/ culturas híbridas”, formulada por Néstor Canclini; a “mestiçagem”, de José María Arguedas e retomada por Antônio Cornejo Polar; a noção de “mediação”, pensada por Jesús Martín Barbero; o conceito de “transculturação” formulado por Fernando Ortiz e reconfigurado por Ángel Rama; bem como o conceito de “descolonialidade”, proposto por Walter Mignolo
Uma coisa é certa, essa teoria viajante, como Heloisa Buarque de Holanda batizou os EC,5 causou grandes transformações por onde passou, principalmente em relação aos objetos de estudo encampados por cada área. Ao colocar a cultura no centro das discussões, os EC desierarquizaram os objetos de estudo e trouxeram questões marginais para o centro das discussões, desestabilizando o cânone das disciplinas. No Brasil, a década de 1990 foi marca pelo surgimento dos EC como uma perspectiva de pesquisa que atravessa três áreas do conhecimento de maneira mais notória: a Comunicação, a Educação e os Estudos Literários, principalmente, pelo viés da Literatura Comparada, a respeito das quais busquei retomar alguns percursos.
Os EC nas pesquisas em Comunicação
A vertente dos EC advinda da Escola de Birmingham (Grã-Bretanha) adentra o Brasil, primeiramente, através de pesquisas realizadas na área de Comunicação Social, principalmente, em relação aos estudos dos processos comunicacionais de mídia (media studies), de recepção e de audiência. A partir de meados da década de 1980, os estudos acadêmicos brasileiros na área da comunicação se voltam para os estudos de recepção, passando a entender o receptor como sujeito de sua ação, buscando entender teórica e metodologicamente a ação destes frente aos produtos dos meios de comunicação de massa que consomem.
Conforme Ana Carolina Escosteguy, em seu artigo “Delineamento para uma cartografia brasileira dos Estudos Culturais”, na década de 1990 estes estudos de recepção foram expandidos “sob influência da perspectiva das mediações” (Escosteguy, 2004: 23). As abordagens passam, desde então, a considerar as várias mediações sociais e culturais, apoiando-se em diferentes ênfases: classe social, gênero, raça, idade, contexto, identidades nacionais, regionais e étnicas. No início do século XXI há uma nova mudança no foco destes estudos, que se voltam, assim, para as diversas identidades culturais cada vez mais mediadas pelas tecnologias (novas e tradicionais) da comunicação (Escosteguy, 2004).
Quanto à institucionalização dos EC na área da Comunicação no Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tem sido um polo de expansão e aprofundamento, uma vez que a perspectiva da crítica cultural já perpassa sua atuação desde 1972, quando criou o Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura (EcoPos), no qual atualmente estão em atividade dois Núcleos de pesquisa relacionados aos estudos da cultura: o Centro Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos (CIEC),6 como laboratório autônomo do Programa de Pós-graduação da Escola de Comunicação; e o Núcleo de Pesquisa em Tecnologias da Comunicação, Cultura e Subjetividades (CIBERIDEA). Desde 1994, a mesma UFRJ tem em atuação o Programa Avançado de Cultura Contemporânea (PACC),7 vinculado ao Fórum de Ciência de Cultura – UFF/UFRJ, coordenado pela profa. Dra. Heloisa Buarque de Holanda. Vinculado ao Programa de Pós- doutorado em Estudos Culturais, o PACC fomenta contribuições interdisciplinares (principalmente, entre as áreas de Comunicação e de Letras) e tem como seus objetos de estudo a cultura contemporânea, mídias digitais, experiências artísticas, dinâmicas da desigualdade e fluxos migratórios globais. Incluído entre suas ações, o PACC organiza regularmente o seminário e abriga os projetos Universidade das Quebradas e Polo Digital. Além disso, o Programa possui uma revista indexada, Revista Z Cultural, e mantém no ar uma Biblioteca Virtual de Estudos culturais8 (atualmente desatualizada). Alem disso, foi a editora da UFRJ a responsável pelas primeiras publicações no país dos textos de Néstor Canclini, Beatriz Sarlo, Fredric Jameson, Martín-Barbero, Jean Franco e Edward Said.
Nos dias de hoje, uma das grandes áreas de atuação dos EC no campo das Ciências Sociais e da Comunicação Social, no Brasil, diz respeito aos estudos de mídia, que se consolidam em espaços acadêmicos, como o Departamento de Estudos Culturais e Mídia9, vinculado ao Instituto de Arte e Comunicação Social, da Universidade Federal Fluminense, criado em 2003, que “propõe uma visão abrangente dos fundamentos e processos do campo da mídia [...] e suas implicações culturais e políticas na sociedade” (Departamento de Estudos Culturais e Mídia, s/d); as linhas de pesquisa Práticas Culturais nas Mídias, vinculada ao Programa de Pós-graduação Mestrado e Doutorado em Comunicação Social, da Faculdade de Comunicação, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que publica a revista Cartografias10; e Estudos Culturais e Comunicação, do Curso de Ciências Sociais, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; e o curso de Pós-graduação em Consumo, Mídia e Práticas Culturais, do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Além disso, os EC estão presentes ainda nos cursos de graduação e pós-graduação em Comunicação do país por meio de disciplinas como, por exemplo, Estudos Culturais e Comunicação, presente no Mestrado em Comunicação da Universidade Paulista.11
Os EC no campo da Educação
A criação da linha de pesquisa “Estudos Culturais e Educação” no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1996, marcou o estabelecimento de algumas vinculações entre os EC e a Educação. Tal constituição e direcionamento teórico-crítico resulta de um caminho que vinha sendo trilhado na instituição, como, por exemplo, a publicação, um ano antes, em 1995, do livro Alienígenas na sala de aula – uma introdução aos Estudos Culturais em educação, organizado por Tomaz Tadeu da Silva, que apresentava alguns textos do livro Cultural Studies (1992) traduzidos para o Português. A apresentação do livro com uma explicação extensa do campo dos EC, realizada por seu autor, tornou-se um texto de referência na área. Outro marco teórico do pensamento sobre EC na área da Educação foi a publicação O que é, afinal, Estudos Culturais?
Os Estudos Culturais encontraram uma grande aceitação institucional no campo da Educação, tendo contribuído, por exemplo, para a consolidação da linha de pesquisa “Estudos Culturais em Educação”. Instituída no PPGEdu da UFRGS, essa nova linha de pesquisa originou o curso de Pós-graduação Lato Sensu Estudos Culturais nos Currículos Escolares Contemporâneos da Educação Básica (atualmente em sua quarta edição). A criação do curso de Mestrado em Educação na ULBRA, em 2002, com área de concentração nos Estudos Culturais, e a criação da linha de pesquisa Estudos Culturais da Educação, que deu origem ao curso de especialização, na modalidade EAD, Educação e Estudos Culturais, igualmente refletem o grau de aceitação dos EC no campo da Educação. Além disso, para dar vazão e visibilidade à produção intelectual na área, o Mestrado em Educação da ULBRA criou o Seminário Brasileiro de Estudos Culturais e Educação (SBECE)12que, em 2011, associou-se ao Seminário Internacional de Estudos Culturais e Educação (SIECE). Também o estabelecimento da linha de pesquisa Estudos Culturais e Educação no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba (2006), igualmente se inclui entre as ações que corroboram a consolidação da relação entre EC e Educação.
No artigo “Sobre a emergência e a expansão dos Estudos Culturais em educação no Brasil”, Maria Lúcia Castagna Wortmann, Marisa Vorraber Costa e Rosa Maria Hessel Silveira analisam os trabalhos de ECE (Estudos Culturais e Educação) realizados na linha de pesquisa da UFRGS e no Mestrado da ULBRA, dividindo-os em grupos, como Estudos culturais e a ressignificação de questões, discursos e artefatos relacionados ao campo pedagógico, ressignificação de questões, discursos e artefatos relacionados ao campo pedagógico; ou, ainda, Estudos culturais e a análise das pedagogias culturais em operação nos diversificados espaços contemporâneos; Estudos culturais e abordagens de identidade e diferença no campo da Educação no Brasil. Conforme as autoras, estas investigações estão eminentemente voltadas para processos educativos, mas
Trata-se, porém, de um educativo múltiplo e ampliado, a partir, especialmente, das reconfigurações dos modos como o saber circula nas sociedades contemporâneas – disperso, fragmentado, escapando dos lugares sagrados que anteriormente o continham e legitimavam, bem como das figuras sociais que o detinham e administravam (Wortmann, Costa e Silveia. 2012: 43)
Assim como no âmbito da Comunicação, a integração dos EC na área da Educação, no Brasil, foi natural.
Os EC no campo dos Estudos Literários – Literatura Comparada
A perspectiva cultural, como já vimos, é um viés importante da crítica literária brasileira que antecede a chegada dos EC ao Brasil, aqui tendo encontrado um campo fértil na Literatura Comparada, que apresenta uma grande mobilidade por campos teóricos, artísticos e culturais, e possibilita a incursão teórico-crítica a diversificados constructos culturais. No entanto, este perfil, que se intensificou com o advento dos EC, colocou em discussão a hegemonia da literatura enquanto objeto essencial e indispensável das pesquisas comparatistas.
E assim nasceu a ainda infinda discussão a respeito dos limites do campo de atuação da LC em relação aos EC, que recorrentemente atravessa a reflexão acerca do fazer comparatista. Ao mesmo tempo em que a LC encontra na perspectiva cultural e multidisciplinar um fértil território de atuação, festejado por aqueles a quem Raquel Lima reconhece como adeptos do “nomadismo da disciplina”; esta expansão de seu campo de ação é também criticada por aqueles que não se conformam “com a incorporação de teorias que desestabilizam os modelos interpretativos antes hegemônicos” (Lima, 2010: 27). Essa questão que já era levantada por Eneida Souza, em 1998, que entendia este embate entre os que “postulam a existência de uma teoria rigorosa, sistemática” e os críticos culturais como resultado de uma “necessidade de se manter o controle epistemológico em relação ao objeto de estudo” (Souza, 1998: 22), uma vez que este processo crescente de deslizamento das fronteiras disciplinares e, por conseguinte, questionamento da especificidade de seus objetos, resultou em uma abertura epistemológica. Há que salientar-se que, quando o campo da cultura passa a ser entendido como território de convergência de diversas áreas, já não faz mais sentido pensarmos na compartimentalização do conhecimento em disciplinas rígidas.
Este desdobramento da Literatura Comparada em direção à crítica cultural é visto por muitos como algo prejudicial à disciplina, pois tornaria difuso e incerto o seu objeto de estudos. Assim, a LC, que já se viu acusada de suplantar os estudos literários por sua abertura transdisciplinar, mantém-se na defensiva frente à ascensão dos EC em seu território, o que nos faz pensar que a institucionalização da disciplina acabou criando um autoritarismo teórico e derivou em um cerceamento temático.
O título do VI Congresso da ABRALIC, realizado em 1998, evidenciava esse debate: “Literatura Comparada = Estudos Culturais?”. A comunicação de Eneida Leal Cunha no evento, “Literatura comparada e estudos culturais: ímpetos pós-disciplinares”, colocou em discussão o ímpeto pós-disciplinar destes campos cada vez mais instáveis e movediços. Conforme lembra Souza, é no início dos anos 1980 que a LC começa a despontar nas universidades brasileiras. Neste sentido, a origem do imbricamento entre os fazeres dos EC e da LC se descortina pela coincidência temporal que resulta na recepção no Brasil de textos fundadores da crítica cultural. Além disso, como já falamos, neste período já se abriam nas universidades brasileiras espaços para a discussão de questões pertinentes aos EC, que saíam do modelo exclusivo de estudos textuais e propunham pensar a literatura em sua relação com a cultura. Foi a falta de um consenso entre as disciplinas que fez com que a LC fosse trazendo para sua área questões da crítica cultural
Novas orientações começam a surgir, deslocando-se a bibliografia tradicional de literatura comparada segundo o modelo europeu, para outra vertente mais condizente com o pós-estruturalismo francês e a releitura política operada por teóricos americanos e latino-americanos, sediados nas universidades americanas ou em suas instituições de origem (Souza, 2008: 5).
Esta inclinação à crítica cultural comparada tem resultado em debates teóricos, no contexto da própria ABRALIC, quanto à metodologia e ao objeto de suas pesquisas. Por um lado estão os “fundamentalistas”, que defendem a atuação disciplinar regida pelo estético e pelo literário usando como alicerce o nome da disciplina. Na contramão, vêm os “transgressores”, que acreditam na interdisciplinaridade e no valor da crítica cultural. Mas esta tendência à crítica cultural na atuação comparatista é evidenciada, por exemplo, no perfil teórico-crítico de vários intelectuais da área dos EC, convidados para os eventos promovidos pela Associação: Ricardo Piglia, Hugo Achugar, Beatriz Sarlo, Josefina Ludmer, Walter Mignolo, Ana Pizarro, Homi Bhabha, Stuart Hall, Fredric Jameson, Gayatri Chakravorty Spivak, Andréas Huyssen, Nelly Richard, Alberto Moreiras, Paul Gilroy, George Yúdice, Ernesto Laclau, dentre outros. E a publicação de traduções de livros referentes à critica cultural, como os de Stuart Hall e Homi Bhabha pela Editora da UFMG, no contexto dos estudos literários (quando dirigida por Walter Melo Miranda) corrobora o interesse nesta perspectiva teórica. Além disso, mesmo dentre aqueles que prescindem da presença de um objeto literário como uma das partes da análise comparatista, há uma notória tendência à utilização de referenciais teóricos advindos de outras áreas do saber e, principalmente, nos últimos tempos, advindos dos EC.
Na seara de institucionalização dos estudos literários relacionados à LC há um tímido desenvolvimento de espaços acadêmicos destinados aos EC, como se esta atitude fosse legitimar uma preponderância da crítica cultural em detrimento do literário. O título do seminário realizado pela UNESP, em 2016, III Seminário de Estudos Literários - “Literatura Comparada e Estudos Culturais: Intersecções” - aponta para a persistência de uma tensão entre as duas instâncias e para apersistência de um temor quanto ao apagamento dos limites entre o que é do campodos EC e o que define a LC. Neste sentido, (apesar de uma expressiva presença enquanto linha de pesquisa) são poucas a instituiçõesque utilizam os EC como nomenclatura para seuscursos no contexto da área de Letras e Linguagenscomo, por exemplo, o Núcleo de Estudos CulturaisComparados (NECC), da Universidade Federal doMato Grosso do Sul, que tem por objetivo oportunizara um número maior de estudantes de graduação ede pós-graduação, bem como a pesquisadores emgeral, o debate contemporâneo em torno dos EstudosCulturais e da Literatura Comparada, privilegiandouma perspectiva transdisciplinar.
Hoje, quase vinte anos após VI Congresso da ABRALIC, “Literatura Comparada= Estudos Culturais?”, precisamos mais que nunca fazer eco ao clamor que lá foi lançado por Wander Miranda, pela “emergência de um entre-lugar discursivo como possibilidade de redefinição do valor da literatura e de reformulação do comparativismo como estratégia de resistência à uniformização globalizante” (Miranda, 1998).
Reconhecimento dos EC na produção de conhecimento brasileira
Apesar da influência dos EC no fazer teórico-crítico e metodológico dos intelectuais de diversas áreas do saber nas universidades brasileiras, os EC ainda não figuram na tabela de Área do conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)13. E apenas há pouco tempo começaram a surgir no Brasil cursos destinados, especificamente, à área. Ao buscarmos a expressividade da área na produção de conhecimento, tomando como base as revistas indexadas pelo Qualis Capes14, os EC aparecem no título de cinco revistas indexadas, quatro brasileiras e uma portuguesa: Cadernos de Estudos Culturais15, do Núcleo de Estudos Culturais Comparados (NEC),16 do Mestrado em Estudos da Linguagem – Literatura Comparada, da Universidade Federal do Matogrosso do Sul (UFMS), e Revista de Estudos Culturais17, do Programa de Pós-graduação em Estudos Culturais da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da Universidade Federal de São Paulo (EACH-USP), que possui o Mestrado Acadêmico em Estudos Culturais18, incentiva a submissão de trabalhos em todas as vertentes dos EC, especialmente, mas não apenas, articulando elementos das seguintes abordagens: Cultura, Política e Identidades, Crítica da Cultura, Cultura e Ciência, Cultura, Saúde e Educação; Revista Fenix – Revista de História e Estudos Culturais19, do Núcleo de Estudos em História Social da Arte e da Cultura. Revista Diálogos – Revista de Estudos Linguísticos, Literários, Culturais e Contemporâneos, da Faculdade de Ciências, Educação e Tecnologia de Garanhuns, Universidade Federal de Pernambuco. Há também a portuguesa, Revista Lusófona de Estudos Culturais20, do programa Doutoral em Estudos Culturais, das Universidades do Minho e de Aveiro, primeira em Portugal a dedicar-se exclusivamente aos EC. No entanto, cabe aqui destacar que os EC não constam como uma das áreas do conhecimento de avaliação do Qualis Capes.
Por outro lado, contrariando a parca visibilidade institucionalizada dos EC, ao buscarmos por “estudos culturais” no diretório de Grupos de Pesquisas certificados pelo CNPq, encontramos quarenta grupos que os referem diretamente em seus nomes. São dezesseis na área das Ciências Humanas; oito na área de História21; três na Antropologia22; três na área de Sociologia23; dois da área de Psicologia24. Onze grupos são da grande área Linguística, Letras e Artes, sendo seis da área de Letras25; três da área de Artes26; e dois da área de Linguística27. Seis estão na área da Educação28, quatro estão na área das Ciências Sociais Aplicadas, três na área de Comunicação29 e um da área de Ciência da Informação30; três na área de Ciências da Saúde; dois na área de Educação Física31, e um na área de Enfermagem32. Se fôssemos considerar outros grupos de pesquisa cujos nomes derivam ou estão relacionados aos EC, estes números serias ainda maiores e, igualmente, ampliaríamos as áreas do conhecimento de sua incidência. Esta transversalidade dos EC se evidencia ainda ao observarmos sua presença institucionalizada em outras áreas do conhecimento, para além das áreas já destacadas (Comunicação, Educação e Letras) como, por exemplo, o Mestrado em História e Estudos Culturais da Universidade Federal de Rondônia; o Mestrado Acadêmico em Estudos Culturais da Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP; o Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos, da FUMEC; o ERA – Departamento de Artes e Estudos Culturais da Universidade Federal Fluminense, criado em 2010; e as especializações em Estudos Culturais: arte, música e sociedade da UNASP; Estudos Culturais, História e Linguagens da UNIJORGE; Linguagens, Produção Textual e Estudos Culturais do Instituto Federal Baiano.
Sob este olhar fica mais fácil compreendermos que os EC não rompem com os limites disciplinares, mas propõem que as disciplinas sejam entendidas como territórios para atuações compartilhadas de multi e transdisciplinaridade, pois, conforme Ortiz (2004), “os Estudos Culturais caracterizam-se por sua dimensão multidisciplinar, a quebra das fronteiras tradicionais estabelecidas nos departamentos e nas universidades. E é neste ponto que Ortiz se ancora para explicar a ascensão dos EC no Brasil e na América Latina, uma vez que em nossas universidades “as fronteiras disciplinares nunca conseguiram se impor com a mesma força e rigidez que nos Estados Unidos” (Ortiz, 2004).
Os EC como perspectiva intelectual de resistência
O desenvolvimento deste texto e a pesquisa que se feznecessária para escrevê-lo me fizeram visualizar quehá um crescimento no interesse de pesquisadores brasileiros das mais variadas áreas do conhecimento pela perspectiva de investigação e análise dos EC. E é inegável e notória a forma como as reflexões teórico-críticas do campo dos EC estão sendo cada vez mais utilizadas por estes intelectuais. No entanto, no âmbito institucional, e não apenas no campo dos estudos literários do qual partiu minha primeira incursão neste debate, seguimos temendo avalizar a presença dos EC em nossas áreas por meio de um posicionamento quase mercadológico que parece ter como objetivo uma reserva de mercado.
Talvez por meu trânsito teórico-crítico e epistemológico nas três áreas destacadas neste artigo, quais sejam a Comunicação, Educação e Literatura Comparada, seja natural que eu credite e propague a ideia de um caminho de convergência e de entrecruzamentos norteado pelo enfoque dos EC, perspectiva que, além de ampliar nosso arcabouço teórico, também expande nosso espectro de atuação para objetos que durante muito tempo foram deixados à margem da academia, ou que eram sempre relegados ao mesmo tipo de investigação, rompendo assim com antigos paradigmas que há tempo já não dão conta da realidade dos objetos, dos produtos e dos consumos culturais sobre os quais é cada vez mais imperativo depositarmos nossa atenção.
Em 2004, Ortiz se eximiu de tentar prever se os Estudos Culturais viriam a se tornarem uma especialização acadêmica, e aproveitou para questionar a “institucionalização do conhecimento”, que, para ele, restringe a ação do pesquisador e da área do conhecimento ao estabelecer o que está “dentro” e o que está “fora” dos campos teóricos. E mesmo havendo um movimento que vem colocando a cultura como território de convergência de diversas áreas do conhecimento, confirma-se a percepção de Ortiz (2004), de que o campo dos EC dificilmente será “circunscrito às fronteiras canônicas das disciplinas preexistentes”.
A tentativa de definir o que são os EC tem sido recorrente no campo teórico brasileiro, basta lembrarmo-nos do livro O que é, afinal, Estudos Culturais?, de Francisco Rüdiger, organizado e traduzido por Tomaz Tadeu da Silva, em 1999. E, mais recentemente, Dez lições sobre estudos culturais (2008), de Maria Elisa Cevasco, torna a tentar desvendar esta incógnita. Pensando sobre esta dificuldade de encerrar os EC em um domínio restrito, considero muito oportuna a reflexão de Eneida Cunha, de que
O campo difuso e sem fronteiras dos Estudos Culturais vem sendo reiteradamente descrito pela negativa, ou pela falta – de um domínio particular de objetos, de práticas metodológicas demarcadas e homogêneas, de léxico e tradições próprias; frequentemente vem sendo também referido e apreciado com palavras inesperadas, às vezes por demais imprecisas ou impropriamente restritivas, como “estudo da cultura contemporânea” – seria mais próprio dizer-se, penso, o estudo contemporâneo das culturas; outras vezes com palavras engajadas, que desenham “um momento utópico”, lugar onde as políticas da diferença racial, sexual, cultural, transnacional, podem ser articuladas (Cunha, s/d: 21-22).
Os EC confluem com a crítica cultural, uma prática recorrente no fazer latino- americana e brasileira em nosso contexto pós-colonial e globalizado. Eles não somente nos permitem assim como nos instigam a analisar e estudar os produtos culturais, artísticos e midiáticos, tanto como os processos de configuração identitários, socioculturais, políticos e econômicos a eles envolvidos. É uma perspectiva teórico-crítica que não apenas comporta, mas que efetivamente provoca análises em contraponto, as quais invertem o olhar da margem para o centro e da versão para o modelo.
Afilio-me, assim, à reflexão de Eneida de Souza, de que o Brasil acompanha a tendência latino-americana de avanço da crítica comparada e cultural como resposta dos países periféricos aos projetos hegemônicos. Esta perspectiva coloca em evidência o fato de que as disciplinas devem sofrer transformações, mas também, e quem sabe se principalmente, deve ocorrer uma reconfiguração na atuação intelectual brasileira e latino-americana, rumo ao abandono da utilização excessiva de termos e métodos estrangeiros que nada têm a ver com o contexto crítico de recepção (Souza, 2004).
Na atualidade, quando vivemos a intensificação dos processos de globalização e de mundialização, que resultam em crescentes produções transnacionais, reforça-se a necessidade de um repensar constante sobre as identidades culturais do Brasil, dos países latino-americanos e da própria América Latina, a partir de uma perspectiva descolonial e não subalterna. Como destaca Heloísa Buarque de Holanda,
Com a entrada hoje da América Latina no mundo globalizado, através dos acordos econômicos e políticos em curso, vemos os movimentos sociais e as novas demandas culturais explorando este espaço como um espaço privilegiado para novos desenhos de identidades, estratégias, políticas e, principalmente, para o efetivo reforço de poderes locais. (Holandaa, s/d).
Estas estratégias transnacionais, como salienta Holanda, recolocam as diferenças locais no centro da constituição das identidades latino-americanas. Seria a consciência desta condição a responsável pela maneira original como os EC na América Latina abordam: “a tensão entre a cultura local e global, o papel da cultura no mercado de bens simbólicos e a busca de novos modelos e conceitos operacionais que deem conta da complexidade da produção cultural transnacionalizada” (Holandaa, s/d). O fluxo cada vez maior de informações, associado às migrações massivas, propõe situações inéditas para as produções locais (artísticas, culturais, midiáticas) que colocam em xeque paradigmas que já não dão conta destas situações. E tudo isso, conforme Holanda, resulta no questionamento das relações de poder e de valor em uma paisagem multicultural com traços neoliberais que “desafiam noções tão básicas para nós como a de democracia e espaço público” (Holandab, s/d).
Pensando sob este sentido, entendo que são os EC no Brasil e na América Latina os responsáveis por abrir espaços para amplas e importantes discussões acerca das políticas públicas, culturais e estéticas de produção e de consumo do campo acadêmico tanto no âmbito global quanto local. E creio que na atual conjuntura do país e do continente é crucial que os intelectuais nacionais atuem na constituição de um diálogo teórico internacional que, no entanto, seja norteado pelas peculiaridades locais na configuração de espaços para a discussão e a reflexão. Vivemos um momento que exige o repensar do papel da Universidade frente a questões sociais, políticas e culturais. E, para tanto, é imprescindível não apenas deixar de temer os EC como, principalmente, diferenciá-los dos estudos de cultura, não deixando assim que se tornem meros exercícios de análise, desprovidos de sua original inquietação política e social.
Referências
Cevasco, Maria Elisa. 2003. Dez lições sobre estudos culturais. São Paulo: Boitempo.
Cevasco, Maria Elisa. 2003. Estudos Culturais no Brasil. Alternativas. Disponível em: http://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/64797/CLAS_AN_AU14_Cevasco_Licao10.pdf?sequence=1
Cunha, Eneida Leal. Estudos Culturais e contemporaneidade. Ipotesi, Revista de Estudos Literários. Juiz de Fora, v. 5, (2), p. 17- 25, sd. Disponível em: http://www.ufjf.br/revistaipotesi/files/2009/12/Estudos-culturais-e-contemporaneidade1.pdf
Escosteguy, Ana Carolina D. Cartografias dos estudos culturais: uma versão latino- americana. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. Disponível em: https://identidadesculturas.files.wordpress.com/2011/05/cartografias-dos-estudos-culturais-uma-versc3a3o-latino-americana.pdf.
Escosteguy, Ana Carolina D. Delineamento para uma cartografia brasileira dos Estudos Culturais. ECO-PÓS, V7, (2), p. 19-30, 2004. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/viewFile/1118/1059
Hollanda, Heloisa Buarque (a). A academia entre o local e o global. Site Heloisa Buarque de Holanda. Disponível em: http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/a-academia-entre-o-local-e-o-global/
Hollanda, Heloisa Buarque. (b). Processos de transculturação. Site Heloisa Buarque de Holanda. Disponível em: http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/a-academia-entre-o-local-e-o-global/
Lima, Rachel Esteves. Os estudos culturais e a crise da universidade moderna. In: Cadernos de Estudos Culturais, Campo Grande, v.1, p.63-72, 2009. Disponível em:https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/16311/1/Os%20Estudos%20Culturais%20e%20a%20crise%20da%20universidade%20moderna.pdf
Lima, Rachel Esteves. A resistência à empiria. Aletria, v. 20, (1), p. 25-33, jan./abr, 2010. Medeiros, Rosângela Fachel. Quem tem medo dos Estudos Culturais? In: Organon:Revista do Instituto de Letras da UFRGS. V.18. (37) Porto Alegre: UFRGS, 2004. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/index.php/organon/article/view/31185/19360
Miranda, Wander M. (1998b). Comparativismo literário e valor cultural. In: Congresso da abralic, 6. Anais. Florianópolis: NELIC.(CD-ROM).
Nolasco, Edgar Cesar (Org). Cadernos de Estudos Culturais. V. 1, (1), Campo Grande: UFMS, 2009. Disponível em: https://docs.google.com/file/d/0B190HjTl2j1FMDE3MmUyMDctODdlNy00M2M5LThkOTYtMWI4NmRmMmVkNWVh/edit?hl=en#
Ortiz, Renato Ortiz. Estudos Culturais. Tempo Social. vol.16, (1) São Paulo, 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702004000100007
Pristhon, Ângela. Revisitando a antropofagia: os estudos culturais nos anos 90. Revista FAMECOS, (17), p. 101-110, Porto Alegre: PUCRS, 2002. Disponível em: http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/famecos/article/view/302/233
Silva, Tomáz T. (org.) 1999. O que é, afinal, estudos culturais? Belo Horizonte: Autêntica.
Souza, Eneida Maria de. Critica comparada e cultural. Revista Conexões letras. 2008.
Souza, Eneida Maria de. Crítica Cultural em Ritmo Latino. MARAGTO, Izabel; GOMES, Renato Cordeiro (Orgs). 2004. Literatura/Política/Cultura. Belo Horizonte: Editora: UFMG.
Souza, Eneida Maria de. A teoria em crise. Revista Brasileira de Literatura Comparada, Florianópolis, (4) p. 19-29, 1998.
Notas

