
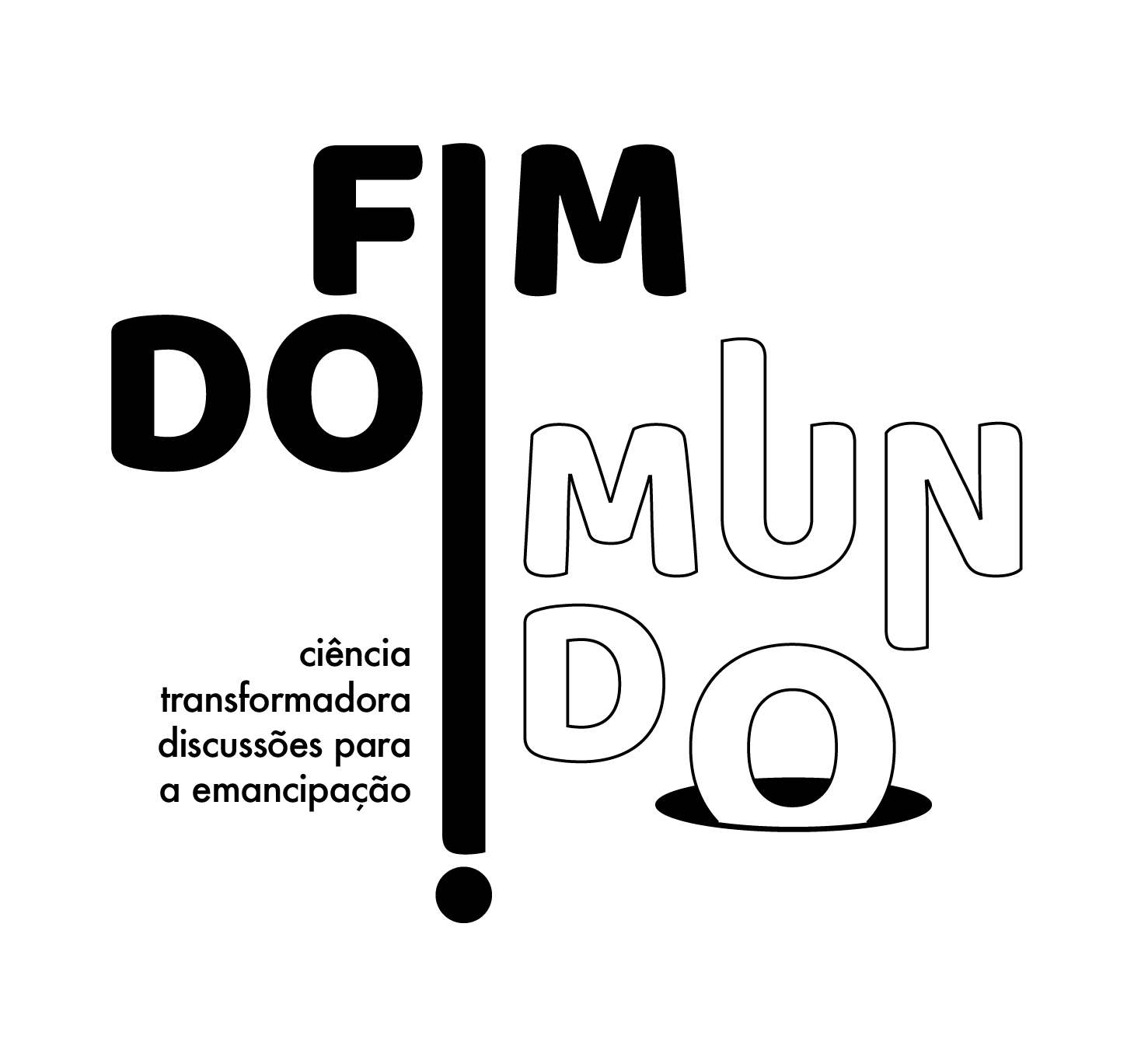

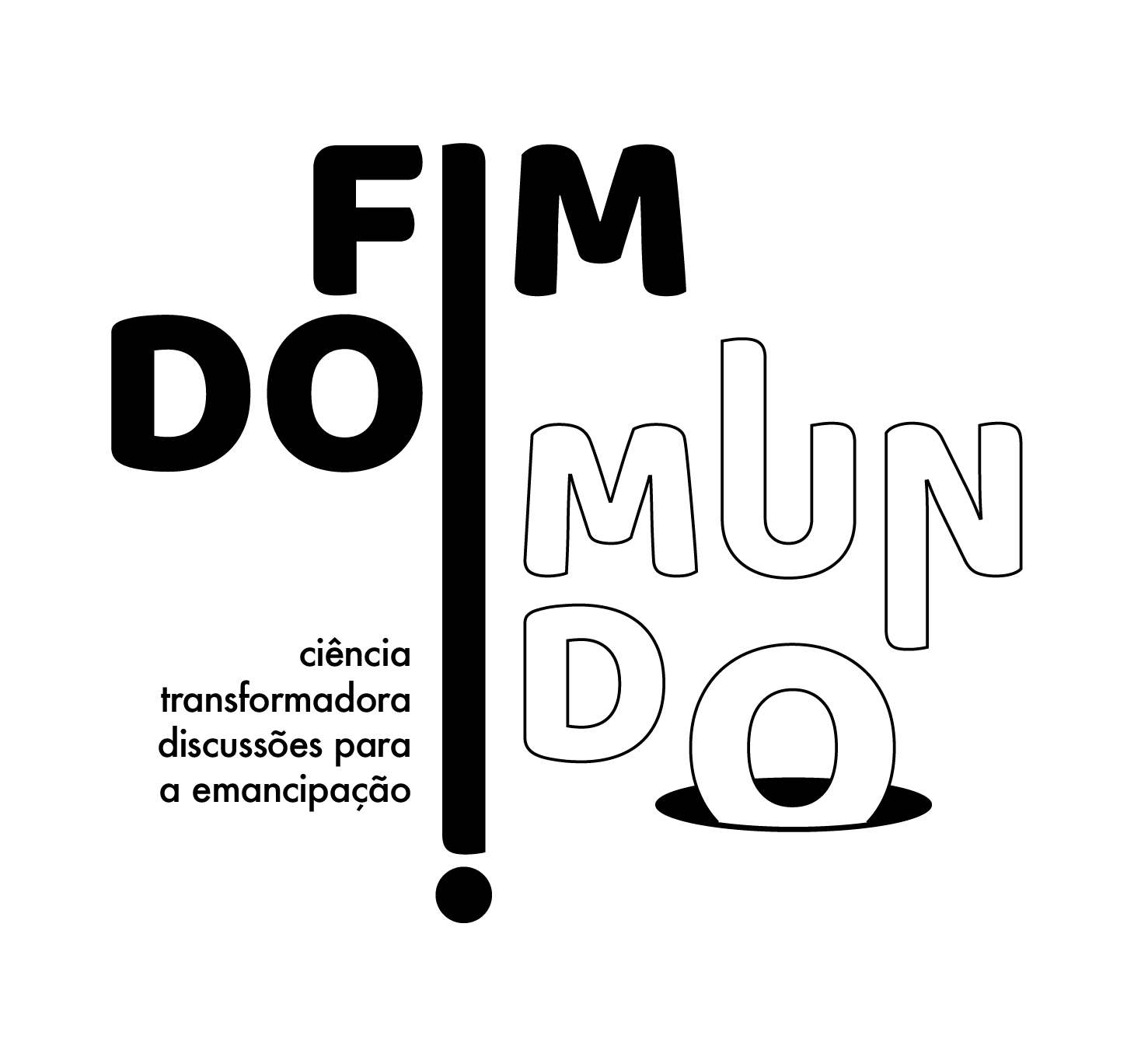
Texto para discussão
“Irene no Céu”: Poesia e Racismo
Revista Fim do Mundo
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil
ISSN: 2675-3812
ISSN-e: 2675-3871
Periodicidade: Cuatrimestral
vol. 2, núm. 4, 2021
Recepção: 19 Agosto 2020
Aprovação: 02 Março 2021

Resumo: Em “Irene no Céu”, Manuel Bandeira focaliza uma personagem estigmatizada por preconceitos, à qual busca revitalizar por meio de recursos da linguagem poética. Isso nos permite discutir posições equivocadas e condicionamentos a partir da cena criada pelo poeta do Modernismo brasileiro.
Palavras-chave: Manuel Bandeira, racismo, poesia.
Resumen: En “Irene no Céu”, Manuel Bandeira se centra en un personaje estigmatizado por los preconceptos, al que busca revitalizar mediante recursos del lenguaje poético. Esto nos permite discutir posiciones equivocadas y condicionamientos a partir de la escena creada por el poeta del Modernismo brasileño.
Palabras clave: Manuel Bandeira, racismo, poesía.
Abstract: In “Irene No Céu”, Manuel Bandeira offers us a brief picture of a character who is stigmatized by racial prejudice. The poet intent to give her a new perspective through researches of poetic language. Thus, it´s possible to discuss some questions about that subject focused on by the Brazilian modernist poet.
Keywords: Manuel Bandeira, racism, poetry.
É bem conhecido o poema de Manuel Bandeira (1973, p. 125) que, em sete versos enxutíssimos, sintetiza não apenas sua visão acerca de uma figura humana como também sua própria poética. Revisitemos o texto:
Irene
no Céu
Irene preta
Irene boa
Irene sempre de bom humor.
Imagino Irene entrando no céu:
- Licença, meu branco!
E São Pedro bonachão:
- Entra, Irene. Você não precisa
pedir licença.
Se “Irene no Céu”, poema contido no livro Libertinagem (1930), aparece em quase toda antologia que se faz da poesia de Bandeira, é porque, no mínimo, algo inquietante o texto contém: a simplicidade e naturalidade e da linguagem são evidentes demais para se reduzirem a essa transparência. O leitor não pode se enganar; há uma realidade que se oculta sob a objetividade dessa composição poética e é preciso desvendá-la para não se correr o risco de perceber no poema o menos importante. Afinal, se o percurso de Irene define-se com clareza e parece assegurado de pronto, o percurso do leitor é bem outro, pois, para entrar no reino do poético e entendê-lo, é preciso um caminho não tão fácil, o qual exige a percepção de outra faceta da linguagem, sua “carnadura concreta”, expressão de João Cabral de Melo Neto, ao defender a espessura ou densidade da palavra.[3] Evidentemente a linguagem do poema de Bandeira, como a de outros de sua produção poética, não tem a “carnadura” ou espessamento como os de João Cabral, seus recursos estéticos são outros, mas, em se tratando de poesia, facilidade e simplicidade não existem.
Por que nos incomoda o aspecto sintético e objetivo do poema? Que realidade outra passa a se revelar com uma leitura mais profunda do texto? De que modo se constrói a linguagem para possibilitar essa revelação? Tais indagações são úteis para todo ato interpretativo, pois instigam a reflexão a buscar caminhos para encontrarmos os sentidos ocultos na linguagem, ou os “vazios”[4] que ela contém em seu funcionamento poético. O espírito indagativo, socrático, não perde sua atualidade e sempre é bem vindo para o discurso crítico.
Comecemos pelo título. Nele se define uma situação clara e definida para a personagem, seu destino está cumprido e seu espaço conquistado. Irene está salva de saída, aureolada numa esfera assegurada pelo poeta como merecimento. Ela conquistou o reino e a glória, destacada por atributo gráfica e semanticamente pelo enunciado.
No corpo do poema, a personagem desponta como referência insistentemente evocada, por meio de anáforas, mas o que significa essa repetição do nome Irene no início dos três versos? Não se trata de chamar atenção para o nome em si mesmo (outro que fosse, talvez lograsse o mesmo efeito), e sim para a necessidade de afirmação de um ser que surge para o leitor como vocacionado para cumprir uma trajetória poética pré-traçada. Digamos que Irene aparece como figura absoluta, a reinar numa esfera aparentemente autônoma, pois ela ocupa o espaço da enunciação, encobrindo (mas não excluindo) a presença do sujeito poético. Porém, tal soberania vem condicionada por atributos dos quais não poderá fugir, marcados que estão pelo caráter inalienável com relação ao ser e pelo determinismo que envolve a constatação do poeta. Parece ser preciso dotar a personagem de qualidades que a justifiquem como ser eleito, por Deus e pelo poeta. Curiosa eleição: o mérito – a conquista do céu associada a valores positivos – parece mais fruto de uma convenção do que uma demonstração pessoal de valor.
A primeira marca de identidade de Irene é a cor preta, como se a partir da definição étnica é que os outros atributos – bondade e bom humor – ganhassem sentido e intensificassem seu valor positivo. Por outras palavras, ser preta precisa figurar logo de início como uma espécie de alerta para que se coloquem em pé de igualdade as três características, negritude, bondade e bom humor (notemos o paralelismo sintático da construção dos versos). É como se no fundo, no avesso da linguagem (ou seu não-dito, ou “vazio”) se tratasse de um desacordo mal disfarçado pelo trato eufemístico da linguagem. Ou melhor, como se houvesse uma equivalência forçada (e forjada) das três qualidades a fim de ressaltar a preta “de alma branca”.
Notemos a forma seca, direta, de apresentar Irene, reduzida a qualidades que bastam por si mesmas, dispensam explicações. Nos três versos, segmentos nominais, contendo o necessário para englobar o nome e atributos, como se a personagem devesse ficar única, não desfigurada pela predicação verbal. Enfim, a apresentação de Irene sela uma garantia de permanência nesse reino de eleição, como se nada mais fosse preciso acrescentar, como se não fosse possível imaginar outra conquista senão a do céu. Eis o sentido do 4º verso[5], em que o “imagino” reforça uma situação já esperada, pois construída desde o início pelo poeta.
A fala de Irene (5º verso) revela mais um componente moral da personagem – a submissão – expressa num mínimo de palavras, na forma carinhosa com que apela a “meu branco” e na emotividade exclamativa do pedido humilde a São Pedro para entrar no céu. Nesse verso, conjugam-se subserviência, humildade, bondade e tendência à constância e passividade (“sempre de bom humor”), enfim, um comportamento virtuoso louvado e estimulado pela mística cristã. Ser bom e praticar o bem são as condições necessárias para o caminho da salvação, caminho que Irene não escolheu por si mesma. Ser bom, mas não “bonachão” enunciado no 6º verso. A bondade de Irene nitidamente com a de São Pedro, já que este representa uma bondade convencionada pela tradição e crença popularescas; uma bondade caricata, expressa na forma irônica do aumentativo. E é claro que, a essa altura, atendendo à expectativa criada em torno de seu desempenho, o Santo não pode barrar Irene. Provações? Nenhuma. A única barreira que ela mesma se impõe, como resultado de um condicionamento que a disciplinou, é o pedido de licença, de pronto dispensado pelo guardião do céu.
O poema de Manuel Bandeira não pode se reduzir a essa espécie de mitificação da figura do negro, eufemisticamente substituído por preto, coroando-o de virtudes cristãs e assegurando-lhe um destino tão facilmente conquistado. Trata-se, portanto, de um primeiro plano de significação ou de uma primeira leitura propiciada pela forma sintética da composição do texto. Mas tal leitura reclama um caminho de desconstrução dessa mística, motivado pela ironia – traço característico da poética de Bandeira. É então que o aprofundamento do olhar crítico se faz necessário para enfrentar o desafio da linguagem poética, em que o indizível se torna “legível” para o leitor, mas uma legibilidade entre aspas, posto que produzida, acionada pela leitura.
De um lado, a sensibilização e inclinação do poeta para o retrato de vultos familiares e comuns, no caso a figura de Irene, paradigma de bondade e humildade; de outro, o caráter incisivo da linguagem, pautada pelo ritmo quebrado e pela objetividade o quadro cênico em que figura a personagem. O lirismo puro e descomprometido cede lugar ao distanciamento irônico, em que uma realidade mais cruel começa a aflorar.
Na aparente simplicidade com que é montado o cenário, ou na condensação esquemática dos principais traços da personagem nele inscrita, oculta outra realidade que desfaz a aura positiva (abençoada?) da situação apresentada e desacomoda o encontro feliz entre Irene e seu destino. Nesse ponto, o estilo humilde de Bandeira, conforme Davi Arrigucci analisa em sua obra[6], funciona antes como uma máscara que faculta à linguagem inscrever a humildade num hábil jogo de “fingimento” poético, de modo que ela já não é mais ou somente humildade e sim arma de forte consciência crítica.
Em verdade, o poema de Bandeira denuncia uma moral ético-religiosa assentada em valores discutíveis, porque preconceituosos. Ser preto, ser bom, ter bom humor justificam-se como passaporte para a entrada no céu? Porque a bondade deve estar associada ao negro? A submissão e a humildade do negro serão dons necessários para lhe garantir liberdade e salvação.
Vejamos. A personagem do poema não teve chance de mostrar o menor sinal de fragilidade e autenticidade, como se escolhida para cumprir uma missão pré-determinada, não carregando nenhuma contradição interior. Se a conquista do reino celeste se fez graças à presença de virtudes consagradas pela religiosidade (em especial a cristã) diante do destino humano, o mesmo não se pode dizer da conquista de um estatuto terreno.
O percurso histórico tem demonstrado que a insubmissão, a ousadia, a desobediência e coragem do negro dificultaram, mas não comprometeram sua liberdade. Se esta foi conquistada, isso se deu exatamente graças a essas atitudes que contrariam o espírito subserviente apregoado pelo Cristianismo (e pelo poema). E ninguém melhor que os próprios negros, unidos por uma consciência coletiva de raça, puderam demonstrar isso numa práxis dinâmica, sangrenta, violenta, marcada por vários movimentos de libertação do jugo escravocrata.
No entanto, o poema de Bandeira não pretende mostrar essa militância ativa do negro. O que faz então o texto do nosso poeta modernista? Sublima para a esfera celeste a condição existencial do negro, fazendo transparecer apenas o lado positivo do seu caráter moral, como que a colocando a salvo de outra esfera – aquela em que se torna impossível essa positividade; na terra, Irene é bem diferente. Glorificar o destino de Irene como merecimento por sua condição impecável é uma “salvação” poética a compensar sua condenação no mundo terreno. Desse modo, o poema apresenta o retrato da personagem negra, resguardando-a num espaço sagrado, purificado, isento de marcas que poderiam comprometer sua imagem. Sacralizando por um instante (enquanto dura a leitura?) a figura de Irene, a brevidade da linguagem parece suspender epifanicamente a realidade extraída do cotidiano. Só que o revelar-se da imagem, como conviria ao processo epifânico, acaba por trair o “alumbramento”[7] inicial em favor de uma descida aos estratos mais estáveis da emoção. O que Bandeira nos apresenta é uma visão celestial do negro, enquanto ser descarnado pela ironia, e rompida sua ligação com a realidade terrena. E essência do negro, impulsionando-o a erguer-se como corpo de resistência – eis o que o branco não consegue aceitar. Porque desse embate de corpos contrários, o negro é mais forte; acaba fazendo vingar sua ousadia num espaço permanente de luta.
A Irene do poema, ao contrário, não se ergueu como corpo resistente, até porque sua história lhe foi retirada da cena; desarmou-se de todas as forças, menos da humildade, única arma capaz de desarmar São Pedro. Na verdade, ele não concedeu nada a Irene, não teve senão de aceitá-la, porque recusá-la seria estabelecer uma luta injustificada.
O negro não precisa da benevolência de um São Pedro bonachão para obter sua salvação, nem da complacência do branco para permitir sua aceitação; precisa, sim, do investimento em si mesmo para reconhecer e fazer valer suas potencialidades como ser humano, mesmo diante dos limites impostos a toda condição existencial. Ele não quer ganhar o céu, mas conquistar seu espaço aqui na terra mesmo, onde não precisa pedir licença para marcar sua presença.
A atualidade do poema de Bandeira está não apenas na temática que aborda – a negritude e suas implicações – como também na maneira singular com que trata desse tema. Ao cobrar de nós uma leitura que não pode se satisfazer com a aparência positiva, simples, ingênua e fácil de seu objeto poético, Manuel Bandeira também nos ensina um modo maduro de lidar com a literatura. Mesmo quando o texto literário aparenta estar colado à realidade social para refleti-la, a linguagem encena mecanismos que nos levam a desconfiar desse reflexo tão direto; sempre será preciso distanciamento para captá-lo melhor. Digamos que “Irene no Céu” só passa a ter (ou a fazer) sentido a partir de seu funcionamento pelo avesso. Ao caminho de ascensão de Irene corresponde um caminho oposto, de descida, que desmistifica (eis a ironia) a conquista do espaço desejado.
É como se Irene, estigmatizada por sua condição, só pudesse se salvar nesse reino simbólico da linguagem poética. Salvação fingida, permitida pelo mascaramento realizado pela poesia. Isto é o que nos ensina essa poesia, não modernista, nem moderna, mas atual.
Referências
ARRIGUCCI, Davi. Humildade, Paixão e Morte: a poesia de Manuel Bandeira. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
BANDEIRA, Manuel. Estrela da Vida Inteira. 4ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1973.
ISER, Wolfgang. O Ato de Leitura: uma teoria do efeito estético. São Paulo: 34 Letras, 1999, 2 vols.
JAUSS, Hans Robert. A História da Literatura como Provocação à Teoria Literária. São Paulo: Ática, 1994.
MELO NETO, João Cabral. Obra Completa. Org. Marly de Oliveira. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 338.
Notas
Autor notes

