
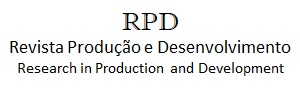

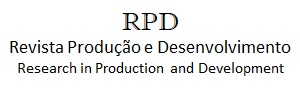
Articles
IMPACTOS DA DUPLICAÇÃO DE UMA RODOVIA FEDERAL SOBRE A MOBILIDADE E A ACESSIBILIDADE EM UMA PEQUENA CIDADE NORDESTINA
DUPLICATION OF A FEDERAL HIGHWAY ON MOBILITY AND ACCESSIBILITY IN A SMALL NORTHEAST CITY
Revista Produção e Desenvolvimento
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Brasil
ISSN-e: 2446-9580
Periodicidade: Frecuencia continua
vol. 3, núm. 3, 2017
Recepção: 04 Março 2017
Aprovação: 26 Outubro 2017
Resumo: Este artigo busca identificar e analisar os principais impactos urbanísticos e na mobilidade e acessibilidade local, após a duplicação da BR-101 na travessia urbana de Goianinha ? RN. A metodologia parte da avaliação das tendências de transformações no uso do solo e aborda as alterações nas condições de mobilidade e acessibilidade devidas à duplicação da rodovia, com base em pesquisa junto à população sobre modificações em seus hábitos de deslocamentos. Essa pesquisa testa a identificação da rodovia duplicada como barreira urbanística, buscando associar as transformações decorrentes, com as soluções adotadas no projeto, que apresentam características que privilegiam o tráfego de passagem em detrimento da mobilidade da população. Dentre os impactos destacam-se: a segregação socioespacial, com tendência ao espraiamento urbano; o aumento da impedância devido ao alongamento dos percursos e as inconveniências impostas a expressiva parcela dos estudantes e cidadãos em geral que necessitam utilizar as travessias elevadas, embora parte significativa deles não as usem, assumindo os riscos; aumentos nos tempos de viagem, com maior incidência sobre usuários de modos motorizados, principalmente de ônibus e residentes nos bairros mais distantes do centro. Apesar desses aumentos nos tempos de viagem, cerca de 40% dos usuários de automóveis, motocicletas e ônibus relatam melhorias na mobilidade e no trânsito pelo aumento da fluidez, mesmo com ampliação nos deslocamentos. Estes impactos demonstram a incompatibilidade da solução implantada com as necessidades da população local. Como conclusão demonstra-se que o modelo de travessia adotado configura uma barreira, que exige a adoção de medidas mitigadoras para diminuir seus impactos no funcionamento da cidade e os conflitos entre o tráfego local e o tráfego de passagem.
Palavras-chave: Duplicação de rodovia, efeito barreira, impactos na mobilidade urbana, impactos na acessibilidade urbana.
Abstract: This article seeks to identify and analyze the main urban impacts on local mobility and accessibility due to the duplication of BR-101-RN in the urban crossing of Goianinha ? RN. The methodology adopted is based on an assessment of land use change trends and addresses the variations in mobility and accessibility conditions due to the highway duplication, based on a population survey, on shifts in their movement habits. This research tests the identification of the duplicated highway as an urban barrier, seeking to associate the resulting transformations, with the solutions adopted in the project, which present characteristics that favor traffic passing to the detriment of population mobility. Among the impacts observed are highlighted: i) socio-spatial segregation with a tendency of urban sprawl; ii) an impedance increase due to the lengthening of routes and to inconveniences imposed to expressive portion of students and citizens in general, who need to use the elevated walkways, although a significant part of them do not use it, assuming the risks; iii) increases in travel times with higher incidence on users of motorized modes, mainly of buses and residents in the most distant neighborhoods. Despite increases in travel times, about 40% of automobile, motorcycle and bus users report improvements in mobility and traffic due to increased fluidity, even with increased distances. These impacts demonstrate the incompatibility of the designed solution with the needs of the local population. As a conclusion, the adopted crossing model configures a barrier, which requires the adoption of mitigating measures to reduce its impacts on the functioning of the city and the conflicts between local traffic and passing traffic.
Keywords: highway duplication, barrier effect, urban mobility impacts, urban accessibility impacts.
1. INTRODUÇÃO
A predominância do modo rodoviário no Brasil, desde meados do século XX, induziu a expansão da malha rodoviária criando corredores estratégicos, que influenciaram o crescimento socioeconômico das regiões, motivando alterações no uso do solo em vários segmentos, principalmente em travessias urbanas. Os aumentos significativos nos fluxos de tráfego ao longo das principais rotas produziram nas cidades de pequeno e médio porte atravessadas, crescimento linear, quase sempre ao longo das rodovias ( VILAÇA, 2001), ( FREIRE, 2003), ( SOUZA, 2003) e ( PINTO, 2012).
Anos mais tarde, com a necessidade da implantação de obras de ampliação e da adequação da capacidade dos segmentos mais carregados dessa rede rodoviária têm ocorrido casos, onde não se consultando previamente a população ou as autoridades locais, as intervenções nas travessias urbanas se transformam em barreiras à acessibilidade transversal, tanto para movimentos motorizados, quanto para não motorizados. Essas obras nas travessias urbanas, embora objetivem melhorias de fluidez no contexto nacional ou regional, quando analisadas do ponto de vista dos moradores, têm gerado inúmeros transtornos que necessitam de ações mitigadoras. Essa configuração de rodovia tende a gerar conflitos entre os fluxos locais e os fluxos de passagem, ocasionando impactos negativos, tanto para a rodovia, como para o espaço urbano. Dessa forma, são impactados diretamente, o desempenho operacional da via e a qualidade de vida da população. Segundo Vasconcelos (2006), nessas situações, a intenção de reduzir riscos de acidentes causa como efeito a redução da interação social no uso do espaço público.
O DNIT/IPR (2005) reconhece que o principal impacto gerado pela travessia urbana é a segregação espacial, fenômeno que ocorre quando um trecho de rodovia impede o livre acesso entre as áreas adensadas ao seu redor. Assim, a configuração da rodovia nessas áreas especiais torna-se um obstáculo à qualidade de vida urbana. Essa situação faz com que moradores das regiões lindeiras, que demandam atividades em ambos os lados da rodovia, sejam obrigados a atravessá-la, correndo todos os riscos associados ao tráfego ( SILVA JÚNIOR e FERREIRA, 2008).
Para pensar sobre o conjunto da travessia urbana inserida na cidade a sua volta e propor uma intervenção adequada, é necessário primeiro entender como o meio urbano se comporta diante da intensificação do tráfego de passagem. As variáveis envolvidas nesse processo vão desde as mudanças no uso do solo próximo à rodovia, passando por mudanças do traçado viário urbano, até culminar na própria mudança de rotina dos habitantes. Como essas variáveis são dinâmicas e se modificam dependendo do local observado, o processo de análise das travessias urbanas e posterior proposição de soluções aos problemas apresentados é um processo dinâmico e complexo.
O objetivo geral desse artigo é compreender os impactos na estrutura urbana, na mobilidade e na acessibilidade dos habitantes locais devidos ao efeito barreira, produzido por intervenções físicas e operacionais realizadas na travessia urbana da cidade de Goianinha, no Rio Grande do Norte, após a duplicação da BR-101/RN. Para avaliar os efeitos dessas transformações foram pesquisadas as principais mudanças ocorridas nos deslocamentos cotidianos intraurbanos e o nível de (in)satisfação dos moradores, bem como as tendências das modificações no uso do solo após a duplicação da rodovia no perímetro urbano da cidade. Como esses efeitos provavelmente ocorrem em centenas de cidades atravessadas por rodovias arteriais em todo o Brasil, espera-se com esse estudo de caso, influenciar os gestores rodoviários nacionais para melhor avaliarem as alternativas entre travessias urbanas e implantação de rodovias de contorno.
2. REVISÃO DA LITERATURA
Os termos acessibilidade e mobilidade são muitas vezes adotados no planejamento dos transportes sem uma clara distinção. Parte dessa confusão deve-se talvez, à inter-relação entre esses conceitos - mobilidade como o potencial para a movimentação está relacionado à impedância, que integra o conceito de acessibilidade ( Handy, 2002). A acessibilidade como definida por Cox (1972) e Taaffe (1996), significa uma medida da possibilidade do deslocamento e do uso do sistema de transporte para atender a diferentes demandas. Ortuzar e Willumsen (1994) destacam nessa conceituação, as possibilidades de ligações e os custos de deslocamentos entre diversos pontos pelos vários modos de transporte disponíveis. Vuchic (2000) incorpora o enfoque do potencial de interação entre áreas, incluindo conceitos de atratividade e impedância. Cervero (2005) agrega uma visão integrada entre os sistemas de transportes e o uso do solo para melhor atender às demandas sociais de transportes. Geurs e Van Wee (2004) em extensa revisão identificaram quatro componentes usados para definir acessibilidade: i) uso do solo, incluindo características das localidades e suas oportunidades; ii) transportes, incluindo a qualidade e o desempenho das redes e dos serviços; iii) o componente temporal, incluindo a disponibilidade de oportunidades ao longo do dia; e iv) o componente individual, incluindo as necessidades, capacidades e oportunidades das pessoas.
Para Handy (2002), mobilidade representa a disponibilidade de meios ou condições que facilitem o movimento e garantam segurança nos deslocamentos. As estratégias de mobilidade focam normalmente na melhoria das condições do fluxo, aumento da velocidade e redução do tempo de deslocamento. Em síntese, segundo Zegras (2011), significa manter a capacidade de prover um nível de acessibilidade que não decline ao longo do tempo.
Neste artigo, a acessibilidade foca nas dificuldades da população em realizar os seus deslocamentos diários para as atividades de rotina considerando as alternativas de infraestruturas e de serviços de transportes disponíveis. Por outro lado, a análise das condições de mobilidade foca na qualidade do deslocamento (tempo e segurança), seja em transporte motorizado ou por meios ativos.
Intervenções em infraestruturas de transportes que produzem barreiras, com esta que se estuda neste artigo, modificam as condições de acessibilidade e mobilidade locais por alterações na variável impedância. Constitui-se uma barreira urbanística, arquitetônica ou mesmo ambiental qualquer elemento natural, instalado ou edificado, que gere impedâncias no meio urbano. Por sua vez, impedância é tudo aquilo que provoca resistência, causa impedimento ou influi negativamente na realização de um deslocamento ( FERRARI, 2005). Anciaes (2015) destaca que o efeito barreira se manifesta de forma variável e cumulativa e decorre da percepção e do comportamento das pessoas afetadas.
Mouette e Waisman (2004) e o Victoria Transport Policy Institute (2016) restringem mais o conceito, definindo o efeito barreira como a restrição ou desconforto do deslocamento a pé, cujos impactos são decorrentes da impedância ao livre movimento dos pedestres aos dois lados da via, produzidos pelo excessivo tráfego de passagem. Para Dron e De Lara (2000), o efeito barreira ou efeito corte, favorece a segregação e a exclusão espacial ao afetar a mobilidade de pedestres, notadamente aqueles com condições de mobilidade reduzida.
A intensidade dos impactos de uma barreira causada por uma rodovia varia de acordo com diversos fatores técnicos como: largura da via, volume, velocidade, composição do tráfego, além de fatores comportamentais característicos da população residente ( SOGUEL, 1995). Para Mouette e Waisman (2004), as variáveis influentes podem-se dividir em três grupos: i) elementos causadores, ii) elementos de influência e iii) impactos decorrentes. Como elemento causador, considera-se o tráfego de passagem ou, como explorado neste artigo, a duplicação de uma rodovia. Os elementos de influência são identificados de acordo com as características da população e do meio urbano. Já entre impactos decorrentes, podem-se observar, dentre outros, a diminuição da acessibilidade a estabelecimentos de interesse e a diminuição da mobilidade dos pedestres.
O efeito barreira gera alterações nos padrões de viagens da população, que podem se refletir em mudanças nas relações sociais e no meio urbano gerando efeitos que Héran (1999) classifica em três tipos evolutivos: i) Imediatos ? aumento no tempo e na extensão dos deslocamentos e nos riscos de acidentes; ii) Indiretos ? alteração nas relações sociais locais e isolamento das comunidades; e iii) Longo Prazo ? mudanças no uso do solo e no funcionamento da cidade pelo privilégio ao tráfego rodoviário de passagem.
No Brasil, o DNIT reconhece que intervir apenas no eixo e na faixa de domínio da rodovia nas travessias não é suficiente, pois a via é influenciada pela configuração urbana à sua volta, sendo necessário pensar em conjunto o desenvolvimento da rodovia e a estrutura urbana adjacente ao trecho ( SILVA JÚNIOR e FERREIRA, 2008). No entanto, as intervenções sugeridas no Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas ( DNIT/IPR, 2010), apesar de alguma evolução em relação aos manuais técnicos anteriores, por incluírem propostas de ciclovias, ciclo-faixas, passeios e travessias de pedestres, ainda permanecem privilegiando o tráfego de passagem, quando definem velocidade diretriz, larguras de faixas, pistas e acostamentos compatíveis com as características de tráfego expresso. Como visto, esses tipos de intervenções tradicionais dos órgãos rodoviários brasileiros, ainda não compreendendo a natureza das relações intraurbanas, contribuem para a desintegração das comunidades ( VASCONCELOS, 2006).
Para caracterizar esses problemas, alguns estudos buscam levantar impactos do efeito barreira em cidades brasileiras. Silva Junior e Ferreira (2008) e Sousa (2009) descreveram esses efeitos nas cidades de Uberlândia/MG e Rio Claro/SP, respectivamente. Sobre Rio Claro, os autores perceberam que o efeito barreira pode ser identificado pelos grandes eixos rodoviários que ligam as áreas periféricas ao centro. Tendo sido uma cidade cuja expansão ocorreu ao longo de vias de alta capacidade, observou-se que essas vias se configuram em rupturas do tecido urbano, agravadas pela necessidade do deslocamento existente entre os bairros periféricos e o centro. A estrutura dos bairros desestimula o uso de bicicletas e as caminhadas, que somadas à baixa qualidade do transporte coletivo, gera certa inacessibilidade e imobilidade aos moradores de bairros periféricos. No caso de Uberlândia, o efeito barreira ocorre em decorrência do alto fluxo de carros que cruzam as rodovias, mas especificamente a Rodovia BR-050, que atravessa a área urbana da cidade. De acordo com os autores, a condição de barreira é reforçada pela falta de políticas efetivas para minimizar o problema de travessia para pedestres e ciclistas.
Nos exemplos citados vê-se a conformação do efeito barreira devido à expansão urbana e ao aumento de tráfego, ambos agravados pela falta de um planejamento prévio voltado aos pedestres ou ciclistas. Conclui-se então desses exemplos, que o principal elemento causador tem sido a prioridade estabelecida para o fluxo de tráfego de veículos em detrimento da população não motorizada. Ambos autores também levantaram a importância da análise do uso do solo para definir a acessibilidade das populações estudadas. No caso de Rio Claro ficou constatado que a disposição da cidade com concentração de atividades longe das áreas periféricas é um dos fatores de influência no agravamento do efeito barreira.
3. DESCRIÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DE GOIANINHA
A zona urbana de Goianinha com cerca de 16.500 habitantes ( IBGE, 2015) localiza-se na parte sudeste do Estado do Rio Grande do Norte a 60 km da capital, Natal, às margens da BR-101/RN, entre os KM-145 e 152. Goianinha é uma cidade de configuração linear, que teve seu crescimento orientado pela BR-101, em duas fases distintas ( PEREIRA, 2010): início do povoamento na parte sul, onde se localiza a rua principal, que se abre para a praça da Igreja Matriz e mais recentemente a expansão no sentido norte por meio de loteamentos com uso predominantemente residencial. Na área mais antiga se situa o centro da cidade, onde se concentram as principais funções administrativas, de comércio e serviços da cidade, tornando-a o principal polo de atração de viagens para os residentes ( BARROS, 2010), ( LIMA, 2010) e ( PEREIRA, 2010).
O segmento rodoviário da BR-101 que atravessa Goianinha apresentava em 2015, tráfego médio diário de 14.000 veículos. O índice de acidentes nesse trecho urbano vinha crescendo anualmente entre 2005 e 2010 cerca de 10%, atingindo quase 6 acidentes/km no ano de 2010, sendo 45% deles com feridos ( DNIT, 2016).
A duplicação da BR 101 seguindo a diretriz existente com expansão dentro da faixa de domínio, foi iniciada em 2005 e concluída em 2013. A antiga rodovia na parte norte da travessia urbana se constituía de pista simples de sete metros com dois sentidos de tráfego, sendo substituída, por pistas duplas com duas faixas por sentido e acostamentos separadas por barreiras New Jersey duplas, acrescidas de vias marginais dos dois lados separadas dos fluxos principais por defensas metálicas, totalizando cerca de 50m de largura. Antes da duplicação, a BR-101 era transpassada em quatro pontos por vias coletoras da cidade. Esse traçado fluido urbano foi modificado de forma a priorizar a mobilidade na rodovia principal, concentrando os fluxos locais nas vias marginais com travessias de veículos apenas em dois viadutos nos extremos da zona mais intensamente urbanizada. Para as travessias dos pedestres, foram instaladas três passarelas elevadas, com uma média de distância de 400 metros entre elas.
4. METODOLOGIA
Para analisar os impactos da duplicação da rodovia sobre as condições de mobilidade e acessibilidade da população local utilizou-se uma abordagem qualitativa, visando aferir as percepções e comportamentos dos residentes, face ao efeito barreira, como sugerido por Anciaes (2015). Desta forma, buscou-se coletar a opinião da população residente através de questionários, adotando-se métricas que pudessem aferir com que intensidade esses impactos são percebidos pelos diferentes perfis de cidadãos.
Complementa essa análise, uma abordagem do desenho urbano e da configuração das ruas em Goianinha, antes e depois da duplicação, para demonstrar os impactos sofridos pela cidade como ambiente urbano. Baseado na linha teórica morfológica, utilizou-se de um levantamento feito em 2010 por alunos de arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte ( PEREIRA, 2010)) e o justapôs com um levantamento atual, focando no comportamento do crescimento da cidade e do uso do solo, para inferir de que forma a mudança ocorrida no eixo de transporte tem interferido na estruturação do espaço urbano.
A pesquisa referente ao impacto direto da duplicação da rodovia nas atividades diárias dos moradores foi estruturada em três etapas: i) seleção dos indicadores para analisar a relação do indivíduo com o ambiente urbano; ii) definição e elaboração do questionário como instrumento de pesquisa; iii) análise dos resultados. Com base na literatura pesquisada ( MOUETTE E WAISMAN, 2004), ( SOGUEL, 1995), ( HÉRAN, 2011) que apoiou a formulação do questionário, definiram-se como indicadores para quantificar os impactos da duplicação da rodovia, o perfil dos deslocamentos dos moradores a destinos cotidianos pré-estabelecidos e os modos de transportes escolhidos pela população. Como indicador direto de mobilidade do impacto das mudanças ocorridas no dia a dia dos moradores, foi utilizada a variação no tempo de deslocamento entre pares de origens-destinos, antes e depois da duplicação para diferentes modos de transporte.
O questionário foi estruturado em três partes: Identificação do entrevistado - que visa traçar o perfil socioeconômico dos entrevistados, destacando local de residência, gênero, grau de instrução, ocupação e idade. As entrevistas buscaram formar uma amostra representativa dos dez bairros da cidade e ocorreram nos domicílios com moradores capazes de relatar os hábitos de viagem da família e seus locais de trabalho, compras e estudo.
Na segunda parte: Identificação dos percursos diários - o questionário busca identificar rotas de origem e destino realizadas com frequência pelos moradores. O ponto de origem é o domicílio do entrevistado e os destinos variam entre: local de trabalho, escola dos membros da família e local de compras, principalmente de gêneros alimentícios. Além de perguntar sobre os destinos, motivos e modos de realização das viagens, o questionário também buscou compreender as principais mudanças sofridas nos percursos depois da duplicação da rodovia.
A terceira parte do questionário procurou perceber o impacto direto da duplicação sentido pela população no dia a dia. Para tanto, utilizou perguntas acerca da percepção do usuário sobre o tempo de seus percursos, distância percorrida e segurança no trajeto, antes e depois da duplicação da rodovia, levando em conta o principal meio de transporte utilizado para os deslocamentos entre o lado leste e oeste da cidade (percurso que necessita atravessar a BR duplicada). Essa parte do questionário apresenta adicionalmente uma característica mais subjetiva: nela entrevistados também responderam sua opinião sobre as vantagens e desvantagens geradas pela intervenção, tanto para a cidade, como para o dia a dia da população.
Para atingir um intervalo de confiança de 90% e erro máximo amostral de 5%, foi dimensionada uma amostra com 240 domicílios distribuídos em dez bairros. A quantidade de entrevistas por bairros foi definida proporcionalmente às respectivas densidades de ocupação obtidas por análise de fotografias aéreas. Os questionários foram aplicados nos meses de setembro e outubro de 2014, um ano após a conclusão da obra.
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1 Impactos urbanísticos
Com relação aos impactos urbanísticos, pode-se observar na Figura 1, que as principais vias da cidade foram interrompidas pela duplicação da BR-101. Constata-se aí, que os conceitos de respeito ao traçado intraurbano pré-existente não foram mantidos, criando uma ruptura, tanto na paisagem, como na continuidade das vias secundárias. A partir da análise da configuração da estrutura urbana original da cidade de Goianinha, observou-se que o projeto de duplicação da BR 101 foi concebido sem considerar as linhas de fluxos dos habitantes locais, priorizando quase exclusivamente, o tráfego de passagem e a fluidez deste. Além disso, o projeto se mostrou ineficaz para atender aos interesses dos usuários de modos ativos de transporte em termos de racionalidade e segurança.
Para compensar foram implantadas as passarelas e viadutos, como elementos que permitem a travessia entre os dois lados da cidade. No entanto, essas modificações físicas e operacionais introduzidas no cotidiano de Goianinha para minimizar os impactos da duplicação da rodovia podem não terem sido tão eficazes na prática. Para diminuir o trajeto percorrido, muitos pedestres atravessam a pista em nível, correndo riscos de atropelamentos. As passarelas também adquiriram um uso inusitado: motociclistas as utilizam para evitar fazer o retorno pelo viaduto.
Confrontando o novo desenho urbano com as principais desvantagens apontadas pelos moradores na pesquisa de opinião, percebeu-se que os maiores problemas identificados pela população têm de alguma forma a ver com o desenho escolhido para o projeto, como a localização dos retornos e passarelas presentes na rodovia, divisão da cidade em leste e oeste, e a exclusão dos traçados originais.

A construção dos viadutos não apenas aumentou o percurso de quem quer atravessar a cidade, mas modificou o itinerário de acesso a Goianinha. O caminho que antes era feito pela rua principal, que dava acesso ao centro histórico, passou a ser realizado por uma rota lateral, desviando os veículos do centro da cidade e prejudicando os negócios comerciais. Nesses aspectos observa-se uma perda na qualidade da mobilidade urbana para os residentes e na acessibilidade para atividades que separam origens e destinos em ambos os lados da cidade. Para amenizar esse problema, uma medida de compensação bem assimilada foi a criação de uma via longitudinal como alternativa à BR-101, partindo do Centro até o Loteamento Novo Horizonte I ao sudeste, destinada a melhor integrar os movimentos intraurbanos na porção leste da cidade.
Como consequência dessas intervenções de duplicação e do efeito barreira produzido, evidencia-se uma tendência a certa estagnação no centro comercial tradicional, com o desenvolvimento de um novo polo comercial e de serviços ao longo das vias marginais da rodovia. Também constata-se o aparecimento de estabelecimentos de comércios e serviços isolados no lado oeste da parte norte da cidade, provavelmente para suprir a nova demanda de moradores, cujo acesso ao centro foi dificultado.
Efeitos indiretos e de médio prazo no meio urbano decorrentes da intervenção, como descritos por Héran (1999), começam a surgir. Na pesquisa de opinião vários entrevistados perceberem uma forma de quebra da continuidade e das relações sociais e econômicas entre as partes da cidade, assim como um início de mudança de hábitos e de locais de compras, forçados por alterações no uso do solo, que começam a ocorrer nas margens da rodovia.
5.2 Impactos sobre a acessibilidade
Com relação à pesquisa com moradores, na parte em que se identificam os percursos diários realizados pelos entrevistados e como a duplicação afetou esse cotidiano, a primeira questão foi a localização em um mapa da cidade de destinos usuais de atividades como deslocamentos ao trabalho, escola e compras de gêneros alimentícios dos membros da família. A aplicação dos questionários permitiu inferir dados sobre a população da cidade, e sua relação com a duplicação: primeiro foi percebido que a grande maioria das atividades realizadas se concentra no Centro, exigindo o deslocamento diário da população para realizar suas necessidades; segundo, a população mais afetada pela obra de duplicação foi a que mora nas áreas periféricas, ou mesmo do lado oeste da rodovia, e precisa se deslocar até o centro. De forma geral, 45% dos entrevistados perceberam um aumento na distância percorrida e no tempo de deslocamento diário, confirmando os efeitos imediatos descritos por Héran (1999) e variados como propõe Anciaes (2015), por afetarem diferentemente usuários por modos de transporte, local de residência e destino de viagens.
A tabulação desses dados gerou a Tabela 1, que representa a matriz de origem-destino para vários motivos de deslocamento. Ao observar a tabela é possível perceber que os habitantes das diversas áreas da cidade demandam atividades de abastecimento que se concentram fortemente no Centro (91,3%), a leste da BR-101 e cerca de 8% no bairro Estação, vizinho ao centro, porém, no lado oeste. Este fato faz com que quase 32% dos deslocamentos por esse motivo necessitem fazer a travessia da BR-101. Apesar desse contingente que faz a travessia para compras, apenas 2% dos entrevistados responderam que mudaram seu local de compras, sugerindo certa inércia no curto prazo para mudanças dessa natureza. Demonstra-se ainda, nesse particular que os efeitos sugeridos por Heran (2011) de mudanças profundas no uso do solo ainda não aconteceram, embora já se perceba um início de processo.

Percebe-se também na matriz de origem e destino, que as viagens por motivo estudo também apontam destinos muito concentrados nas áreas mais centrais, os bairros Centro e Estação em lados opostos da BR-101 (65,8%). Esse fato leva a que 37% dos estudantes necessitem fazer travessias cotidianas do lado leste para o oeste e vice-versa. A cidade de Goianinha tem 7.718 estudantes, sendo deles, cerca de 6.000 residentes na zona urbana ( IBGE, 2015). Estima-se, então que 2.200 estudantes necessitam atravessar a BR-101 diariamente, o que gera um fluxo de 4.400 travessias (movimento pendular).
Quando se analisam as viagens por motivo trabalho, estas apontam destinos um pouco mais dispersos, embora ainda 46,7% das viagens destinem-se aos bairros mais centrais (Centro, Estação e Vila Helena). Essa situação também leva a quase 40% dos trabalhadores necessitem fazer travessias do lado leste para o oeste e vice-versa nos seus movimentos pendulares casa-trabalho. Considerando-se a população em idade ativa (10 a 60 anos) na zona urbana de 12.000 pessoas ( IBGE, 2015), geram-se cerca de 9.600 travessias diárias. Desse número de travessias demandadas distribuídas pelos vários perfis de usuários, percebe-se que há a priori, impactos significativos na rotina da população.
Os pares de origem-destino para as viagens casa-trabalho, conforme apresentados graficamente na Figura 2, demonstram claramente o efeito barreira que obriga grande contingente de trabalhadores a se deslocarem de seus itinerários antigos para fazerem as travessias da rodovia, já que há apenas três passarelas de pedestres elevadas nas áreas mais centrais e os veículos são obrigados a fazerem os retornos apenas em dois viadutos.

Quanto ao modo de transporte, quase metade dos trabalhadores, estudantes e consumidores, faz suas viagens a pé, conforme apresentado na Tabela 2. Este fato em si, já é bastante previsível pelo porte da cidade, que apresenta distâncias médias de caminhadas da ordem de 1 km. Em função disso, esse tipo de cidade é muito mais vulnerável a rupturas urbanas, como as representadas por duplicações de rodovias com redução de opções de travessias associadas à elevação da velocidade do tráfego de passagem.
| MOTIVO DE VIAGEM | A PÉ | CARRO | MOTOCICLETA | BICICLETA | ÔNIBUS | |||||
| Dist. Média (m) | % | Dist. Média (m) | % | Dist. Média (m) | % | Dist. Média (m) | % | Dist. Média (m) | % | |
| Trabalho | 900 | 43 | 2300 | 24 | 2400 | 8 | 1500 | 3 | 2800 | 22 |
| Escola | 900 | 53 | 1900 | 15 | 2100 | 7 | 1500 | 3 | 2600 | 22 |
| Compras | 1000 | 44 | 2000 | 19 | 2500 | 8 | 1600 | 3 | 2100 | 26 |
Embora haja uma hegemonia nos deslocamentos a pé pela cidade de forma geral, quando são analisadas as respostas aplicadas a cada das áreas estudadas, observam-se dados que variam de acordo com a posição geográfica de cada bairro, percebendo-se que, nos mais próximos ao centro (COHAB, Centro, Sapucaia, Nova Batalha e Estação) os deslocamentos são feitos predominantemente a pé, enquanto nos mais afastados (Aniquim, Novo Horizonte I e II e Bosque das Palmeiras) com distâncias médias de 2 a 3km, os trajetos são realizados preferencialmente de ônibus, sendo esses mais sensíveis aos aumentos de tempo de viagem, como se observa nos resultados da pesquisa.
5.3 Impactos sobre a mobilidade
Para testar o impacto na mobilidade urbana obtido pela variação de tempo de deslocamento, observa-se que em média cerca de 45% dos residentes nos seus deslocamentos para trabalho, escola e compras relataram aumentos de tempo de deslocamento após a duplicação. Esse contingente, entretanto, é superior aos 37% que necessitam fazer travessias, que em princípio representam os grupos negativamente mais afetados nesse quesito. Esse fato pode significar que alguns deslocamentos realizados no mesmo lado da cidade, principalmente motorizados, por mudanças nos sentidos de fluxos, sofreram também mudanças de percurso, que induziram à elevação dos tempos de deslocamento. Para dirimir essa questão, percebe-se que ao analisar separadamente diferentes usuários pelos modos de transportes predominantes (ver Tabela 3), foram observados impactos variáveis, conforme já destacava Anciaes (2015).
Nas viagens casa-trabalho por modos motorizados, cerca de 64% dos usuários de automóveis e de ônibus e de 50% entre os motociclistas, demonstraram perceber aumentos nos tempos de viagem. Nas viagens por motivo estudo e compras, entre 80% a 85% dos usuários de ônibus relatam aumentos nos tempos de viagem. Estes aumentos de tempo de viagem decorrem do reordenamento do fluxo de veículos automotores com extensão de itinerários, ao serem descontinuadas as ligações viárias transversais.

Por outro lado, nas viagens por modos ativos para fins de trabalho, 77% dos pedestres e 71% dos ciclistas relatam não ter havido elevação nos tempos de viagem. Nas viagens para escola e compras também por modos ativos, realizadas por quase 75% dos caminhantes e 86% dos ciclistas, também não relataram aumentos de tempo. Esse fato de certa invariabilidade nos tempos de viagem dos pedestres e ciclistas precisa ser confrontado com a utilização das passarelas elevadas ou a realização de travessias em nível, contestando o modelo imposto.
Assim como também ocorre na pergunta anterior, a análise apenas dos dados gerais não permite visualizar o impacto direto dessa questão, sendo necessária sua alocação por ponto de origem (bairro) para dessa forma, compreender o todo.
Fazendo-se um cruzamento da matriz de origem-destino com as respostas sobre variação nos tempos de viagem é possível observar que os bairros mais distantes do centro foram os mais afetados pela duplicação. Sapucaia, Bosque das Palmeiras e Novo Horizonte I e II apresentam respostas em torno de 55 a 65% para aumento no tempo de deslocamento.
O Centro, por concentrar as principais atividades urbanas e a COHAB, pela proximidade do centro, foram os bairros que apresentaram menor impacto sobre aumento de tempo de viagem (em torno de 10% dos respondentes), seguidos de Coqueiral, Nova Batalha e Estação, bairros relativamente próximos do Centro (cerca de 30% dos entrevistados).
Procurando constatar os impactos diretos da duplicação da BR-101 sobre a travessia entre os lados Leste-Oeste da cidade foram elaboradas perguntas especificas de acordo com o modo utilizado para realizar essa travessia. Primeiramente foi observado que a maioria da população realiza esse movimento a pé (57,9%), enquanto o segundo modo mais utilizado é o carro (22,9%), seguido de motocicleta (9,6%), ônibus (5,8%) e bicicleta (3,8%).
Observados os modos utilizados, foram definidas perguntas específicas para quem atravessa a rodovia a pé e para os moradores que utilizam veículos motorizados. Dos que realizam os deslocamentos a pé, 53,1% declararam que sempre usam as passarelas, enquanto que 25,9% declararam que usam algumas vezes e os demais 21,1%, que não as utilizam. Quando questionados sobre os motivos de não utilizar as passarelas, 80% informou que não o fazem por comodidade, pois o uso da passarela aumenta a extensão do percurso. Não há ainda estatísticas de acidentes referentes ao período após a conclusão das obras que possam aferir se houve aumento de acidentes com pedestres.
Para os usuários de meios motorizados foi proposto avaliar as travessias a partir das variáveis: distância, tempo de trajeto e segurança no trânsito. Com relação à extensão dos trajetos, 80% dos motoristas e motociclistas relataram aumentos, embora aumentos de tempo de deslocamento tenham sido percebidos por 48% dos entrevistados e redução por 20%. Também a variável de aumento da segurança teve uma avaliação positiva relativamente pequena, quando apenas 25% dos motoristas reconhecem melhorias e 65% declaram que não houve alteração em relação à situação anterior.
5.4 Vantagens e desvantagens reveladas
A última pergunta deste bloco do questionário foi aberta e solicitava que se falasse sobre as vantagens e desvantagens percebidas pelos entrevistados em relação ao resultado para a cidade da forma da duplicação da rodovia. Por ser uma pergunta subjetiva, a análise foi realizada com base nas palavras chaves encontradas nas respostas e no agrupamento de ideias recorrentes.
Com relação às vantagens, a afirmação mais recorrente foi redução de acidentes, citada por 16,6% dos respondentes, juntamente com outras palavras relacionadas à segurança, levando à conclusão que esse é um dos atributos mais valorizados pela população. Outras palavras recorrentes que consideraram os aspectos positivos foram: desenvolvimento urbano, citado por 5,4% dos entrevistados, melhorias no trânsito (6,6%) e maior rapidez para os veículos (7%). Algumas das respostas focavam na melhoria da ligação entre Goianinha e outras cidades, na organização do trânsito, na expansão urbana da cidade, e na percepção de melhorias estéticas, ressaltando que a cidade ficou mais bonita e organizada. Apesar dessas vantagens citadas pelos entrevistados, ainda 14,1% deles responderam que não viram qualquer vantagem nas obras ou que a cidade havia permanecido a mesma coisa.
Agregando-se as respostas temáticas é possível dividir as opiniões em quatro grupos de atributos positivos: Reorganização urbana e desenvolvimento econômico, Aumento da segurança do tráfego, Melhoria na mobilidade e no trânsito e ?nenhuma vantagem?. Pode-se observar na Tabela 4 a seguir, que não há uma opinião predominante, já que os quatro atributos apresentam percentagens de citações próximas. A melhoria na mobilidade e no trânsito se sobressaiu levemente com 30,7%.
| ATRIBUTOS DOS IMPACTOS POSITIVOS | A pé (%) | Carro (%) | Ônibus (%) | Bicicleta (%) | Moto (%) |
| Reorganização urbana e desenvolvimento econômico | 13,58 | 25,00 | 28,30 | 16,67 | 23,53 |
| Aumento da segurança do tráfego | 34,57 | 25,00 | 24,53 | 33,33 | 11,76 |
| Melhoria na mobilidade e no trânsito | 32,10 | 43,18 | 32,08 | 25,00 | 47,06 |
| Nenhuma | 19,75 | 6,82 | 15,09 | 25,00 | 17,65 |
Ao se analisarem esses dados considerando-se os modos de transportes utilizados pelos residentes, observam-se diferentes percepções e julgamentos. Nesse caso observa-se que os usuários de veículos motorizados (carros, ônibus e motos) são os que mais valorizaram a nova estrutura viária (45% dos usuários de automóveis e motocicletas e 32% dos usuários de ônibus), apesar de serem também os que relataram maiores aumentos nos tempos de deslocamento intraurbanos.
Por outro lado, um terço dos pedestres e dos ciclistas percebe como maior vantagem da intervenção o aumento da segurança, apesar do grande contingente que não utiliza regularmente as passarelas. Neste último, os ciclistas, foram a parcela da população que menos observou benefícios na obra, pois 25% desses responderam não ver vantagem na duplicação. Por fim, os efeitos da reorganização e do desenvolvimento urbano são reconhecidos por cerca de 25% dos entrevistados motorizados, mas apenas por 15% dos pedestres ou ciclistas.
Quando perguntados sobre as desvantagens da duplicação as palavras mais repetidas foram distância, demora e longe. Quase 40% dos entrevistados apresentaram alguma destas palavras para se referir ao aumento da distância percorrida depois da duplicação, sendo que um quarto desses se referiu especificamente ao aumento do percurso causado pela localização dos retornos em viadutos. Dos pedestres entrevistados, 7,5% reclamaram que muitos atravessam a rodovia em nível, mesmo assim, grande parte desses, amenizava a crítica ao declarar que as passarelas ou eram distantes, ou aumentavam muito o caminho. Alguns até, propuseram que semáforos para pedestres poderiam ser mais eficazes. Também sobre as passarelas, 5,41% dos entrevistados, citaram a insegurança dos usuários destas devido à ocorrência frequente de assaltos.
Como síntese, as respostas apuradas foram divididas em cinco grupos relevantes de atributos negativos: Dificuldades de travessia/inadequada quantidade e localização de passarela; aumento da distância para veículos pela localização dos retornos, aumento da insegurança para pedestres e ciclistas, efeito barreira prejudicando as atividades urbanas (sociais e econômicas) e uma pequena porcentagem em ?nenhuma desvantagem?
A Tabela 5 demonstra a relevância de cada um desses atributos para os respondentes. O efeito barreira prejudicando as atividades urbanas (sociais e econômicas) foi o mais recorrente, ao ser destacado por cerca de 50% dos respondentes de todos os modos de deslocamento, à exceção dos ciclistas. Essa situação negativa enfatiza tanto os prejuízos ao comércio, devidos principalmente às maiores distâncias, como os prejuízos sociais. Há entrevistados que afirmaram ter deixado de frequentar alguns lugares pela nova distância, outros que comentaram sobre os atrasos, pois o percurso ficou mais demorado, ou mesmo aqueles que sentiram a divisão da cidade em duas partes distintas.
| ATRIBUTOS DOS IMPACTOS NEGATIVOS | A pé (%) | Carro (%) | Ônibus (%) | Bicicleta (%) | Moto (%) |
| Dificuldades nas travessias nas passarelas | 23,66 | 11,43 | 13,73 | 25,00 | 10,00 |
| Distância da localização dos retornos | 8,60 | 20,00 | 17,65 | 0,00 | 30,00 |
| Insegurança nas travessias | 15,05 | 5,71 | 15,69 | 37,50 | 5,00 |
| Efeito barreira | 43,01 | 51,43 | 49,02 | 25,00 | 50,00 |
| Nenhuma | 9,68 | 14,29 | 3,92 | 12,50 | 5,00 |
As dificuldades de deslocamento decorrentes das formas de travessia em passarelas elevadas, suas localizações e quantidades disponíveis são reclamadas por cerca de 25% dos pedestres e ciclistas. Adicionalmente, os pedestres (15%), os ciclistas (37,5%) e os passageiros de ônibus (15,7%) foram os usuários que mais apontaram problemas de insegurança nas travessias, seja utilizando as passarelas, ou devido aos pedestres e ciclistas que atravessam a rodovia em nível.
Por outro lado, os usuários de transporte individual, carros (20%) e motocicletas (30%) foram os que mais expressaram dificuldades devidas às distâncias entre os pontos de retornos existentes na BR-101, único modo de atravessar de um lado a outro na cidade. E para concluir, nenhuma desvantagem foi apontada por 14,29% dos motoristas (que já eram os mais satisfeitos nas análises das vantagens), 12,5% dos ciclistas, 9,7% dos pedestres, 5% dos motociclistas e 3,9% dos usuários de ônibus.
6. CONCLUSÕES
Este artigo demonstra a importância de uma adequada compatibilização entre as necessidades de fluidez e segurança para o tráfego de passagem em uma travessia urbana de uma rodovia arterial e as necessidades de mobilidade e acessibilidade aos pontos de interesse da população local com um mínimo de rupturas com a estrutura urbana prévia. Os elementos aqui levantados destacam que as formas tradicionais de projetos de travessias urbanas criam efeitos barreira que a afetam a mobilidade e acessibilidade da população residente e os instrumentos usuais de mitigação dos problemas não atendem de forma adequada às necessidades locais.
Para testar essa inadequação entre projeto e realidade urbana foram postas em avaliação na pesquisa com moradores, questões que destacam seus elementos de influência, como perfil da população e estrutura urbana, que pudessem aferir os impactos na acessibilidade e na mobilidade local. Os principais resultados da pesquisa realizada confirmam a percepção de que entre 40 a 50% da população reconhece as consequências do efeito barreira, propiciado pela forma da travessia urbana implantada pelo DNIT, confirmando os efeitos levantados na literatura pesquisada
Como síntese, os resultados mais relevantes são seguir comentados por tipo de impacto causado. Dentre os impactos urbanísticos destacam-se: a descontinuidade das vias e dos fluxos e a segregação socioespacial, com tendência a mudanças no uso do solo representadas pelo esvaziamento do centro tradicional e pela dinamização nas margens da rodovia, reforçando uma tendência ao espraiamento da mancha urbana.
Com relação aos impactos causados nas condições de acessibilidade, destacam-se o aumento da impedância devido ao alongamento dos percursos para quase 40% da população que necessita realizar travessias da rodovia em pontos pré-determinados; e as inconveniências impostas a expressiva parcela dos estudantes e cidadãos em geral, pela barreira gerada entre grande parte das origens e destinos das viagens, devidas à concentração das atividades de comércio e de ensino no centro da cidade.
Os impactos causados aos níveis de mobilidade urbana demonstram que quase metade da população relata aumentos nos tempos de viagem, com maior incidência sobre usuários de modos motorizados, principalmente de ônibus e residentes nos bairros mais distantes do centro. Apesar desses aumentos nos tempos de viagem, cerca de 40% dos usuários de automóveis, motocicletas e ônibus relatam melhorias na mobilidade e no trânsito pelo aumento da fluidez, apesar ampliar os deslocamentos. Outra questão que afeta a mobilidade é o tipo de travessia de pedestres elevada da rodovia principal. Quase metade dos transeuntes não utiliza as passarelas por razões de desconforto com as subidas e as distâncias a percorrer, como também devido a alegarem motivos de riscos de assaltos. Este fato demonstra, a incompatibilidade da solução implantada com as necessidades da população local.
Não se pode afirmar que os dados obtidos nesta pesquisa se aplicam a todas as cidades de pequeno porte que sofreram duplicação de uma rodovia em seu traçado intraurbano. Contudo, algumas questões levantadas podem servir de base para futuros projetos, pois os resultados mostraram que os principais impactos sociais da duplicação provêm de sua inadequação em compreender as necessidades dos moradores e seus hábitos de deslocamento.
O resultado do estudo sugere que os impactos poderiam ser minimizados caso o projeto fosse pensado desde o início considerando não apenas o tráfego de passagem, mas também os anseios da população. Uma afirmação muito recorrente da população local sobre a forma da duplicação é a de que as autoridades e os técnicos não levaram em conta as necessidades dos residentes. O sentimento de são ser contemplada na proposta da duplicação da rodovia ficava assim mais evidente.
O estudo levantou apenas os impactos causados pela duplicação, e chegou a conclusão que as medidas mitigadoras utilizadas, como os viadutos e as passarelas, apenas serviram para a criação de outras formas de impactos. Estudos futuros poderiam incluir estratégias de planejamento de projeto, para observar se é possível diminuir os impactos através de um desenho que respeite as particularidades do local onde está inserido, como por exemplo, elevação do greide da rodovia principal sem formação de barreira visual, mantidos em nível os fluxos locais, tanto de movimentos em veículos motorizados, quanto em deslocamentos a pé ou em bicicletas.
REFERENCIAS
ANCIAES, Paulo Rui. Street Mobility and network accessibility: towards tool for overcoming barriers to walking amongst older people. Working Paper # 4.UCL, 2015.
BARROS, C. Goianinha: estudo integrado. 2010. 128p. Relatório de trabalho de campo (Curso de Arquitetura e Urbanismo) ? Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010.
Cervero, Robert. Accessible Cities and Regions: A Framework for Sustainable Transport and Urbanism in the 21st Century (Berkeley, Calif.: UC Berkeley Center for Future Urban Transport, 2005.
DNIT, Estatísticas de Acidentes, http://www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-rodoviarias/estatisticas-de-acidentes, última atualização em 01/06/2016, 2016
DNIT/IPR - Ministério dos Transportes. Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas. IPR-740, 2005
DRON, Dominique e DE LARA, Michel Cohen. Pour politique soutenable de transports. Collection de rapports officieles. Ministérie de L?Environment, Paris, 2000.
FERRARI, Celson. Dicionário de urbanismo. São Paulo: Disal, 1ª. Edição, 2005
FERREIRA, William Rodrigues. O espaço público nas áreas centrais: a rua como referência - um estudo de caso em Uberlândia-MG. 2002. Tese (Doutorado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: . Acesso em: 2014-12-19.
FREIRE, Liz Helena Costa Varella. Análise de tratamentos adotados em travessias urbanas - rodovias arteriais que atravessam pequenas e médias cidades no RS. 2003. 148f. Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Engenharia) Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.
GEURS, K. T; VAN WEE, B. Accessibility Evaluation of Land-Use and Transport Strategies: Review and Research Directions, Journal of Transport Geography 12 (2004): 127-40.
HANDY, Susan, Accessibility- vs. Mobility-enhancing strategies for addressing automobile dependence in the U.S., Department of Environmental Science and Policy, University of California, at Davis Davis, CA 95616 slhandy@ucdavis.edu, 2002.
HÉRAN, Frédéric. La ville morcelée. Effets de couture en mileu urbain. Ed. Economica, ISBN 978-2-7178-6038-2, 2011.
IBGE, 2015 Pesquisas de Informações Básicas Municipais, http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/ consulta em 20/10/2016
LIMA, J. J. Segregação socioespacial e forma urbana: Belém no final dos anos 90. In: FERNANDES, E.; VALENÇA, M. M. (Org.). Brasil Urbano. Rio de Janeiro: Mauad, 2004. p. 147-170.
LIMA, L. Goianinha: pare, olhe, escute. 2010. 119p. Relatório de trabalho de campo (Curso de Arquitetura e Urbanismo) ? Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.
MOUETTE, Dominique e WAISMAN, Jaime. Proposta de uma metodologia de avaliação do efeito barreira. In Revista dos Transportes Públicos - RTP, ano 26, 2o trim., n.102, São Paulo, ANTP, 2004.
MOUETTE, D. Os pedestres e o efeito barreira. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Transportes. São Paulo, 1998.
PEINADO, Hugo Sefrian; NAGANO, Marisa Fujico e SIMÕES, Fernanda Antônio. O impacto do contorno norte nos estabelecimentos comerciais lindeiros na periferia de Maringá-PR. Revista de Engenharia e Tecnologia [online]. 2013, n.2, pp 1-11. ISSN 2176-7270. http://www.revistaret.com.br/ojs-2.2.3/index.php/ret/article/viewFile/142/193
PEREIRA, F. Levantamentos do município de Goianinha. 2010. 43p. Relatório de trabalho de campo (Curso de Arquitetura e Urbanismo) ? Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.
PINTO, Antonio Francisco Corrêa, 2012 Implantação de contornos rodoviários e a transformação e as transformações da forma urbana de pequenas cidades: Estudo de Caso da rodovia RS-377 em São Francisco de Assis e Santiago ? RS, Dissertação de Mestrado no Programa PROTUR ? UFRGS.
SILVA JUNIOR, Sílvio Barbosa e FERREIRA, Marcos Antônio Garcia. Rodovias em áreas urbanizadas e seus impactos na percepção dos pedestres. Sociedade & natureza (Online) [online]. 2008, vol.20, n.1, pp. 221-237. ISSN 1982-4513. http://dx.doi.org/10.1590/S1982-45132008000100015.
SILVA JÚNIOR, Sílvio Barbosa da, e. FERREIRA, Marcos Antônio Garcia. Impacto de rodovias em áreas urbanizadas sobre o deslocamento de pedestres em Uberlândia, MG. In XVIII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transporte, 2004 Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis: ANPET, 2004.
SOGUEL, Nils C. Costing the Traffic Barrier Effect: A Contingent Valuation Survey, Environment and Resources Economics, v.6, p.301-308, 1995
SOUZA, Jorge Luiz Santos de. RS-122 em Bom Princípio: duplicação ou contorno? um estudo sobre os impactos socioeconômicos ambientais da instalação de contorno rodoviário urbano ou duplicação da rodovia existente. 2003. Dissertação (Mestrado em Geografia) Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre.
SOUSA, Marcos Timóteo Rodrigues de. Mobilidade e acessibilidade intraurbana: análise do efeito barreira na cidade de Rio Claro. 2009. 114 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 2009. Disponível em: .
VASCONCELOS, Eduardo Alcântara de. Transporte e meio ambiente: conceitos e informações para análise de impactos. ISBN 85-906209-1-3, São Paulo, 2006.
VICTORIA TRANSPORT POLICY INSTITUTE, Transportation Cost and Benefit Analysis
Techniques, Estimates and Implications, 5.13 Barrier Effect, 2o. Edition, 2016. http://www.vtpi.org/tca/
VILAÇA, Flávio. Espaço Intra-urbano no Brasil. 2ª. Edição, Editora Studio Nobel, São Paulo, 2001.
ZEGRAS, C., Mainstreaming Sustainable Urban Transport: Putting the Pieces Together, Urban Transport in the Developing World: A Handbook of Policy and Practice. Northampton, England: Edward Elgar, 2011.

