
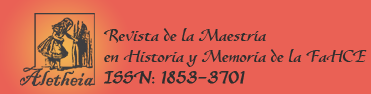

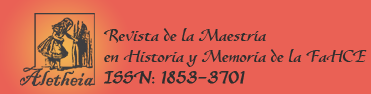
Artículos
Aprendizagem histórica frente à proposta de pedagogiada memória empreendida pelo programa educativo Jóvenes y Memoria: recordamos para el futuro
Historical learning against the memory pedagogy proposal undertaken by the educational program Jóvenes y Memoria: recordamos para el futuro
Aletheia
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
ISSN: 1853-3701
Periodicidade: Semestral
vol. 14, núm. 27, e182, 2023
Recepção: 08 Maio 2023
Aprovação: 07 Julho 2023
Publicado: 01 Dezembro 2023

Resumo: Este trabalho pretende aproximar o processo de aprendizagem histórica, preconizado pela Didática da História, à proposta da pedagogia da memória, empreendida pelo programa educativo Jóvenes y Memoria: recordamos para el futuro, organizado pela Comisión Provincial por la Memoria da província de Buenos Aires. Para isso, a análise se dedicará à compreensão do planejamento institucional do programa e de suas etapas teórico-metodológicas, ambos apresentados no informe “20 años del programa Jóvenes y Memoria” (2021) e na convocatória e cronograma de etapas do ano de 2023. Para assim, buscar semelhanças entre as propostas, em que se destaca a centralidade da construção de narrativas históricas e elaborações de memórias, baseadas no cotidiano e na comunidade local, e a mobilização, em seu sentido emancipatório, das consciências históricas associadas à vida prática dos jovens. Em que foi possível observar o enfoque semelhante que ambas perspectivas outorgam à temporalidade passado-futuro a partir da transformação do presente para deslumbrar horizontes de expectativas.
Palavras-chave: Aprendizagem histórica, Pedagogia da memória, Didática da História, Jóvenes y Memória.
Abstract: This work intends to approximate the process of Historical Learning, advocated by the Didactics of History, to the proposal of the pedagogy of memory undertaken by the educational program Jóvenes y Memoria: recordamos para el futuro, organized in the province of Buenos Aires by the Comisión Provincial por la Memoria. For this, the analysis will be devoted to understanding the institutional planning and its theoretical-methodological stages, both presented in the publication “20 años del programa Jóvens y Memoria” (2021). For then, seek similarities between the proposals, in which the centrality in the construction of historical narratives and elaborations of memory, based on daily life and the local community, and the mobilization, in its emancipatory sense, of the historical consciences associated with life youth practice. In which it was possible to observe the similar focus that both perspectives give to the past-future temporality from the transformation of the present to dazzle horizons of expectations.
Keywords: Historical learning, Memory pedagogy, Didactics of History, Jóvenes y Memoria.
Introdução
Refletir sobre a aprendizagem histórica é se deparar com a relação intrínseca que a mesma implica frente à formação de identidades sociais no âmago dos Estados Nacionais latino-americanos (González, 2018). Um dos espaços onde este vínculo se materializa e se transforma, é a escola, uma instituição ocidental que fundamenta e estrutura os ideais nacionais e também se caracteriza como um universo em pugna acerca de seus sentidos (Pineau, 2001). De forma que a elaboração de narrativas históricas se concebe como um elemento chave, tanto para reafirmação ou contestação deste “nacional”, como para colocar em pauta outras questões e demandas sociais pleiteadas pelos sujeitos escolares envolvidos no processo educacional (Fernández, 1998). Embates estes que, por sua vez, influem fortemente em como os sujeitos se projetam política e coletivamente para o mundo.
Dedicar-se, portanto, à investigação desta problemática, possibilita empreender recortes diversos, que desde os distintos campos de estudos, como propriamente o do Ensino de História e mais recentemente o da Educação Histórica (Barom, 2014), se viabiliza eventualmente pensar desde como se organiza determinada sociedade, até indagar o porquê, para que, para quem, como, quando, se estrutura o ensino e a aprendizagem da disciplina histórica, por exemplo. Em suma, as mobilizações para significar os cotidianos escolares, os currículos, as formações docentes, as memórias sociais e os discursos que se mantém perpetuados, seguem em constante disputa e assídua transformação (Bittencourt, 2009), sendo justamente na pluralidade de interpretações que reside seu potencial.
Nesse sentido, trataremos a aprendizagem histórica teorizada por Jörn Rüsen (1992, 2012, 2015) desde do campo de conhecimento da Didática da História. Concebida como um instrumento impulsionador de criação de sentidos, que disponibiliza ferramentas, as quais os sujeitos e coletividades podem se apropriar, de forma, a possibilitar a associação das diversas temporalidades históricas possíveis às demandas sociopolíticas de seu próprio cotidiano. Acreditamos assim, que tal formulação teórica da aprendizagem histórica se instrumentalizada, em diferentes contextos educacionais, pode fomentar o exercício que deslumbra o tempo presente e futuro de forma emancipatória (Freire, 1996).
A respeito disso, tem-se em Elizabeth Jelin (2002) a formulação de que as operações de memória representam trabalho, logo implicam agência e transformação. A autora que recuperando a Halbwachs (1990), as associa sempre à uma dimensão social e cultural ainda que estas sejam individuais, e apoia-se em Pollak (1989) para conceber a reflexão em torno à inevitável existência de processos de disputas frente suas legitimações e contornos. Ainda recorre a Ricœur (2007) para inferir que a operação de virar-se ao passado configura significá-lo sempre diante do presente. Com isso, trabalhar-se a memória para Jelin (2017) demanda elaboração – logo existe movimento. De modo que a autora, destacando Todorov (2000) e LaCapra (2005), sustenta a importância da transmissão intergeracional atrelada ao exercício de reflexão ativa das novas gerações sobre o passado, a partir de e para o presente, para que assim possa ser possível lançar sentidos ao futuro.
Diante destas ponderações teóricas que nos encontramos com a existência do programa educacional Jóvenes y Memoria: recordamos para el futuro, que a partir da proposição de uma pedagogia da memória, pauta os processos de transmissão e elaboração intergeracional. Este estudo exploratório, portanto, pretende abordar sua proposta institucional expressa no informe em comemoração aos “20 años del programa Jóvens y Memoria” (2021) para buscar pontos de convergência e paralelos com o processo de aprendizagem histórica, proposto pela Didática da História, como objetivo central deste artigo. As discussões deste campo, realizadas principalmente na Alemanha, não estavam restritas ao ambiente escolar, no entanto sua influência teórica e metodológica no campo da educação pode ser verificada em trabalhos de autores como Maria Auxiliadora Schmidt (2004, 2005, 2017, 2017b) e Luis Cerri (2001, 2010, 2011), dos quais nos apropriamos para pensar tais possíveis aproximações e diálogos.
A relação da consciência histórica, identidade e cotidiano com a aprendizagem histórica
Cardoso (2008) ao definir a Didática da História, infere que este campo de conhecimento possui conceitos próprios que buscam compreender como se conformam as elaborações do conhecimento histórico e como estes são impressos no cotidiano dos sujeitos. Se dedica, portanto, a pensar em como os sujeitos se relacionam com a história, considerando estas interações, em suas mais amplas manifestações e usos públicos, sempre associados à vida prática e que não se restringe necessariamente à instituição escolar. Contudo, o autor reconhece a possibilidade e potencialidade de se desempenhar pesquisas na área educacional a partir dos conceitos de Rüsen, reiterando que estas pesquisas sempre vão se vincular não somente à pedagogia, mas essencialmente à Teoria da História. Ainda, para a Didática da História existe uma inerente interrelação entre a vida prática e o conhecimento histórico científico: “História como ciência é, pois, uma forma específica da ‘racionalização’ do pensamento histórico, sempre ativo na vida prática.” (Rüsen, 2015, p. 75), em que um princípio não se fundamenta sem o outro.
Para alcançar o entendimento do ciclo da aprendizagem histórica, proposto pela Didática da História, é preciso compreendê-la como um processo complexo que envolve uma série de fatores externos e internos aos sujeitos. Dentre estes elementos, se destaca o principal objeto e conceito da teoria: a consciência histórica. Esta culminará na orientação temporal exercidas pelos sujeitos, e deve ser encarada como um enredo que se desenvolve de forma intrínseca às identidades e aos cotidianos.
A aprendizagem histórica pode se explicar como um processo de mudança estrutural na consciência histórica. A aprendizagem histórica implica mais que um simples adquirir de conhecimento do passado e da expansão do mesmo. Visto como um processo pelo qual as competências são adquiridas progressivamente, emerge como um processo de mudança de formas estruturais pelas quais tratamos e utilizamos a experiência e conhecimento da realidade passada, passando de formas tradicionais de pensamento aos modos genéticos. (Rüsen, 2010, p. 1).
A consciência histórica, portanto, é um condicionante do agir, é a via pela qual os sujeitos vão organizar temporalmente suas experiências, vividas e aprendidas. As operações da consciência histórica definem as ações no presente em relação ao passado para deslumbrar o próprio presente, como o futuro, além de reger as interações sociopolíticas que os sujeitos expressam individual e coletivamente.
(...) a consciência histórica relaciona “ser” (identidade) e “dever” (ação) em uma narrativa significativa que toma os acontecimentos do passado com o objetivo de dar identidade aos sujeitos a partir de suas experiências individuais e coletivas e de tornar inteligível o seu presente, conferindo uma expectativa futura a essa atividade atual. (Schmidt, 2011, p. 115).
Cerri (2011) pontua que “a consciência histórica tem como principal produto a orientação no tempo. Esta orientação, por sua vez, decorre da identidade e, dialeticamente, a produz e transforma” (p. 60). Assim, a organização temporal que o sujeito detém e exerce, reflete e designa sua cognição –consciência– histórica. Influi diretamente em sua concepção identitária, determinando-a de forma contínua: “o conceito de consciência histórica está inextricavelmente vinculado ao conceito de identidade, e lhe atribui a dinâmica típica dos processos históricos” (p. 62). De maneira, que a cognição histórica e a orientação temporal determinam a maneira que o sujeito se concebe diante de si próprio, como também diante de outros sujeitos.
(...) consciência história é uma estrutura inerente ao pensamento e a ação humanas, ainda que varie em sua forma e conteúdo. Ela é reconhecível, em toda essa diversidade, porque as pessoas se relacionam com o tempo, produzem narrativas que lhes dão sentido e utilizam esse sentido para escolher suas ações (que incluem não agir ou considerar que não podem agir de modo distinto do usual) mirando o futuro que desejam, ou ao qual julgam que devam se submeter. (Cerri, 2011, p. 61).
Para Rüsen (1992), todos possuem consciência histórica, e a preocupação epistemológica da Didática da História é compreender como as pessoas fazem uso dela para sua própria orientação temporal no cotidiano na vida prática. E com base na mobilização de temporalidades –orientação temporal– realizadas pelo sujeito, é possível compreender como a aprendizagem histórica funciona e é exercida socialmente.
O sentido histórico atua - nos fundamentos existenciais das atividades culturais, nas disposições das atitudes mentais perante o passado, no hábito do comportamento humano em todos os setores da vida. Ele predispõe para o manejo das experiências históricas, específico de cada geração. Ele se incorporou às concepções de identidade histórica, na qual e pela qual os homens operam realmente seu pertencimento a outros homens e sua distinção dele (ou, em outras palavras: são operados) (Rüsen, 2015, p. 94).
Como afirma Schmidt (2017), temos na consciência histórica o pressuposto e finalidade da aprendizagem histórica. A consciência histórica emerge “como base de todo o ensino e aprendizado da história, podendo-se associar e explicar a consciência histórica como teoria da aprendizagem histórica.” (Schmidt, 2017b, p. 65). Para a Didática da História, os processos da aprendizagem histórica se relacionam com a complexificação da consciência histórica – consistindo na ampliação da capacidade de narrar e se organizar o pensamento histórico no fluxo temporal a “narrativa é histórica quando exprime o contexto temporal que articula sistematicamente a interpretação do passado com um entendimento do presente e as expectativas de futuro.” (Rüsen, 2015, p. 81). É a partir deste processo que a aprendizagem histórica produz: “um sentido para a experiência histórica, de tal forma que ele poderia orientar a sua existência em relação a si mesmo e aos outros, no fluxo do tempo (Schmidt, 2017b, p. 67). Assim, quando um sujeito narra temporalmente, por meio da linguagem, alguma temática do passado ou do presente, esta narrativa se concebe como a expressão manifesta de sua consciência histórica.
A aprendizagem histórica se dará então no momento que o sujeito reajusta suas narrativas históricas com base na experiência do conhecer e do pensar historicamente que acabou de exercitar, produzindo assim, sentido histórico. Este processo somente ocorre de forma autônoma,1 a partir da elaboração mobilizada pela interpretação, que se daria a complexificação da consciência histórica se conceberia e passaria a ordenar sua identidade e suas ações no tempo histórico. O resultado deste exercício possibilitaria, então, maior capacidade de autonomia e organização temporal em relação às suas próprias ações empreendidas no presente. Isto é, por meio do diálogo com o passado, que possua interferência no cotidiano prático –presente– e prospecte o futuro.
Assim, para a Didática da História a aprendizagem histórica ocorre em interrelação com a identidade e consciência histórica, que por sua vez, demanda elaboração de narrativas e mobilização da orientação temporal. Isto posto, abordaremos as etapas teórico-metodológicas do planejamento institucional da 22ª edição do ano de 2023, do programa educativo Jóvenes y Memoria: recordamos para el futuro, para pontuar as possíveis proximidades das reflexões alavancadas pela teoria da aprendizagem histórica frente à proposta educativa.
A organização institucional do programa educativo
O programa educativo Jóvenes y Memoria: recordamos para el futuro, inicia sua trajetória no ano de 2002, coordenado pela Comisión Provincial por la Memoria (CPM)2 da província de Buenos Aires. A proposta surge com o intuito de dedicar-se à problemática das transmissões intergeracionais sobre memórias e relatos históricos do passado recente. Como a denominação do programa já anuncia, a centralidade se destina aos jovens e suas elaborações de memória, em que se objetiva fundamentalmente outorgá-los protagonismo durante a experiência vivenciada no programa.
El programa Jóvenes y Memoria es una experiencia educativa que se inscribe en la larga trayectoria de las pedagogías críticas, cuyo sentido más profundo ha sido generar espacios de enseñanza y aprendizaje que rompan con los sentidos dominantes y construyan contra hegemonía. Esto da lugar a prácticas emancipatorias sostenidas en relaciones humanas igualitarias, solidarias y comprometidas con el otro, donde el individuo despliegue todo su potencial creativo y vital en relación con su comunidad (Comisión Provincial por la Memoria, 2021, p. 28).
De forma colaborativa com escolas públicas, privadas e instituições sociais, o programa educacional ocorre de forma anual em diversas regiões no interior da província bonaerense dispondo de grande infiltração, sendo já aplicado a “grupos de toda la provincia, desde pequeñas comunidades rurales hasta grandes aglomeraciones urbanas. Todos los distritos de la Provincia han participado al menos una vez del Programa” (p. 20). Inicialmente o programa era restrito à participação de escolas, no ano de 2006 se deu a primeira participação de instituições educativas não escolares, atualmente também são incorporadas as participações de coletividades e organizações de cunho sociopolítico e cultural. Além disso, o programa já foi realizado nas províncias de Chaco, Entre Ríos e Chubut, e atualmente se encontra ativo em Santiago del Estero, Rosário . Córdoba, além de Buenos Aires.
Temos assim, no informe “20 años del programa Jóvenes y Memoria (2021)”, uma publicação pensada para circulação e divulgação ao público externo, em que se apresentam os objetivos centrais da CPM com a realização do programa educativo, se sinaliza um balanço acerca dos vinte anos de sua execução interrupta e sobretudo se coloca como mais um espaço de discursão sobre a relação entre história e memória e precisamente sobre a pedagogia da memória. Conta com trinta páginas, divididas nos seguintes tópicos: Prólogo (p. 7-11), Introducción (p. 13-15), Momentos del programa (p. 16-19), Impacto en las comunidades (p. 20-22), 20 años adelantando la agenda (p. 23-27), A modo de conclusión – Haciendo pedagogía de la memoria (p. 28-30). Neles se assenta o propósito principal da CPM residir na organização dos jovens em grupos de investigação, para que estes desempenhem de forma inerente ao ano letivo escolar, trabalhos investigativos que se associem às suas próprias realidades cotidianas locais, com a pedagogia da memória se constituindo como a grande engrenagem teórico-metodológica.
Para melhor compreensão da organização metodológica do programa, buscamos o cronograma do ano de 2023, no qual a CPM expõe a definição das etapas do programa, conforme abaixo:

O primeiro passo do programa, para além do processo de divulgação, se efetiva por meio de uma convocatória geral3 e logo culmina na Etapa 1, na qual os futuros coordenadores dos eventuais projetos se inscrevem previamente. A participação no programa nunca foi obrigatória, de forma que o processo de inscrição se dá primeiramente pela ação de iniciativa docente. Isto é, para que estudantes de uma determinada escola ou instituição possam participar, é necessário a intervenção de um responsável que tenha se inscrito anteriormente, para ser coordenador do projeto que será desempenhado posteriormente, em conjunto com os jovens. Ainda, o número de coordenadores por escola, instituição ou coletividade, pode variar de acordo com a densidade de estudantes, com o programa aceitando apenas um projeto por ano respectivamente cada escola ou organização social.
Um pilar que caracteriza o programa trata-se de que a submissão do projeto não se dá diretamente no ato da inscrição, estando condicionada à formação docente, prevista nas Etapa 2 e 3. Acreditamos que isto se deva em razão da formação pretender reativar discussões importantes no marco da história e memória, e igualmente em democracia e direitos humanos. Além de concretizar o espaço e o tempo em que a CPM institucionalmente pode reafirmar o fundamento de construção coletiva dos projetos, a partir do diálogo constante com as demandas dos jovens em relação a seu cotidiano local. A submissão do projeto, então, se sucederia somente na Etapa 4, com a avaliação e devolução, ocorrendo na Etapa 5.
A Etapa 6 consiste na realização de encontros entre a coordenação administrativa e pedagógica da CPM com as escolas e organizações correspondentes às regiões participantes. Na edição do ano de 2022, os encontros se iniciaram partir de 28 de julho, em que totalizaram, cinquenta e cinco encontros distritais na província de Buenos Aires (Comisión Provincial por la Memoria, 2023). Estes encontros periódicos, nos parecem, importantes em seu sentido de orientar metodologicamente a organização do andamento das pesquisas, como também fundamentais em seu aspecto pedagógico e político, à medida que visa seguir atestando que a relação entre as temáticas levantadas nos projetos são demandas oriundas genuinamente dos jovens.
A etapa 8 simboliza a finalização do ciclo do programa, é quando ocorre o encontro de encerramento no complexo turístico de Chapadmalal.4 Esta localidade detém a especificidade de fazer parte dos complejos vacacionales do sistema estatal argentino de turismo social. Assim longe de ser uma escolha de local aleatória, a CPM estabelece uma parceria junto ao Ministerio de Turismo y Deportes para tornar factível reunir todos os grupos de jovens nesta estância pública. De forma que o território também se concebe como parte do projeto educacional, pois como infere Schenkel (2019), a unidade turística se converteu em um objeto de disputa entre distintos governos, já que sua fundação remonta o primeiro governo peronista (1946-1952), foi alvo de corte orçamentário durante a última ditadura militar e retomado posteriormente em regime democrático. Neste complexo, portanto, é que são socializados os trabalhos produzidos pelos jovens em talleres, para que eles interajam entre si, as investigações empreendidas coletivamente, durante o ano letivo escolar. A grande maioria dos trabalhos produzidos pelos alunos se dá pela forma audiovisual, representando uma média de 75% do total das produções (Comisión Provincial por la Memoria, 2021, p. 19). Algumas destas produções podem ser consultadas em um extenso catálogo disponível nas plataformas virtuais5 administradas pela CPM.
A este respeito também foi possível notar a renovação e ampliação da agenda temática do programa, inicialmente pautada para inserir-se no núcleo de transmissão e elaboração da última ditadura militar, atualmente possui como exigência metodológica a inserção do tema de investigação no eixo de democracia e direitos humanos, sem que seja obrigatório o tratamento restrito ao terrorismo de estado. Existe assim “un interés cresciente em temas como la violencia institucional, el trabajo infantil o el derecho a un medio ambiente digno” (p. 26). Para a CPM este aspecto se vincula intimamente com a potencialidade da pedagogia da memória, que ao permite aos jovens “apropiarse de un espacio centrado en sus preocupaciones y adaptado a su necesidad de incorporar temas al debate, la agenda del Programa no sólo acompaña la agenda política del país sino que se le antecipa” (p. 27), em que ao atender as demandas oriundas dos jovens reafirma o compromisso com colocar em jogo os sentidos históricos de forma a pensar o passado para continuamente inferir sobre o presente em busca de transformá-lo.
Sinalizamos assim, alguns dos elementos principais que compõe a organização institucional do programa, que abrange uma complexidade ao tratar de muitas dimensões, como “capacitaciones docentes y la producción de materiales pedagógicos.” (Comisión Provincial por la Memoria, 2021, p. 13), e também: avaliação didática das propostas dos projetos apresentadas; proposição de sequencias didáticas em forma de consulta e acompanhamento dos grupos formados entre docentes coordenadores e jovens, além de fundamentalmente, administrar as apresentações dos trabalhos durante o encontro de encerramento. Nesse sentido, nos cabe refletir sobre o principal conceito teórico-didático por trás de tal engrenagem institucional, a pedagogia da memória a partir da CPM.
Pedagogia da memória: diálogos e aproximações com a aprendizagem histórica
A pedagogia da memória pautada pelo programa, é pretendida como o instrumento que possibilite aos jovens apropriar-se das informações trabalhadas no marco dos projetos, não somente para se absorver conteúdos, mas para mobilizá-los na compreensão do mundo em que vivem. Isto associado sempre ao seu presente, para deslumbrar ações também no futuro, sempre em relação às comunidades em que estão inseridos:
La pedagogía de la memoria se realiza en el intercambio transgeneracional de la experiencia, que circula en espiral conectando pasado, presente y futuro. La dialéctica pasado-presente inscripta en los procesos de memoria no incide sólo en la mirada hacia atrás sino hacia adelante. De esta dinámica se nutre la pedagogia de la memoria abriendo horizontes emancipatorios. Surge del encuentro solidário entre generaciones, de las practicas colectivas entre pares, de la construcción identitaria de las generaciones en relación con su comunidad (Comisión Provincial por la Memoria, 2021, p. 30).
As proximidades que se destacam quando pensamos a relação entre a aprendizagem histórica, pautada pela Didática da História, e a pedagogia da memória, empreendida pelo programa educativo Jóvenes y Memoria: recordamos para el futuro, residem no trabalho metodológico com a consciência histórica e na esperança deste exercício fomentar sentidos no e do presente em direção ao futuro. Isto é, colocar em jogo sentidos –memórias, narrativas, representações– desde o cotidiano dos sujeitos, para que ocorra o desenvolvimento da competência narrativa, que por sua vez traria a possibilidade de transitar entre diversas temporalidades históricas, e assim, pensar o passado a partir do presente e então, impulsionar expectativas de futuro (Koselleck, 1993):
La llamada pedagogía de la memoria es aquélla capaz de generar estos nuevos horizontes de expectativas, enlazando las experinecias pasadas con las presentes para transformar el pasado produciéndole nuevos significados, para transformar el presente en un nuevo futuro. Es necesario destacar que les jóvenes no son los receptores de esta pedagogía sino sus hacedores y protagonistas (Comisión Provincial por la Memoria, 2021, p. 29).
Tem-se em Sandra Raggio (2021), percursora e primeira diretora do programa e atual diretora geral da CPM, reafirma que a pedagogia da memória pensada para o programa, recorre a Reinhart Koselleck (1993) ao pretender “propiciar la conexión del pasado con el presente en el marco de la construcción de nuevos horizontes de expectativas.” (p. 1). Já a aprendizagem histórica pensada por Rüsen também utiliza o autor na construção ampla de seu referencial teórico para o método da história:
Rüsen ressalta que a formatação das perspectivas em perguntas é necessária para conferir uma referência concreta aos trabalhos de reunião, seleção e classificação das fontes (RP, p. 118). A segunda operação processual do método histórico é a crítica, na qual se investigam os dados empíricos trazidos à tona pela heurística. A crítica histórica extrai das fontes uma rede de fatos que tem por função possibilitar o que Rüsen -tomando emprestado uma metáfora de Reinhart Koselleck- designa como "o direito de veto das fontes" sobre a interpretação (RP, p. 125). Esta última, por sua vez, representa o terceiro momento peculiar à pesquisa histórica. Na interpretação, organizam-se e verificam-se as informações obtidas através da crítica das fontes (Assis, 2014, p. 48).
Nesse sentido, pode se notar no planejamento das ações do programa a centralidade das temporalidades passado, presente e futuro na produção e desenvolvimento das narrativas históricas e elaborações de memória. Para Rüsen a pertinência narrativa, relaciona-se com a plausibilidade do sentido das histórias, bem como com a propriedade da relação entre as intenções de futuro e os conteúdos da experiência do passado reconstruídos nas narrativas históricas (Rüsen, 2001). Tanto para o programa analisado quanto para a Didática da História, o pensamento histórico se manifesta por meio de uma elaboração histórica que articula as três temporalidades na tentativa de constituição de sentido para o sujeito.
O programa educativo outorga um papel fundamental à memória no marco do planejamento de suas ações, na qual se destacam os seguintes trechos retirados do Informe produzido pela CPM (2021):
Una memoria situada en la transmisión, orientada a las nuevas generaciones, abierta a la exploración inacabada de lo que aún está por definirse se nutre del dolor para construir la esperanza. Se detiene, no acepta el movimiento progresivo de la historia como si fuese natural ni se queda paralizada en su añoranza. (…) Hacer memoria es detener el tiempo o, mejor dicho, negar que el tiempo sea lineal y asumir que tal vez circula en espiral. (…) Porque no hacemos memoria de lo pasado, hacemos memoria de lo que pasa, de lo que se despliega ante nuestros ojos como rituales normales de nuestra vida cotidiana (p. 9-10).
Se observa uma forte ênfase à categoria de transmissão atrelada à memória, em que a partir de tal associação, se possibilitaria garantir às novas gerações o movimento de transitar temporalmente “del presente al pasado y del pasado al futuro (…) la memoria alberga la expectativa de lo nuevo, el quiebre de la continuidad, del presente sin límite, y no por el acto de evocación sino por los actos de significación” (p. 10). Isto é, com base no desenvolvimento de suas próprias narrativas históricas e elaborações de memória.
Assim, a relação entre memória e transmissão para a CPM trata de pensar esta tensão desde seu caráter conflitivo e também plural, como uma “relación dialógica entre pasado y presente, es decir, como intercambio entre las viejas generaciones y les jóvenes” (Raggio, 2021, p. 1). Em que se deva almejar a emancipação do sujeito em relação à sua própria organização no tempo histórico. Não se trata, portanto, de enxergar os jovens como tábulas rasas (Chesnaux, 1995) e sim de encarar o desafio de “evitar el riesgo de una transmisión cristalizada, cerrada en una versión, ritualizada en las efemérides, que pierda su nexo con la dinámica del presente y el futuro” (Raggio, 2017, p. 2). Em que se acentue a potencialidade que este exercício possa eventualmente gerar na vida prática dos sujeitos.
Para Rüsen, ainda que a memória não possua a capacidade de recuperar os fatos como ocorreram, tal qual muitas vezes é exigido da disciplina histórica, sua virtude consiste justamente em que rememorar e narrar não são completamente carentes de objetividade, assim em “cada articulação da memória humana, segundo ele, sempre haverá elementos objetivos, e o discurso da instituição de sentido falha exatamente na medida em que negligencia essa circunstância basilar” (Assis, 2010, p. 20). É, pois, no sofrer e agir da vida prática que surgem as carências de orientações temporais. Estas carências evidenciadas nas expressões da narrativa histórica nos indicam quais “passados” deveriam ser trabalhados em contexto educacional para garantir a tomada de consciência e, portanto, de autonomia em suas decisões no presente projetando seu futuro:
Ademais, quem ensina tem que interiorizar o princípio de que o sentido da história não se reduz a uma autoafirmação compulsiva ou violenta com todas as consequências dolorosas para os envolvidos, mas, abre-se a um aumento permanente das experiências temporais que são processadas em um movimento contínuo, entre a experiência da diversidade do outro e a afirmação do eu. Esta abertura da consciência histórica pode ser apreendida pelo fato dos alunos receberem diferentes interpretações da experiência histórica, de modo que eles obtêm sua autonomia por meio de um ato de escolha (Schmidt, 2017b, p. 69).
Nesse mesmo sentido, se insere a colocação de María Elena Saraví (2016), atual diretora do programa, que ao ponderar sobre a particularidade da proposta educativa, acrescenta que o programa se caracteriza por defender a centralidade da autonomia nas operações de memória empreendidos (Jelin, 2002) pelos jovens:
La novedad del Programa es que propone que las y los jóvenes deben y pueden ser parte activa en la construcción de la memoria. Nos hemos planteado que el deber de memoria, entendido como la responsabilidad y obligación de transmitir un legado, debe estar vinculado de manera indisoluble al derecho a la memoria. Las nuevas generaciones ejercen ese derecho cuando son incorporadas a la construcción de la memoria con su propia perspectiva, pero no cuando son pensadas solamente como recipiente para el trasvase de un mandato, en el caso argentino, el del “Nunca Más” a la dictadura militar. La participación es necesaria para una apropiación significativa del pasado (Saraví, 2016, p. 57).
Nesta colocação de Saraví ainda aparecem elementos que também delineiam a proposta do programa educativo, sendo eles o deber de la memoria e o derecho a la memoria. Nos parece que o primeiro se refere à discussão impulsionada ao contexto educacional por Adorno (1995), que repensa a função da memória nos regimes democráticos emergentes após a Segunda Guerra Mundial, a qual logo que se encontra com a proliferação das discussões em torno a quais sujeitos possuem o direito a acessar, significar, transmitir e elaborar determinadas memorias. Ambas ponderações se assentam na inclinação crítica sustentada pelo programa, contrária a encarar o Nunca Más, como um projeto político estático ao tempo, posto como hegemônico (Dussel, Finocchio y Gojman, 1997) ao impossibilitar o trabalho com outras memórias subterrâneas (Pollak, 1989).
Ainda salientamos que apesar da extensa e sistematizada discussão sobre aprendizagem histórica presente nas obras de Jörn Rüsen, o autor não se dedica a elaborar uma proposta metodológica propriamente para a sala de aula. Assim, tomando as referências da Didática da História e sua matriz disciplinar, Schmidt (2017) propõe uma matriz metodológica denominada aula histórica. Nesta proposta deve-se partir do reconhecimento das carências de orientação e dos interesses e demandas dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, antes de priorizar a transmissão de determinado conteúdo histórico. Este é o primeiro momento em que os sujeitos podem eventualmente, por meio da narrativa histórica, exprimir sua consciência histórica. O segundo ato trata-se da intepretação, onde os sujeitos já em contato com o conteúdo apresentado, analisam as fontes históricas –primárias e secundárias– tendo como referência seu cotidiano. Por fim, o terceiro seria a orientação e a ação, o amadurecimento da capacidade de organizar-se temporalmente, a qual se materializaria em forma de ação na vida prática dos sujeitos que irão imprimi-la.
Nesse sentido, pode-se verificar estreita relação teórico-metodológica entre tal proposta, sustentada na aprendizagem histórica, com a da pedagogia da memória, alavancada pela formação de grupos de investigação dos jovens. Ambas se assentam sob a crença na função prática que a História pode imprimir na vida cotidiana dos sujeitos. Em que se sobressai a semelhança de partir da centralidade da autonomia que os sujeitos devem exercer sobre suas narrativas e orientações temporais, para que possa ser possível dialogar com o passado-presente-futuro em forma de ação e transformação da vida prática.
Considerações finais
Diante da análise das etapas metodológicas do programa educativo Jóvenes y Memoria: recordamos para el futuro, se observa que existe a tentativa de fomento à capacidade de narrar e de atribuir sentidos às experiências históricas no tempo por parte dos jovens. Este processo pode ser um caminho que se abre ao amadurecimento, exercido de forma dialética, da consciência histórica durante a investigação empregada pelos jovens na vivência educativa. O propósito do programa reside na expectativa de que os jovens possam se reconhecer dentro da História, saber seu lugar na sociedade e exercitar sua autonomia, enxergando-se como sujeitos históricos e sobretudo como protagonistas nos processos de construção de suas memórias.
A premissa de execução dos projetos, em que se deve partir necessariamente do presente e do cotidiano local como condição para voltar-se ao tempo passado e então deslumbrar o tempo futuro, se materializa como o grande diferencial do programa educativo. Podendo assim, se converter em um instrumento valioso, que se traduz como a coluna vertebral da proposta institucional: viabilizar a centralidade e autonomia dos jovens no levantamento de questionamentos que se relacionam com suas próprias demandas sociopolíticas, para se trabalhar a memória, construir narrativas históricas e se orientar temporalmente.
O requisito de apresentação coletiva dos trabalhos realizados durante todo o ano, na última etapa do programa, atribui a este momento a função de ser a via pela qual se mobilizaria a consciência histórica dos jovens. Momento este em que os estudantes, por meio da escolha de alguma linguagem, acabariam narrando suas cognições históricas que podem ter sido ou não complexificadas durante o percurso vivenciado. De forma, que este movimento pode vir a influenciar na forma que os jovens organizam sua orientação no tempo histórico como sujeitos históricos, influindo diretamente na sua identidade e em suas intervenções na sociedade, tal qual defende a aprendizagem história pautada pela Didática da História.
Existe, portanto, no programa educativo, o fomento institucional que responde a este mesmo intento: mobilizar a consciência histórica dos jovens, com base em sua realidade local, para pensar a relação passado-presente e deslumbrar o futuro. Em que, portanto, se encontra com os preceitos da aprendizagem histórica propostos por Rüsen, na medida que promove a mobilização da consciência histórica, em que sua complexificação pode ser uma possibilidade, gestada por meio das investigações coletivas e materializadas nas apresentações dos trabalhos finais realizados pelos jovens.
Financiamento
Este artigo é resultado do trabalho de conclusão de curso de História, licenciatura equivalente ao professorado na Argentina, pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana.
Referências
Adorno, T. W. (1995). Educação após Auschwitz. Educação e emancipação, 3, 119-138.
Assis, A. (2010). A teoria da história de Jörn Rüsen: uma introdução. Brasil: Ed. UFG.
Barom, W. C. C. y Cerri, L. F. (2011). O ensino da história a partir da teoria de Jörn Rüsen. Maringá: Universidade Estadual de Maringá.
Barom, W. C. C. (2014). Os micro campos da Didática da História: a teoria da história de Jörn Rüsen, pesquisas acadêmicas e o ensino da história. Revista de Teoria da História, 6(12), 15-67.
Barom, W. C. C. (2017). Os principais conceitos da teoria da história de Jörn Rüsen: uma proposta didática de síntese. Albuquerque: Revista de história, 9(18).
Bittencourt, C. M. F. (2009). Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Editora Cortez.
Cardoso, O. (2008). Para uma definição de Didática da História. Revista Brasileira de História, 28(55), 153-170.
Cerri, L. F. (2001). Os conceitos de consciência histórica e os desafios da didática da história. Revista de História Regional, 6(2).
Cerri, L. F. (2010). Ensino de história e consciência histórica: implicações didáticas de uma discussão contemporânea. Rio de Janeiro: Editora FGV.
Cerri, L. F. (2011). Cartografias Temporais: metodologias de pesquisa da consciência histórica. Educação e Realidade, 36(1), 59-81.
Comisión Provincial por la Memoria. (2021). 20 años del programa Jóvenes y Memoria. La Plata, Buenos Aires, Argentina.
Comisión Provincial por la Memoria. (13 de marzo de 2023). 21 años del programa jóvenes y memoria. https://www.comisionporlamemoria.org/jovenesymemoria/
Comisión Provincial por la Memoria. (20 de abril de 2023). Etapas do programa. https://www.comisionporlamemoria.org/jovenesymemoria/etapas-del-programa/
Chesnaux, J. (1995). Devemos fazer tábula rasa do passado. Sobre história e os historiadores. São Paulo: Editora Ática.
Fernández, R.C. (1998). Sociogénesis de una disciplina escolar: la historia. Barcelona: Pomares-Corredor.
Freire, P. (1996). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à pratica educativa. São Paulo: Paz e Terra.
González, M. P. (2018). La enseñanza de la historia en el siglo XXI: saberes y prácticas. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.
Halbwachs, M. (1990). A Memória Coletiva. São Paulo: Edições Vértice.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid, Buenos Aires: Siglo Veintiuno de España Editores, Siglo Veintiuno de Argentina.
Jelin, E. (2017). La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
Koselleck, R. (1993). Futuro pasado. Barcelona: FIK Ediciones Paidós.
La Capra, D. (2005). Escribir la historia, escribir el trauma. Argentina: Nueva Visión.
Pineau, P. (2001). ¿Por qué triunfó la escuela?, o la modernidad dijo: “Esto es educación”, y la escuela respondió: “yo me ocupo”. En P. Pineau, I. Dussel y M. Caruso (Eds.), La escuela como máquina de educar. Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad (pp. 27-52). Buenos Aires: Paidós.
Pollak, M. (1989). Memória, esquecimento, silêncio. Revista estudos históricos, 2(3), 3-15.
Raggio, S. (2015). Enseñar los pasados que no pasan. En P. Flier (Comp.), Dilemas, apuestas y reflexiones teórico-metodológicas para los abordajes en historia reciente. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
Raggio, S. M. (2017). Transmisión de la memoria: la experiencia en el encuentro con Otros. El largo proceso de institucionalización de la memoria en la escuela. Aletheia, 7(14). https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/ATHv7n14a09
Raggio, S. M. (29 de noviembre de 2021). Jóvenes y Memoria según Sandra Raggio: Una inmensa ronda que no para de crescer. Andar Agencia. https://www.andaragencia.org/una-inmensa-ronda-que-no-para-de-crecer/
Ricœur, P. (2007). A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora Unicamp.
Rüsen, J. (1992). El desarrollo de la competência narrativa en el aprendiaje histórico. Uma hipótesis ontogenética relativa a la conciencia moral. Revista Propuesta Educativa, 7(4), 27-36.
Rüsen, J. (2001). Razão histórica – Teoria da História: os fundamentos da ciência histórica. Brasília: UNB.
Rüsen, J. (2010). O desenvolvimento da competência narrativa na aprendizagem histórica: uma hipótese ontogenética relativa à consciência moral. En Jörn Rüsen e o ensino de história (pp. 51-77). Curitiba: Editora UFPR.
Rüsen, J. (2012). Aprendizagem histórica: fundamentos e paradigmas. Curitiba: W.A. Editores.
Rüsen, J. (2015). Teoria da história: uma teoria da história como ciência. Curitiba: Editora UFPR.
Saraví, M. E. (2016). El Programa Jóvenes y Memoria, recordamos para el futuro. Una experiencia para jóvenes. Revista Decisio-Crefal.
Saviani, D. (2021). Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. Campinas: Autores associados.
Schenkel, E. (30 de mayo de 2019). Embalse y Chapadmalal: historia y actualidad del turismo social en Argentina. Buenos Aires: Alba Sud.
Schmidt, M. A. M. S. y Cainelli, M. (2004). Ensinar história. São Paulo: Scipione.
Schmidt, M. A. M. S. y Garcia, T. M. F. B. (2005). A formação da consciência histórica de alunos e professores e o cotidiano em aulas de história. Cadernos Cedes, 25(67), 297-308.
Schmidt, M. A. (2017). ¿Qué hacen los historiadores cuando enseñan la Historia? Contribuciones de la teoría de Jörn Rüsen para el aprendizaje y el método de enseñanza de la Historia. Clio & Asociados, 24, 26-37.
Schmidt, M. A. (2017b). Jörn Rüsen e sua contribuição para a didática da História. Intelligere, Revista de História Intelectual, 3(2), 60-76.
Todorov, T. (2000). Los abusos de la memoria. Barcelona: Editora Paidós.
Notas
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/turismo-social/ut-chapadmalal
http://catalogo.comisionporlamemoria.org/catalogo
https://www.comisionporlamemoria.org/jovenesymemoria/colecciones/

