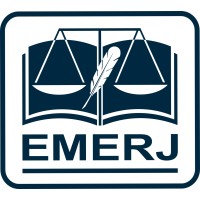INTRODUÇÃO
Considerando, portanto, as discussões abordadas neste trabalho, che gou-se às seguintes considerações:
“Ódio” é um termo que tem sido bastante utilizado na atualidade para qualificar os discursos proferidos contra certas pessoas ou grupos sociais, os quais, por alguma razão atrelada sobretudo às suas identidades, padecem, de alguma maneira, com as desigualdades que a sociedade impõe. Tal situação, considerando o viés plural que o meio social contemporâneo apresenta, leva a alguns questionamentos que não podem ser ignorados, como, por exemplo: será que toda emissão de opinião é legítima e deve ser protegida pelo Direito? Mesmo que o parecer opinativo represente a diminuição e a inferiorização de determinada pessoa ou coletividade? E, afinal de contas, o que é esse discurso de ódio tão falado? Teria ele alguma repercussão jurídica?
É importante pontuar que a diversidade humana comporta, na sociedade, diferentes formas de expressão da identidade de gênero e afetividade, bem como ideologias, culturas e demais traços que distinguem a forma de ver e vivenciar o mundo. Todavia, essa pluralidade na forma de existir esbarra também no livre pensamento, corolário da liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional tutelada pelo Estado de Direito. A partir disso, cria-se no imaginário comum a percepção de que a manifestação de ideias não esbarra em limites, sendo permissível para que todos possam ditar suas opiniões independentemente de ferir a subjetividade do Outro, de modo a ignorar ao revés do ideal de alteridade e respeito à diferença que deve existir na sociedade.
Esse quadro, por sua vez, é utilizado como subterfúgio para alegações de cunho discriminatório e excludente de direitos contra grupos que, pelo seu contexto relacional, já são considerados como marginalizados socialmente, como a população LGBTI+, pessoas com deficiência, mulheres, integrantes de grupos étnico-raciais desprestigiados e de minorais religiosas, entre outros. Por isso, comenta-se que esse tipo de atitude discursiva pode ser enquadrada como odiosa, por promover, no meio social, a incitação da violência, da discriminação e da retirada de direitos que devem ser conferidos para todas as pessoas, independentemente de suas particularidades, como origem nacional, raça, cor, gênero, credo, idade etc.
Nesse segmento, o discurso de ódio enquadra-se como conduta reprovável e que macula a imagem social da pessoa humana vulnerável perante os demais sujeitos, de forma a buscar incitar a retirada de direitos, oportunidades e recursos disponíveis; sendo, assim, necessário que exista, na esfera jurídica, um papel ativo na promoção da defesa dos direitos fundamentais e da personalidade. A partir desse contexto, este trabalho parte da seguinte problemática: em que medida a construção de um conceito jurídico de Discurso de Ódio, enquanto ferramenta de direito antidiscriminatório, pode funcionar como um limitador da liberdade de expressão para a promoção do respeito à diversidade?
À vista disso, este artigo buscou analisar de que forma esse discurso de ódio poderá ser considerado enquanto um elemento limitador do exercício da liberdade de expressão, corroborando para a promoção do respeito à ideia de diversidade no meio social, com ênfase nas manifestações dispensadas em meio digital. Para isso, objetivou-se: a) compreender os conceitos de estigma e de vulnerabilidade e a sua relação basilar com o discurso de ódio e em que medida a sua demarcação jurídico-conceitual pode funcionar enquanto uma ferramenta de direito antidiscriminatório; b) analisar a demarcação conceitual de liberdade de expressão e discurso de ódio a partir do panorama jurídico brasileiro; c) estudar o caso Ellwanger e o papel desempenhado por ele na construção do conceito jurídico de discurso de ódio; e d) investigar os impactos que o discurso de ódio pode gerar no ambiente digital, a partir da análise de dois casos que envolvam excesso no exercício do direito à liberdade de expressão.
Para tanto, foi utilizado o método analítico-dedutivo, por meio do recurso à técnica da documentação indireta, de revisão bibliográfica e de pesquisa documental, e do estudo de casos múltiplos com abordagem qualitativa. Nesse sentido, a pesquisa teve caráter exploratório, valendo-se: a) de livros, teses, dissertações e artigos científicos, em meio bibliográfico e digital, para construção de um embasamento teórico jurídico das ideias de liberdade de expressão, discurso de ódio e a sua relação com as percepções de estigma e vulnerabilidade; b) do estudo específico do caso Ellwanger, como paradigma jurisprudencial utilizado para balizar as discussões em torno da tutela jurídica das manifestações odiosas; e c) de notícias, no intuito de realizar um estudo de casos múltiplos, relativos a duas situações envolvendo excessos no exercício da liberdade de expressão no meio digital.
1 Estigma, Vulnerabilidade e (Anti)Discriminação:
a diversidade como alvo das investidas do discurso de ódio
Antes de abordar especificamente os temas da liberdade de expressão, do discurso de ódio e as suas respectivas delimitações conceituais, é necessário destacar, a priori, que a relevância e pertinência dessa discussão encontram-se, sobretudo, no fato de haver, no meio social, certos indivíduos e grupos de indivíduos que veem suas existências recortadas por duas circunstâncias específicas: a) o estigma; e b) a vulnerabilidade. Por essa razão, a definição desses dois conceitos servirá de ponto de partida para, em seguida, poder-se compreender a relação intrínseca entre discurso de ódio e liberdade de expressão e o papel do Direito na inibição ao primeiro.
Dessarte, a presente discussão será iniciada a partir da ideia de estigma, que poderia ser compreendida como um atributo, carregado por determinado indivíduo ou grupo de indivíduos, que, frente à ótica da sociedade na qual está inserido, faz com que seja(m) visto(s) por um prisma depreciativo. Sobre o tema, inclusive, não há como deixar de referenciar a obra “Estigma” (1963), do sociólogo canadense Erving Goffman, na qual o autor faz uma análise pormenorizada de tal atributo frente à realidade social.
Segundo o autor, tal termo, de origem grega, foi cunhado pelos antigos para indicar os sinais corporais os quais evidenciavam alguma situação extraordinária ou ruim sobre o status moral de quem o apresentava. A sua apreensão na contemporaneidade, por outro lado, leva em consideração o fato de a sociedade estabelecer, de modo geral, meios para categorização das pessoas, vinculando a esse processo as noções de “comum” e “natural” (GOFFMAN, 2008, p. 11-12), numa clara tentativa de elaboração do conceito de “normalidade”.
Diante disso, há a construção de uma identidade social para cada indivíduo, que pode ser dividida entre a identidade social virtual (a compreensão de uma pessoa a partir de um retrospecto em potencial de uma categorização à qual ela está vinculada) e a identidade social real (os reais atributos e potenciais daquela pessoa em específico). Nesse sentido, o estigma irá surgir quando há um descrédito, uma diminuição do indivíduo em razão de uma discrepância entre a sua identidade social virtual e a sua identidade social real, ocasionada pela constatação de um atributo que lhe é profundamente depreciativo (GOFFMAN, 2008, p. 12-13). Explica-se: na construção do conceito médico de deficiência, por exemplo, considerava-se que as pessoas com deficiência eram seres limitados em razão das suas condições anátomo-corporais particulares, levando tais indivíduos a serem enxergados com pena e comiseração pelo meio social; ignorando, portanto, as suas reais qualidades e potencialidades, o que acabava acarretando, até mesmo, a restrição de alguns de seus direitos na esfera jurídica (DINIZ, 2007).
Desse modo, pode-se dizer que o estigma e, mais precisamente, o processo de estigmatização, atuam diretamente sobre as relações sociais para desmerecer e desprestigiar aquelas pessoas que possuem características, comportamentos ou traços que as fazem desviar do padrão de “normalidade” socialmente erigido. À vista disso, para os fins do presente trabalho, não há como esta discussão estar dissociada do que seria a noção de vulnerabilidade e a sua assimilação pelo Direito.
A respeito do tema, Carlos Nelson Konder (2015, p. 101-104) elucida que a vulnerabilidade representa uma categoria que emerge dos debates em torno da saúde pública, tendo tal termo sido construído para identificar aqueles indivíduos que, por alguma razão particular, estão mais sujeitos de serem lesionados em seus corpos. Considerando, portanto, essa concepção apriorística, o Direito adota tal conceito para significar a suscetibilidade maior de lesão aos direitos de determinados indivíduos em suas relações jurídicas em razão de determinadas características e/ou circunstâncias que lhes são próprias. A partir daí, pode-se mencionar as noções de vulnerabilidade patrimonial (maior suscetibilidade de vulneração em sua esfera jurídica patrimonial) e de vulnerabilidade existencial (maior suscetibilidade de lesão em sua esfera jurídica extrapatrimonial) (KONDER, 2015, p. 105), sendo essa última a que melhor amolda-se aos contornos delineados pela presente discussão.
Diante disso, Konder (2015, p. 106) menciona que existem no ordenamento pátrio algumas normativas que visam à implementação de tutela jurídica específica e diferenciada para certos grupos que reconhecidamente possuem uma maior propensão a terem seus direitos lesionados, a exemplo: a) o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que considera a vulnerabilidade decorrente da sua qualidade de pessoas em desenvolvimento; b) o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), cuja vulnerabilidade encontra-se nas repercussões do envelhecimento; c) a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que tutela as circunstancialidades das mulheres vítimas de violência doméstica etc.
Nesse sentido, é possível verificar que tais normativas encontram sua fundamentação e justificação, dentre outras razões, nas bases do chamado Direito Antidiscriminatório, o qual, no dizer de Adilson Moreira (2020, p. 50-51), pode ser definido como um ramo jurídico composto por uma gama de normas “[...] que pretendem reduzir ou eliminar disparidades significativas entre grupos”, o que pode ser atingido através da
[...] criação de um sistema protetivo composto por normas legais e iniciativas governamentais destinadas a impedir a discriminação negativa, forma de tratamento desvantajoso intencional e arbitrário, e também por iniciativas públicas ou privadas destinadas a promover a discriminação positiva, ações voltadas para a integração social de minorias. [...] Assim, as normas que formam esse campo jurídico operam a partir da análise conjunta das relações estruturais entre dois elementos centrais: a igualdade e a discriminação (grifos no original).
Nessa toada, uma vez que se tem nessa vulnerabilidade, quando associada ao processo de estigmatização – que é responsável por classificar as pessoas em normais/anormais, melhores/piores, certas/erradas, saudáveis/patológicas etc. – uma relação de dominação estrutural que marginaliza e subjuga certos indivíduos e grupos, geram-se, por conseguinte, consequências extremamente negativas para aqueles que estão sujeitos à violação, caracterizando-se a chamada “discriminação negativa”. É nessa seara que o Direito Antidiscriminatório irá operar para “[...] impedir ou mitigar a marginalização material e cultural que grupos vulneráveis enfrentam dentro de uma dada sociedade” (MOREIRA, 2020, p. 58).
Por essa razão, o Direito não pode fechar seus olhos para as mais variadas formas de opressão estrutural presentes no meio social, considerando ainda que os abusos delas decorrentes operam de forma bastante específica, a depender das subjetividades da pessoa em questão – não se excluindo casos de cumulação, em razão de uma hipervulnerabilidade –, tais quais os que podem ser a seguir exemplificados:
(A) Machismo: Elucida Marcia Tiburi (2018) que o machismo é um modo de ser que privilegia a figura do “macho”, subestimando, consequentemente, todas as demais. Suas bases estão nos arranjos do patriarcado1, o qual, por sua vez, seria uma estrutura caracterizada por favorecer uns, obrigando outros a se submeterem a esse grande favorecido, sob pena de violência e morte.
Segue a autora ao afirmar que, para tanto, ele depende da natureza, pressupondo a existência exclusiva de apenas dois sexos, cujos comportamentos foram programados. Isto é, nessa perspectiva, aqueles entendidos como homens devem ter comportamentos masculinos, ao passo que aquelas tidas como mulheres devem ter comportamentos femininos, sendo que a figura do “homem macho” é a que ocupa especial destaque na centralidade desse sistema, o qual subjuga as demais pessoas que não se encontram nesse padrão. Aponta, também, que esse machismo está presente tanto na macroestrutura como na microestrutura quotidianas, na objetividade e na subjetividade, de modo que é introjetado em todas as pessoas, independentemente do seu desejo.
Em consequência disso, vários impactos podem ser observados, especialmente com relação às opressões impostas ao gênero feminino, tais quais a cultura do estupro (que faz com que a violência seja encarada como apelo sexual, demonstrando o poder do macho sobre a fêmea), a culpabilização da vítima (responsabilizando a mulher pelas agressões por ela sofridas), a rivalidade feminina (que faz as mulheres internalizarem que o seu valor subjaz no desejo masculino para com elas, forçando-as a competir entre si pela sua atenção) (HILGERT, 2020, p. 63-65), a violência contra a mulher (notadamente a violência doméstica, a qual escancara o fato de elas não estarem livres de violações nem mesmo dentro do seus próprios lares), a percepção de menores remunerações quando comparadas com as dos homens, a subrepresentação política etc. (TIBURI, 2018);
(B) Racismo: No dizer de Djamila Ribeiro (2019, p. 9-12), falar em racismo é tratar de um sistema de opressão estrutural que remonta a uma perspectiva histórica diretamente relacionada ao processo de escravização e às suas consequências verificáveis até os dias atuais, consubstanciadas na negação de direitos básicos e na ausência de distribuição de riquezas, ou seja, “O racismo é, portanto, um sistema de opressão que nega direitos, e não um simples ato de vontade de um indivíduo”.
A sua estruturação, segundo Grada Kilomba (2010, p. 42), deve-se ao escalonamento de três fatores: a) a construção da diferença a partir da “white norm”2 – no sentido de que um grupo somente pode ser categorizado como “diferente” porque existe outro grupo que tem o poder de definir-se enquanto a norma, neste caso a branquitude; b) o preconceito e a construção dessa diferença a partir da hierarquização de valores – significando que o “diferente” é articulado a partir do estigma, da desonra e da inferioridade, gerando uma “naturalização” aplicável a todos os membros de um mesmo grupo, vistos como “problemáticos”, “perigosos”, “preguiçosos”, “exóticos”, “incomuns” etc.; e, c) a supremacia branca – representando o poder histórico, político, social e econômico exercido em conjunto com o preconceito e que é responsável pela criação do racismo, de modo que outros grupos raciais não têm como ser racistas ou performar o racismo, uma vez que não possuem esse poder.
Diante disso, várias consequências podem ser constatadas na prática e denunciam o desprestígio social da população não branca, como, por exemplo, a dificuldade de acesso a ensino de qualidade, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, o epistemicídio (a “morte” ou apagamento sistemático das produções intelectuais de grupos socialmente estigmatizados), a hipersexualização das mulheres e homens negros, a violência racial etc. (RIBEIRO, 2019);
(C) Capacitismo: Explica Adriana Dias (2013, p. 2) que o capacitismo é uma compreensão social que enxerga as pessoas com deficiência a partir do paradigma da não igualdade, da inaptidão e da incapacidade, entendendo-as como impossibilitadas de gerirem suas próprias vidas de maneira autônoma e independente.
Para além disso, na verdade, acrescenta ainda Fiona Campbell (2008) que esse capacitismo (ableism) é uma crença de que a deficiência (independentemente do tipo) é inerentemente negativa, devendo, quando oportuno, ser melhorada, curada ou mesmo eliminada. Ou seja, essa perspectiva produz um tipo particular de modo-de-ser e de corpo (um padrão corporal) que é tido como o padrão de perfeição, típico da espécie, relegando a deficiência à noção de uma forma diminuída de ser humano.
As repercussões de tal pensamento encontram-se, especialmente, na construção de uma sociedade não adaptada, a qual tende a atender apenas às necessidades de uma parcela da população, que não possui deficiência, excluindo, consequentemente, aqueles que não se enquadram nos moldes de “perfeição” e “normalidade” corporais, sensoriais e psíquicos esperados. A exemplo disso, tem-se a falta de acessibilidade (física, urbanística, arquitetônica, tecnológica e atitudinal) em ambientes públicos e privados, a dificuldade de inserção dessas pessoas em ambientes educacionais (especialmente os de ensino superior)3, a sua baixa inclusão em ambientes laborais etc.
(D) LGBTfobia: Diz-se que consiste em uma forma específica de dominação e opressão, a qual visa a negar a existência e a possibilidade de reconhecimento das sexualidades ou das identidades de gênero que fogem ao padrão socialmente imposto. Tal modelo de “normalidade”, a seu turno, está embasado nos ideais da heterocisnormatividade, ou seja, a concepção de que a heterossexualidade e a cisgeneridade são os arquétipos a serem seguidos no meio social em termos de expressão de sexualidade e identidade de gênero, de modo que são pressupostas nas relações sociais e impostas compulsoriamente a todas as pessoas que as compõem (SILVA NETTO; MOREIRA; FERREIRA, 2020).
Essa LGBTfobia, termo de caráter mais abrangente e que visa a identificar de forma mais ampla os comportamentos discriminatórios verificáveis contra as pessoas que integram a diversidade sexual e de gênero, apresenta-se, também, em acepções mais específicas, tais quais: a) a homofobia – entendida como a discriminação específica voltada a pessoas homossexuais; b) a lesbofobia – compreendida como os traços discriminatórios particularmente dirigidos às mulheres lésbicas, abrangendo, em si, traços não somente da homofobia, como também do machismo; c) a bifobia – como sendo o padrão discriminatório dispensado para com as pessoas bissexuais, notadamente no que diz respeito a sua não conformação dentro de um binarismo hetero/homo; e, d) a transfobia – que representa a discriminação particularmente dirigida às pessoas trans num geral (transgêneros, transexuais e travestis).
Além disso, observe-se igualmente que são inúmeras as repercussões de cunho social, político e jurídico oriundas dessa construção LGBTfóbica à qual a sociedade brasileira foi submetida, tal qual os elevados índices de mortalidade dessas pessoas, a dificuldade de inserção nos mercados de trabalho (especialmente das pessoas trans), a dificuldade de inserção dessas pessoas nos sistemas de ensino formal, a LGBTfobia intrafamiliar, a sub-representação política no contexto nacional etc. (SILVA NETTO; DANTAS, 2021).
Considerando tal conjuntura, portanto, de uma sociedade extremamente desigual e que tem os seus padrões de “normalidade” bem definidos – atribuindo, consequentemente, privilégios àqueles que se aproximem desse modelo e implicando em violações das mais diversas ordens (sociais, políticas, econômicas e jurídicas) para aqueles que dele se afastam – que a disseminação do chamado discurso de ódio apresenta-se como problemática afeta às construções teóricas próprias do Direito Antidiscriminatório. Afinal, é possível dizer que o estigma e a vulnerabilidade (ou mesmo a hipervulnerabilidade), quando considerados concomitantemente, possuem o condão de potencializar lesões à imagem, à honra ou mesmo à integridade, suportadas por certos e determinados indivíduos ou por uma coletividade de pessoas, que, ao verem suas existências serem questionadas, depreciadas, minimizadas e agredidas, fazem jus a uma tutela jurídica apta a inibir a difusão e a maximização desses comportamentos violadores.
2 FRONTEIRAS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO:
A DEMARCAÇÃO DO DISCURSO DE ÓDIO NO DIREITO PARA A PROMOÇÃO DO RESPEITO À
DIVERSIDADE HUMANA
O ódio, como um sentimento, acompanha a própria natureza da pessoa humana na história de desenvolvimento da espécie, de modo a não ser uma novidade nas discussões da Filosofia, Psicanálise e até mesmo do Direito. Entretanto, a modernidade suscita novos contornos da figura do ódio, a exemplo de se tornar possível manipular o seu direcionamento4 de forma especializada, sobretudo com a expansão do mundo digital e a insuficiência de normas jurídicas que possam proteger de maneira tangível grupos socialmente estigmatizados. Isso porque há poucos critérios definidos que possam demarcar e identificar o ódio discursivamente na sociedade, dificultando, assim, que seja um instrumento contundente na promoção de defesa dos direitos fundamentais e da personalidade violados da pessoa humana vulnerada. Dessa forma, a demarcação conceitual do ódio juridicamente torna-se essencial, considerando a inconsistência de mecanismos para os aplicadores do Direito.
À vista disso, como resultado do Relatório Unificado da pesquisa “A Construção do Conceito Jurídico de Discurso de Ódio no Brasil” (NÓBREGA LUCCAS; SALVADOR; GOMES, 2020c), desenvolvido no Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (CEPI) da FGV Direito SP, o professor Victor Nóbrega Luccas (2020, p. 39-40) ensina que o discurso de ódio consiste em “conceito guarda-chuva”, cuja manifestação se direciona em avaliar negativamente um grupo estigmatizado pela sociedade, ou um único sujeito enquanto integrante do grupo, de forma a estabelecer esse como menos digno de direitos, oportunidades ou recursos. Além disso, também deve ser entendido como discurso de ódio a incitação direta à discriminação ou violência contra determinado grupo ou sujeito vulnerado. Por isso, na visão do autor, há a presença de: a) orador: quem profere o discurso de ódio; b) audiência: a quem o discurso se dirige; e, c) alvo: quem é negativamente avaliado pelo discurso de ódio.
Dessa forma, ainda como resultado da pesquisa elaborada no CEPI/FGV Direito SP, os pesquisadores Victor Nóbrega Luccas, Fabrício Gomes e João Salvador (2020a) identificaram, por meio de coleta, filtragem e análise de jurisprudência, bibliografia teórica e legislação esparsa, critérios que podem ser utilizados para estabelecer uma matriz de variáveis para juristas fundamentarem suas decisões sobre o discurso de ódio. Por isso, foram estabelecidas três questões que abarcam, cada qual, algumas variáveis a serem analisadas: (A) Identificação: dedicada a investigar se a manifestação pode ser identificada como discurso de ódio por meio do alvo, da mensagem e do contexto relacional; (B) Avaliação: investiga se o direito deve sancionar, regular ou tolerar a manifestação conforme o contexto situacional, o orador, a audiência, o veículo da mensagem, o contexto histórico-social e as consequências; e (C) Sancionamento e Regulação: compreender como deve ser feito o sancionamento ou regulação de uma manifestação particular ou conjunta de um discurso de ódio, através de políticas de prevenção, contradiscurso, remoção, censura prévia, indenização, sanções criminais, sanções administrativas ou sanções privadas. Ratifica-se, ainda, que a base da matriz de variáveis é utilizada nos subtópicos 3.1 e 3.2.
Ademais, de acordo com Silva, Nichel, Martins e Borchardt (2011, p. 449), o discurso de ódio promove também o que se chama por vitimização difusa, em que, ao ser proferido, atacará a dignidade de todo um grupo social e não apenas de um indivíduo singularmente considerado. Por isso, ainda que exista um direcionamento para um único sujeito, àqueles que compartilham da vulnerabilidade e traços de estigmatização, ao entrarem em contato com a mensagem proferida, compartilharão do sentimento de violação. Assim, todas essas pessoas serão consideradas vítimas devido ao sentimento de pertencimento social ao grupo alvo.
Comenta-se também que outra contribuição do projeto, explicitado no Relatório Unificado da Pesquisa do CEPI/FGV Direito SP, a partir do estudo e análise de 82 documentos coletados (72 acórdãos e 10 decisões monocráticas), no momento de filtragem, foi a descoberta de que, na maioria das vezes em que houve a menção da expressão “discurso de ódio” nos tribunais brasileiros, o conceito esteve presente sem corresponder necessariamente à argumentação das partes ou do julgador na solução do caso em concreto. Por isso, perceberam os pesquisadores que houve, na verdade, uma forma equivocada do uso da expressão, denotando, por essa razão, a importância sobre o debate crítico-conceitual do discurso de ódio no direito (NÓBREGA LUCCAS; SALVADOR; GOMES, 2020c, p. 46). Ademais, ao analisar a jurisprudência estadunidense, compreenderam que o enquadramento discursivo do ódio estava também inserido num debate maior e antigo, qual seja, os necessários limites à liberdade de expressão, sendo considerados ainda assim como casos paradigmáticos indiretamente relacionados com a pesquisa realizada (NÓBREGA LUCCAS; GOMES; SALVADOR, 2020b, p. 68).
Desse modo, o combate ao discurso de ódio também se insere na necessidade de se estabelecer limites bem definidos sobre a liberdade de expressão, na medida em que se deve valorizar o respeito à diversidade como forma de tutelar a pessoa humana no estado atual de transformação do direito brasileiro. Sobretudo porque, na transição do Estado Liberal para o Social, nas constituições brasileiras, no século XX, estabeleceu-se a ideia da cláusula geral de proteção humana, na qual a pessoa em concreto5 torna-se o centro do ordenamento jurídico. Assim, faz-se necessário promover a cidadania plural, o respeito à diferença e à alteridade inerentes à complexidade de sujeitos que compõem a sociedade. Ignorar a diversidade constituinte da sociedade afrontaria, por isso, o próprio fundamento democrático do Estado de Direito constante na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), na medida em que é eixo da república a Dignidade Humana (Art. 1º, inciso III), tendo como objetivo a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que busca a erradicação da marginalização e redução das desigualdades, de forma a promover o bem de todos, independentemente de origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas de discriminação (Art. 3º, inciso I, III e IV).
Em consonância com o disposto, ensina Daniel Sarmento (2010, p. 208 e 209-210, passim) que o hate speech ou discurso de ódio, em tradução livre, consiste em tema relativo aos limites da liberdade de expressão, na medida em que representa “manifestações de ódio, desprezo, ou intolerância contra determinados grupos, motivadas por preconceitos ligados à etnia, religião, gênero, deficiência física ou mental e orientação sexual, dentre outros fatores”. Dessa forma, o exercício da autonomia discursiva e verbalizada passa pela indagação do autor: “até que ponto, por exemplo, deve-se tolerar o intolerante?”. A esse respeito, percebe que a tolerância nem sempre é a resposta moralmente correta diante dos conflitos no meio social.
Por isso, a liberdade de expressão, ao encontrar correspondência constitucional, como um direito fundamental, no art. 5º, inciso IV, da CRFB/1988 e em outros dispositivos, é descrita em linhas gerais como a livre manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Contudo, ainda segundo lições de Sarmento (2010, p. 235), não se trata de um direito de ordem absoluta, pois o próprio texto da constituição consagra outros direitos fundamentais que impõem limites e restrições a esse, como a indenização por dano moral ou à imagem (art. 5º, inciso V) e a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (art. 5º, X). Percebe o autor também que a metodologia adequada diante do liame entre o abuso da liberdade de expressão e o discurso de ódio seria exatamente a técnica de ponderação, de forma a buscar, a partir do caso concreto, à medida que melhor acomode os interesses constitucionais que estejam em jogo.
Por outro lado, comenta-se igualmente que o combate ao discurso de ódio encontra correspondência na legislação infraconstitucional, especificamente na Lei n. 7.716/89, no art. 20, caput, §§ 1º e 2º. Sendo assim, o legislador prescreve que a prática, indução ou incitação ao preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é passível de pena de reclusão de um a três anos e multa. Por sua vez, quando se tratar da fabricação, comercialização, distribuição ou veiculação de símbolos da cruz suástica ou gamada, com finalidade nazista, é passível de punição de reclusão de dois a cinco anos e multa, ao passo que se a prática for cometida por meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, a pena será de dois a cinco anos e multa.
À vista disso, frente aos limites imposto à liberdade de expressão, a partir da prática de discurso de ódio, destaca-se o caso Siegfried Ellwanger, que se tornou um grande paradigma para essa matéria, razão pela qual será objeto de análise no subtópico seguinte.
2.1 Estudo do Caso Siegfried Ellwanger (STF –
Habeas Corpus nº 82.424): a liberdade de expressão comporta
discursos discriminatórios?
O Caso Siegfried Ellwanger (STF – Habeas Corpus nº 82.424) é conhecido na literatura acadêmica como um dos principais precedentes da jurisprudência nacional que dizem respeito ao discurso de ódio. Isso porque a corte do Supremo Tribunal Federal (STF), diferentemente de outros julgados, enfrenta de maneira explícita a conduta enquadrada como racismo ou discriminação étnica contra os judeus, de forma a buscar encontrar as possíveis limitações ao abuso da liberdade de expressão a partir do discurso de ódio. Sendo assim, como explica João Violante (2010, p. 9-10), no ano de 1987, foi fundada a Revisão Editora, por Siegfried Ellwanger, brasileiro, descendente de imigrantes alemães, conhecido por difundir ideias que contestavam fatos relativos à Segunda Guerra Mundial, como o holocausto judeu pelos nazistas, de forma a dar corpo e voz ao “revisionismo histórico”, que corresponde a movimento que objetiva negar acontecimentos históricos importantes. Dessa forma, Ellwanger, ao adotar o pseudônimo de S. E. Castan, no ano de 1987, dedicou-se a publicar o seu primeiro livro, chamado de “Holocausto – judeu ou alemão: nos bastidores da mentira do século”, sendo a primeira impressão feita na Editora Palloti, mas que, com a repercussão e vendas, fundou a sua própria editora, a Revisão Editora Ltda.
A partir disso, comenta Violante (2010, p. 9-14) que, nos primeiros anos de existência da Revisão Editora Ltda., existia a divulgação de boletins informativos, chamados de “Esclarecimentos ao País”, que se dedicavam a compartilhar obras de autores nacionais e estrangeiros sobre acontecimentos históricos, destacando-se, sobretudo, temas como o nacionalismo, o antissemitismo, questionamentos sobre fatos relacionados à Segunda Guerra Mundial, todos com postura negacionista. Destaca-se, por sua vez, que a obra escrita por Ellwanger, sob o pseudônimo S. E. Castan, tentava demostrar que “o extermínio em massa de judeus, ciganos, soviéticos e poloneses, além de doentes mentais [sic.]6 e homossexuais, na realidade, não teria ocorrido.”. Além disso, o raciocínio de Castan indicava que os judeus eram os responsáveis pela derrota alemã de 1918, como também era possível perceber similitude com as ideias de Adolf Hitler em seu pensamento (VIOLANTE, 2010, p. 17).
Em razão do exposto, em novembro de 1991, o Ministério Público (MP) do Estado do Rio Grande do Sul ofereceu denúncia contra Ellwanger, com base na Lei n. 7.716/89, por ter editado, distribuído e comercializado obras de cunho discriminatório contra o povo judeu. Ainda foi requerido que fossem apreendidos todos os exemplares disponíveis na Revisão Editora e os que foram comercializados. No entanto, ao término da fase de instrução processual, o MP se pronunciou pela absolvição do réu. Assim, em junho de 1995, em sentença de 1º grau, houve a absolvição de Ellwanger, conforme o argumento de inexistência de fatos (art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal). Isso, por sua vez, gerou inconformismo, ocasionando apelação à instância superior, tendo a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul dado provimento ao recurso, condenando o editor a dois anos de reclusão, com sursis por quatro anos (VIOLANTE, 2010, p. 36-40).
Insatisfeito com a condenação em segunda instância, Ellwanger, representado judicialmente, impetrou habeas corpus no: a) Superior Tribunal de Justiça (STJ) (HC n° 15.155 – 2000/013 1351-7 – 5ª Turma Criminal – Rio Grande do Sul): objetivando impugnar a prática de racismo, com base no afastamento da cláusula constitucional de imprescritibilidade do delito, de modo a argumentar que os judeus não seriam uma raça. Ao apreciar a demanda, os ministros do STJ denegaram, de modo a entender que o habeas corpus é meio impróprio para o reexame, da mesma forma que não há ilegalidade na decisão de condenação, caracterizando as condutas crime formal, de mera conduta; e b) Supremo Tribunal Federal (HC nº 82.424): ocasião na qual, em decisão proferida no tribunal, por maioria, foi indeferido o habeas corpus em 17 de setembro de 2003, de modo a reconhecer o abuso no exercício da liberdade de expressão, com base na prática do racismo e denegação do writ (VIOLANTE, 2010, p. 41-49).
Ainda sobre a decisão proferida no STF, destacam-se os seguintes argumentos do acórdão vencedor do Ministro Presidente Maurício Corrêa (BRASIL, 2003):
(A) Direcionamento à exclusão de oportunidades e direitos relativos a um grupo estigmatizado socialmente: os judeus – as obras publicadas pela Revisão Editora Ltda., além de negarem fatos históricos relacionados à perseguição do nazismo, também incentivam a discriminação racial, de modo a imputar aos judeus os males do mundo. Assim, compreendeu-se que a parte impetrante do habeas corpus considerava justificável a inferiorização e segregação do grupo estigmatizado alvo7.
(B) A interpretação equivocada de que o delito de discriminação contra os judeus não se constitui crime de racismo por não se tratar de uma raça específica, estando, por isso, sob a exegese do prazo prescricional previsto em lei – ao apreciar a questão, entendeu-se que não se pode empregar isoladamente o significado de raça como expressão puramente biológica. Isso, porque se devem levar em conta, também, os valores antropológicos e sociológicos para a discussão, sobretudo porque se convencionou correlacionar a ideia de raça a partir da geografia mundial, em que homens brancos são atrelados à Europa, enquanto a cor negra à África e os de cor amarela à Ásia. Portanto, ressalta:
19. [...] a divisão dos seres humanos em raças decorre de um processo político-social originado da intolerância dos homens. Disso resultou o preconceito racial. Não existindo base científica para divisão do homem em raças, torna-se ainda mais odiosa qualquer ação discriminatória da espécie. Como evidenciado cientificamente, todos os homens que habitam o planeta, sejam eles pobres, ricos, brancos, negros, amarelos, judeus ou muçulmanos, fazem parte de uma única raça, que é a espécie humana, realçada nas normas internacionais sobre direitos humanos, mas também os fundamentos do Pentateuco ou Torá acerca da origem comum do homem. [...] Em consequência, apesar da diversidade de indivíduos e grupos segundo características das mais diversas, os seres humanos pertencem a uma única espécie, não tendo base científica as teorias de que grupos raciais ou étnicos são superiores ou inferiores, pois na verdade são contrárias aos princípios morais e éticos da humanidade8.
(C) O antissemitismo nazista constitui uma forma de racismo – compreendeu-se também que a conduta antissemitista constitui uma forma de racismo, pois opõe e hierarquiza valores de certos grupos em contraposição a outros9.
Dessa forma, o corte do STF proferiu decisão de modo a indeferir o habeas corpus, vencendo os votos dos Ministros Moreira Alves, Marco Aurélio e Carlos Britto, destacando-se o acórdão do Ministro Presidente Maurício Corrêa, sendo acompanhado por maioria no tribunal. Assentou-se, portanto, que o direito individual, ainda que decorra de uma garantia constitucionalmente estabelecida, como a liberdade de expressão, não é absoluto, podendo no caso concreto ultrapassar limites morais e jurídicos passíveis de ilicitude.
Por isso, deve-se promover o respeito à diversidade e à diferença como forma de tutelar a Igualdade Material ou Substancial, corolário do Estado Constitucional de Direito brasileiro. Todavia, na medida em que a sociedade se inova, novos desafios são postos para o direito, tal qual a imposição dos meios de comunicação e a falsa sensação de que não há limites no ambiente digital para a propagação do discurso de ódio, como será abordado a seguir.
3 REDES SOCIAIS E A EXPANSÃO DO DISCURSO DE ÓDIO
CONTRA GRUPOS ESTIGMATIZADOS: A FALSA IMPRESSÃO DE QUE A INTERNET É
UMA “TERRA SEM LEI”
Argumenta Marco Santos (2016) que o discurso de ódio nas redes sociais consiste em retirar do outro a condição de reconhecimento e respeito com base no rebaixamento da pessoa humana. Dessa forma, o discurso elaborado, enquanto linguagem, pode significar violência, injustiça e também um ato imoral. Por isso, a partir desse levantamento, percebe que o discurso retórico de ódio pode vir a configurar uma imoralidade que deve ser suprimida, na medida em que a linguagem não deve funcionar apenas como uma junção de palavras, mas também como o reflexo da necessidade de reconhecimento e respeito do Outro, cumprindo, por isso, a função ética de respeito à diferença e alteridade.
Entretanto, a democratização do acesso aos meios comunicacionais, sobretudo com a difusão e uso da Internet na atualidade em escala mundial permite que seja possível o intercâmbio de informações entre as pessoas com mais facilidade, potencializando o risco do discurso de ódio em novas formas, que trazem obstáculos renovados para as investigações e seu respectivo combate. Sendo assim, podem se constituir, por exemplo, por meio do anonimato, criação de perfis falsos, comunidades com fóruns fechados, entre outros meios, como explicam Silva, Nichel, Martins e Borchardt (2011, p. 450). Desse modo, novos desafios são propostos para o Direito diante das inovações reiteradas das redes sociais, comprometendo não apenas a segurança na proteção dos dados pessoais e sensíveis, mas também o respeito à diferença constituinte da individualidade de cada pessoa humana que se insere em diferentes culturas, comunidades, gêneros, raças, expressões sexuais etc.
Sobre o tema, ensina Geraldo Frazão de Aquino Júnior (2019, p. 115) que a problemática do anonimato na Internet deve passar pela transferência do ônus sobre a identificação do sujeito para quem puder cumprir com os menores custos. Assim sendo, cabe à tecnologia ou aos intermediários da cadeia de comunicação estabelecer os mecanismos de controle e identificação do usuário. Dessa maneira, argumenta que os juízes e os peritos podem auxiliar na descoberta à luz de cada caso concreto.
Por outro lado, a proteção à pluralidade e à diversidade de pensamento, frente à garantia constitucional da liberdade de expressão, possui previsão específica no Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), no art. 2º, inciso III. Todavia, essa livre manifestação de pensamento não deve esbarrar na intolerância, no preconceito ou em formas de discriminação contra grupos vulnerados, tal qual pressupõe o discurso de ódio no ambiente digital. Isso, pois, a pluralidade e extensão da diversidade de pensamento, como visto, encontra limite na proteção jurídica daqueles que destoem do padrão socialmente esperado, ou seja, enquadrados como grupos socialmente estigmatizados, sob pena de violar os direitos fundamentais e da personalidade que tutelam as intersubjetividades da pessoa humana, sendo possível, inclusive, enquadrar-se a conduta em ilícito. Em função disso, a interpretação desse dispositivo, para fins de combate ao discurso de ódio nas redes sociais, deve ser feita conjuntamente com o art. 20, caput, §§ 1º e 2º da Lei n. 7.716/89, anteriormente comentado, como forma de tutelar o respeito à diversidade humana na esfera digital.
Por sua vez, registra-se ainda que a Lei n. 12.965/2014, nos termos dos arts. 19 a 21, determina que os provedores de aplicação – aqueles que fornecem funcionalidades de acesso para o usuário, como portais, aplicativos, redes sociais, etc. – não têm responsabilidade quanto à veiculação por terceiros de mensagens que possuam o cunho discriminatório ou de preconceito em suas plataformas. Por isso, nesses casos, somente após decisão judicial específica, não havendo providência legal tomada em prazo assinalado, é que ocorrerão sanções legais previstas. Afinal, a justificativa do legislador no caput do art. 19 gira em torno da necessidade de se proteger a liberdade de expressão diante de censura.
Contudo, como argumentado, até então, resta como claro que essa garantia constitucional não possui um valor absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, havendo como limite, portanto, o respeito à diversidade como forma de tutelar a pessoa humana a partir do discurso de ódio. Dessa forma, a fim de investigar, na prática, como se dá a demarcação discursiva do ódio na realidade social, os subtópicos seguintes se ocupam de explanar, a partir da matriz de variáveis, dois casos que abordam o incentivo à ojeriza de um determinado grupo social vulnerado.
Nesse sentido, o presente artigo realizou um estudo qualitativo de casos múltiplos, considerando pertinente para o objeto do trabalho abordar somente duas situações em que houve extrapolação no exercício do direito à liberdade de expressão, ressaltando o valor da diversidade como traço fundamental.
Sobre a técnica do Estudo de Caso, afirma Robert Yin (2001, p. 19) que ela representa “[...] a estratégia preferida quando se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’ quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”. Sendo assim, fora considerada uma abordagem exploratória, visando à análise de casos de extrapolação do direito à liberdade de expressão, para levantar de que forma a manifestação do discurso de ódio contribui para a difusão e o aumento do processo de estigmatização contra grupos socialmente vulneráveis em meio ao ambiente digital.
Sendo assim, foi levada em consideração a matriz de variáveis construída pelos pesquisadores da CEPI/FGV Direito SP, notadamente a descrição feita por Victor Nóbrega Luccas, Fabrício Gomes e João Salvador, anteriormente trabalhada, para inspirar a análise da ocorrência do discurso de ódio e, quando possível, verificar se a resposta do Judiciário aos casos analisados foi coerente com o sancionamento esperado para as práticas discursivas proferidas em função do desrespeito à diversidade.
Após essas considerações metodológicas, passa-se, a seguir, ao estudo específico de cada um dos casos escolhidos.
3.1 O Internauta e o Racismo na Plataforma Facebook: “Mostra
que embaixo dessa pele negra tem cérebro e não um estômago faminto”
Durante a transmissão ao vivo de ritual de recepção de calouros de comunidades indígenas e quilombolas no dia 15 de maio de 2018 pela plataforma Facebook da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), internauta se manifesta de forma discriminatória ao escrever: “Povo besta se fazendo de coitado. Levanta a cabeça e estuda. Mostra que embaixo dessa pele negra tem cérebro e não um estômago faminto”. Em virtude das alegações, no dia 29 de outubro de 2018, foi movida denúncia pelo Ministério Público Federal (MPF), através do processo 0004360-14.2018.4.01.3902, contra o acusado.
A defesa, a seu turno, alegou consistir: a) atipicidade da conduta, uma vez se tratar de manifestação acobertada pela liberdade de expressão, garantia que goza de primazia constitucional; b) tratar-se de mera opinião, não configurando o tipo penal de racismo, sequer tendo a motivação de obstar a participação efetiva do grupo social alvo do discurso; e c) objetivou apenas criticar o sistema de cotas sociais vigente.
Ainda em primeira instância, em abril de 2021, o juiz federal titular Clécio Alves de Araújo decidiu que: a) a mensagem transparece, de maneira preconceituosa, a discriminação étnico-racial, ao fazer-se uso das expressões “bestas” e “se fazem de coitado”, atrelando-se, ainda, ao termo “pele negra”, sendo a liberdade de expressão um direito não absoluto, sobretudo ao violar-se outros direitos que possuam igual envergadura constitucional; b) a discriminação possui forma livre, abrangendo qualquer ato que enseje o preconceito, ainda que não tenha sido praticado com a intenção de impedir ou bloquear a participação igualitária; e c) o fato de ser contrário ao sistema de cotas raciais não legitima o direito a proferir mensagens de natureza discriminatória e preconceituosa.
À vista disso, ao enquadrar-se o presente caso à matriz de variáveis, chega-se ao seguinte resultado:
 Fonte: Elaboração pelos autores, a partir dos dados da pesquisa.
Fonte: Elaboração pelos autores, a partir dos dados da pesquisa.
Diante da situação narrada, poder-se-á
enquadrar como discurso de ódio em função do incentivo à intolerância e
discriminação dos povos indígenas e quilombolas, denotando de maneira nítida a
prática de discriminação negativa, em função da inferiorização desse segmento
populacional pela forma de ingresso no ensino superior público. Além disso,
enfatiza-se que se trata de um segmento social potencialmente vulnerabilizado em função do desenvolvimento
histórico-social a partir da colonização brasileira, motivo pelo qual fazem
jus à política social do sistema de cotas.
3.2 A Blogueira e o Capacitismo Manifesto: “É
que nem filhote de cachorro”
A situação deu-se em razão de comentários discriminatórios feitos por uma blogueira em publicação feita pela tia da vítima em sua rede social no dia 21 de março de 2017, em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, em que postara uma foto dela com a criança, que tem Síndrome de Down e, à época, tinha apenas 11 meses de idade. Na oportunidade, a influenciadora digital fez declarações em que comparava as pessoas com Síndrome de Down a cachorros, afirmando que são lindas quando pequenas, mas que quando crescem: “só pensam em t******”, além de ter se utilizado das expressões “É nojento” e “Vai sair um monte de filhote de toin toin” (MEIRELES, 2017).
Em razão do ocorrido, os pais da criança fizeram uma notitia criminis contra a blogueira, sendo que, com a conclusão do inquérito, o delegado responsável pelo caso encaminhou-o para o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e pleiteou a prisão preventiva da indiciada, enquadrando-a no crime de discriminação de pessoas em razão de sua deficiência, com a qualificadora de ter feito uso das redes sociais para cometer a conduta tipificada. Nessa continuidade, o MPPE ofereceu denúncia contra a blogueira, com base no art. 88, §2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.147/2015), sem pedir, no entanto, a sua prisão preventiva (JC ONLINE, 2017).
Diante disso, enquadrando-se o presente caso à matriz de variáveis, chega-se ao seguinte resultado:
 Fonte: Elaboração pelos autores a partir dos dados da pesquisa.
Fonte: Elaboração pelos autores a partir dos dados da pesquisa.
Embora não se tenha tido acesso à sentença do processo, que correu em segredo de justiça, diante dos fatos narrados, já é possível tecer comentários quanto ao teor abusivo do direito à liberdade de expressão no caso, caracterizado pela emanação de declarações disseminadoras de manifestações odiosas, que contribuem para a estigmatização de um grupo socialmente vulnerado, qual seja, o das pessoas com deficiência, notadamente aquelas que têm Síndrome de Down.
No tocante a essas circunstâncias, pode-se observar o conteúdo capacitista no discurso utilizado pela blogueira, ao compreender a existência de pessoas com deficiência como não iguais à sua e, consequentemente, negativas e inferiores, a ponto de compará-las a animais. Tal percepção fica especialmente caracterizada por dois traços que podem ser identificados na sua fala: (A) a animalização da diferença, através da comparação de crianças com Síndrome de Down a filhotes de cachorro10; e (B) a hipersexualização das pessoas com Síndrome de Down, com a afirmação de que, ao crescerem, elas somente pensam na prática de atos sexuais11.
Por esse motivo, observa-se, diante do caso narrado, que a fala proferida pela blogueira apenas contribuiu para corroborar com percepções estigmatizantes das pessoas com deficiência, disseminando a noção de que seriam seres “anormais”, “inferiores” e “animalescos”, estimulando, portanto, uma visão pejorativa e depreciativa das suas existências. Sendo assim, aqui não há como considerar que a liberdade de expressão foi exercida dentro dos conformes tutelados pelo ordenamento, mas sim que se abusou desse direito em razão da difusão de discurso odioso contra um grupo socialmente estigmatizado e vulnerável.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando, portanto, as discussões abordadas neste trabalho, chegou-se às seguintes considerações:
1. O estigma e a vulnerabilidade são dois conceitos imprescindíveis para a apreensão dos excessos no exercício da liberdade de expressão por meio do discurso de ódio. Enquanto o primeiro diz respeito a atributos depreciativos considerados em um indivíduo ou um grupo social específicos, o segundo representa a maior suscetibilidade dessas pessoas ou coletividades à constatação de lesões aos seus direitos. Nesse sentido, quando considerados cumulativamente, podem corroborar com a difusão e a maximização de padrões de dominação e de desigualdade já presentes no contexto social, tais quais o machismo, o racismo, o capacitismo, a LGBTfobia etc. Isso, por sua vez, pode corroborar com um estímulo à segregação, à opressão, à violação e à inferiorização de grupos já estigmatizados, devendo o Direito, portanto, atuar para inibir esse fomento, através de ferramentas jurídicas promotoras da igualdade, inclusão e da antidiscriminação.
2. Dessa maneira, o estigma e a vulnerabilidade são atributos da pessoa humana que são quotidianamente inflamados como justificativa para se retirar oportunidades, direitos e promover a exclusão de recursos disponíveis no Estado de Direito. Em função disso, argumenta-se que esse fator, aliado ao discurso de ódio, oportuniza que o Estado-juiz torne possível o seu combate como forma de viabilizar o respeito à diversidade imanente ao contexto social, considerando o fundamento da república brasileira em promover o bem de todos, independentemente de origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas de discriminação (art. 3º, inciso IV, da CRFB/1988).
3. Todavia, o enfrentamento aos excessos da liberdade de expressão no Judiciário diante do discurso de ódio ainda representa um desafio. Isso porque, na esfera interpretativa, não há uma unidade delineada para corroborar com a identificação e a avaliação da sua ocorrência e do seu adequado disciplinamento na esfera jurídica. Dessa maneira, ressalta-se o esforço dos pesquisadores da CEPI/FGV Direito SP em construir, com base em estudo legislativo, jurisprudencial e bibliográfico, critérios responsáveis por criar uma matriz de variáveis que corrobora para identificar o discurso de ódio no caso concreto. Não obstante, ressalta-se que a garantia constitucional da liberdade de expressão não consiste em um direito absoluto, sendo passível, portanto, de limitações, tal qual o necessário respeito que se deve ter com a pluralidade de pessoas que compõem a sociedade.
4. A rápida difusão de informações possibilitada pelo acesso à Internet, aliada às redes sociais, viabiliza que pessoas de todas as idades e regiões tenham aproximação umas com as outras. Assim, na medida em que se favorece esse positivo intercâmbio de informações na modernidade, oportunizando um maior estreitamento social, acaba-se propiciando também que o contato entre diferentes culturas e pluralidade de pensamentos enseje o discurso de ódio no ambiente virtual. Em decorrência disso, acredita-se que a interpretação conferida à proteção da diversidade de pensamento, no art. 2º, inciso III, do Marco Civil da Internet no Brasil deve ser feita conjuntamente com o art. 20 da Lei n. 7.716/89, para corroborar com o combate ao discurso de ódio e o respeito à diferença no espaço virtual.
5. Paradigmaticamente, o caso Siegfried Ellwanger (STF - HC nº 82.424) representa um precedente histórico importante na demarcação do discurso de ódio na jurisprudência nacional, ao reconhecer limites para os excessos à liberdade expressão, com fundamento no reconhecimento do crime de racismo contra o povo judeu a partir das atividades desempenhadas na Revisão Editora Ltda. A decisão proferida pelo STF, portanto, contribui para ratificar a proibição da discriminação contra grupos socialmente estigmatizados.
6. A intervenção jurídica pode ser um método eficaz de inibição ao discurso de ódio, encontrando mecanismos de prevenção, repreensão ou reparação tanto na esfera cível como na criminal. No entanto, é preciso que o Judiciário, enquanto agente responsável por resguardar os direitos daqueles que forem atingidos pelo discurso de ódio, esteja atento para as circunstâncias de cada caso, para que possa conferir a tutela jurídica mais efetiva, sempre visando à proteção dos indivíduos vulnerados ou grupos vulneráveis frente às manifestações odiosas que se destinem a difundir e endossar a estigmatização contra aqueles que já padeçam com os próprios padrões de desigualdade que permeiam o meio social. O sancionamento, por isso, não deve funcionar somente como uma punição para o agressor, propulsor do discurso odioso, mas também como forma de desaconselhar e funcionar como estímulo para que não se reproduzam atitudes similares na sociedade.
REFERÊNCIAS
AQUINO JÚNIOR, Geraldo Frazão de. Responsabilidade civil dos provedores de internet. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; LOBO, Fabíola Albuquerque. (Coord.). Privacidade e sua compreensão no direito brasi leiro. Belo Horizonte: Fórum, 2019.
BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm.
Acesso em 14 jan. 2021.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 82.424.
Relator para o acórdão: Ministro Presidente Maurício Corrêa. Data do
Julgamento: 17/12/2003. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79052 .
Acesso em 17 jan. 2021.
CAMPBELL, Fiona Kumari.
Refusing able(ness): a preliminary conversation about ableism. M/C Journal, [S.
l.], v. 11, n. 3, 2008. DOI: 10.5204/mcj.46. Disponível em: https://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/46.
Acesso em: 11 jan. 2021.
DIAS, Adriana. Por uma genealogia do capacitismo: da eugenia estatal à narrativa capacitista social. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOBRE A DEFICIÊNCIA. Anais do I Simpósio Internacional de Estudos sobre a Deficiência – SEDPcD/Diversitas/USP Legal, São Paulo, 2013, p, 1-14, 2013. Disponível em: http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/ebook/Textos/Adriana_Dias.pdf. Acesso em 12 jan. 2021. DINIZ, Débora. O que é deficiência. São Paulo: Brasiliense, 2007.
DINIZ, Débora. O que é deficiência. São Paulo:
Brasiliense, 2007.
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
HILGERT, Luiza Helena. O arcaico do contemporâneo: Medusa e o mito da mulher. Lampião – Revista de Filosofia, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 41- 70, 2020. Disponível em: https://seer.ufal.br/index.php/lampiao/article/view/11689/8183. Acesso em 14 jan. 2020.
JC ONLINE. MPPE é contra prisão de blogueira que discriminou criança com Down. JC Online, 07 de abril, às 15h47min, 2017. Disponível em: https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2017/04/07/mppe-e-contra-prisao-de-blogueira-que-discriminou-crianca-com-do-wn-277459.php. Acesso em 15 jan. 2021.
KILOMBA, Grada. Plantation memories. Episodes of everyday racism. ed. Münster: Unrast Verlag, 2010.
KONDER, Carlos Nelson. Vulnerabilidade patrimonial e existencial: por um sistema diferenciador. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 99, p. 101-123, 2015.
MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi. Sexualidade e deficiências. São Paulo: Editora UNESP, 2006.
MEIRELES, Marina. Delegado pede prisão preventiva de blogueira por
ofensas a bebê com Síndrome de Down. G1, 03 de abril, às
15h49min, 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/pernambuco/noticia/delegado-indicia-blogueira-por-ofensas-a-bebe-com-sindrome-de-down.ghtml.
Acesso em 15 jan. 2021.
MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia. Feminismo e política: uma introdução. São Paulo: Boitempo, 2014.
MOREIRA, Adilson José. Tratado de direito antidiscriminatório. São Paulo: Editora Contracorrente, 2020.
NÓBREGA LUCCAS, Victor. O dilema entre a Proteção da Liberdade de Expressão e o Combate ao Discurso de Ódio. In: GOMES, Fabrício Vasconcelos; SALVADOR, João Pedro Favaretto; NÓBREGA LUCCAS, Victor (Coord.). Discurso de ódio: desafios jurídicos. 1. ed. São Paulo: Al medina: 2020.
NÓBREGA LUCCAS, Victor; GOMES, Fabrício Vasconcelos; SALVADOR, João Pedro Favaretto. A Construção do Conceito Jurídico de Discurso de Ódio no Brasil: A Matriz de Variáveis. In: GOMES, Fabrício Vasconcelos; SALVADOR, João Pedro Favaretto; NÓBREGA LUCCAS, Victor (Coord.). Discurso de ódio: desafios jurídicos. 1. ed. São Paulo: Almedina: 2020a.
NÓBREGA LUCCAS, Victor; GOMES, Fabrício Vasconcelos; SALVADOR, João Pedro Favaretto. A Construção do Conceito Jurídico de Discurso de Ódio no Brasil: Apresentação da Pesquisa. In: GOMES, Fabrício Vasconcelos; SALVADOR, João Pedro Favaretto; NÓBREGA LUCCAS, Victor (Coord.). Discurso de ódio: desafios jurídicos. 1. ed. São Paulo: Almedina: 2020b.
NÓBREGA LUCCAS, Victor; SALVADOR, João Pedro Favaretto; GOMES, Fabrício Vasconcelos. A construção do conceito jurídico de discurso de ódio (relatório unificado de pesquisa). São Paulo: CEPI-FGV DIREITO SP, 2020c. Disponível em: https://fgv.academia.edu/fgvcepi . Acessado em 07 jan. 2021.
ORWELL, George Orwell. 1984.Trad. Alexandre Hubner e Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
PALACIOS, Agustina, Perspectiva de discapacidad y derechos humanos en el contexto de una educación superior inclusiva. Pensar, Fortaleza, v. 24, n. 4, p. 1-13, 2019. Disponível em: https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/10225/pdf#. Acesso em 15 jan. 2021.
RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
SARMENTO, Daniel. A liberdade de expressão e o problema do “hate speech”. In: SARMENTO, Daniel (Org.). Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
SANTOS, Marco Aurelio Moura dos. O discurso de Ódio em Redes Sociais. 1 ed. Lura Editorial: São Paulo, 2016.
SILVA, Rosane Leal; NICHEL, Andressa; MARTINS, Anna Clara Lehmann; BORCHARDT, Carlise Kolbe. Discursos de ódio em redes sociais: jurisprudência
brasileira. Rev. Direito GV, São Paulo, v. 7, n.
2, p. 445-468, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322011000200004&lng=en&nrm=iso.
Acesso em 18 Jan. 2021.
SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da; DANTAS, Carlos Henrique Félix. “Nossas vidas importam?” A vulnerabilidade sociojurídica da população LGBTI+ no Brasil: debates em torno do Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero e da sua atual pertinência. In: EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; LÔBO, Fabíola. (Coords.). Vulnerabilidade e sua compreensão no direito brasileiro. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2021.
SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da; MOREIRA, Mateus Henrique Cavendish; FERREIRA, Vinícius José Passos. O arco-íris manchado de sangue: as mortes da população LGBT+ sob a ótica de uma heterocisnormatividade perversa e os debates em torno da criminalização da LGBTfobia no Brasil. In: FERRAZ, Carolina Valença; DANTAS, Carlos Henrique Félix; SILVA NETTO, Manuel Camelo Ferreira da; CHAVES, Marianna (Coords.). Direito e morte. Belo Horizonte: Letramento, 2020.
TEPEDINO, Gustavo. O papel atual da doutrina do direito civil entre o sujeito e a pessoa. In: TEPEDINO, Gustavo; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; ALMEIDA, Vitor (Coords.). O direito civil entre o sujeito e a pessoa: estudos em homenagem ao professor Stefano Rodotà. Belo Horizonte: Fórum, 2016.
TIBURI, Marcia. Feminismo em comum: para todas, todes e todos. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018.
VALA, Jorge. Diferença e semelhança: o peso da identidade. In: APPADURAI, Arjun; CHAKRABARTY, Dipesh; SOUZA, Eunice de; BOECK, Felipe de; SAMPAIO, Jorge; VALA, Jorge; ARMSTRONG, Karen; BREZINOVA, Katerina; SANCHES, Manuela Ribeiro; TIAMPO, Ming; TLILI, Mustapha; CARAVALHO, Ruy Duarte de; ZUHUR, Sherifa. Podemos viver sem o outro? As possibilidades e os limites da interculturalidade. Lisboa: Tinta da China, 2009.
VIOLANTE, João Luís Mousinho dos Santos Monteiro. O caso Ellwanger e seu impacto no direito brasileiro. 2010.
130 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/5345/1/Joao%20Luis%20Mousinho%20dos%20Santos%20Monteiro%20Violante.pdf.
Acesso em 17 jan. 2021.
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. d. Porto Alegre: Bookman, 2001.
Notas
1 Importante
pontuar também que o termo “Patriarcado” gera certa divergência dentro da
teoria feminista. Admite-se, por parte das autoras, que “[...] o patriarcado
é entendido como sendo apenas uma das manifestações históricas da dominação
masculina. Ele corresponde a uma forma específica de organização política,
vinculada ao absolutismo, bem diferente das sociedades democráticas
concorrenciais atuais. [...] Falar em dominação masculina, portanto, seria mais
correto e alcançaria um fenômeno mais geral que o patriarcado”. (MIGUEL;
BIROLI, 2014, p. 18)
2 Em
tradução livre: a norma branca.
3 Sobre
o tema, aponta Agustina Palácios (2019, p. 6) que as pessoas com deficiência não
costumam acessar o ensino superior e, quando chegam a fazê-lo, enfrentam
diversas barreiras, em especial de falta de capacitação e formação no trato com
a deficiência.
4 Isso,
por sua vez, pôde ser percebido em fenômenos históricos da humanidade, como no
período nazista, em que os grupos socialmente estigmatizados, considerados
“inimigos do Estado”, eram os judeus, negros, homossexuais, entre outros. Por
outro lado, na literatura de ficção distópica, cabe
mencionar a obra “1984”, de George Orwell, cuja narrativa inclui o chamado
“Dois Minutos de Ódio”, situação na qual aqueles que não cumprissem as
determinações ideológicas impostas pelo Estado seriam considerados como
“inimigos”. Assim, em um determinado momento do dia a população é direcionada
pelo Grande Irmão para se voltar a uma tela, onde é exibido o rosto do inimigo
nacional, em que é permitido utilizar todo e qualquer tipo de ofensa, de modo a
alimentar o ódio que compõe a natureza humana. Destaca-se na obra o seguinte
trecho: “O mais horrível dos Dois Minutos de Ódio não era o fato de a
pessoa ser obrigada a desempenhar um papel, mas de ser impossível manter-se à
margem. Depois de trinta segundos, já não era preciso fingir. Um êxtase
horrendo de medo e sentimento de vingança, um desejo de matar, de torturar, de
afundar rostos com uma marreta, parecia circular pela plateia inteira como uma
corrente elétrica, transformando as pessoas, mesmo contra sua vontade, em
malucos a berrar, rostos deformados pela fúria. Mesmo assim, a raiva que as
pessoas sentiam era uma emoção abstrata, sem direção, que podia ser transferida
de um objeto para outro como a chama de um maçarico. [...] Em algumas ocasiões
chegava a ser possível alterar o objeto do próprio ódio por meio de um ato
voluntário. […]” (Cf. ORWELL, 2009, p. 27-28).
5 Sobre
o tema, conferir TEPEDINO, 2016.
6 Em
que pese a expressão utilizada na citação original, é importante relembrar que
houve uma mudança de terminologia relativa ao grupo social específico, de modo
a valorizar a Dignidade Intrínseca da pessoa humana. Por isso,
entende-se, sobretudo tomando como base o modelo social de deficiência, como
expressão mais adequada o termo “pessoa com deficiência”. Comenta-se, ainda,
que há quem fale sobre a possibilidade de uso do termo “pessoa com diversidade
funcional”, como forma de dar corpo e voz ao modelo da diversidade, que
institui o traço valorativo da diferença frente à pessoa humana.
7 Voto
do Ministro Presidente Maurício Corrêa, p. 555.
8 Voto
do Ministro Presidente Maurício Corrêa, p. 560; 562.
9 Voto
do Ministro Presidente Maurício Corrêa, p. 569.
10 Aqui
cabe nos reportarmos aos ensinamentos de Jorge Vala (2009, p. 102-104, passim),
que afirma que a atribuição da diferença pode representar um processo de
inferiorização. Sobre isso, elucida o autor que essa construção do outro como
diferente permeia duas perspectivas: a) o etnocentrismo – a glorificação do
grupo a que se pertence, atribuindo ao outro uma visão de menos
valor; e b) a alteridade radical – a compreensão do outro como radicalmente
diferente, acarretando a sua inferiorização e, até mesmo, a sua total exclusão
do mundo dos humanos. Dessa forma, explica que o outro diferente é, por muitas
vezes, representado como muito mais próximo da natureza e do mundo animal,
distanciando-se da humanidade.
11 Afirma
Ana Claudia Bortolozzi Maia (2006, p. 91) que é comum
deparar-se com o discurso de que o comportamento sexual de pessoas com
deficiência intelectual é aberrante e que decorre do quadro orgânico ligado a
própria deficiência. No entanto, sustenta a autora que a constatação de
comportamentos sexuais tidos por “inadequados”, em verdade, está diretamente ligada
a processos de educação e socialização diferenciados, os quais não primam pela
educação sexual dessas pessoas, de modo a orientá-las adequadamente quanto à
manifestação das suas sexualidades. Afinal, pessoas com deficiência são seres
dotados de sexualidade, assim como as demais pessoas, sendo papel, sobretudo da
família, educá-las quanto a esse aspecto de suas vidas, sempre estimulando o
seu exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nunca tolhendo-o.