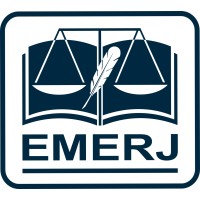

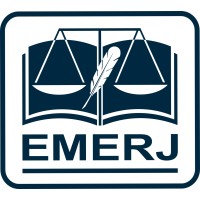

Artigos
O MICROSSISTEMA DE JUSTIÇA DIGITAL INSTITUÍDO PELAS RESOLUÇÕES CNJ n.º 335/2020, 345/2020, 354/2020, 372/2021, 385/2021 e 398/2021.
Direito em Movimento
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
ISSN: 2179-8176
ISSN-e: 2238-7110
Periodicidade: Semestral
vol. 19, núm. 2, 2021
Recepção: 29 Junho 2021
Revised: 14 Setembro 2021
Aprovação: 14 Setembro 2021

Resumo: O presente estudo pretende abordar de modo geral o microssistema de justiça digital criado pelo Conselho Nacional de Justiça. Esta breve reflexão inicia tratando da revolução digital e seu impacto no Poder Judiciário, passando em seguida para a análise da descodificação e a introdução dos microssistemas, para abordar o poder normativo do CNJ, chegando ao objetivo principal da análise proposta: o microssistema de justiça digital introduzido pelas Resoluções CNJ n.º 335/2020, 345/2020, 354/2020, 372/2021, 385/2021 e 398/2021. O microssistema encontra seu núcleo fundamental na Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro, a norma “raiz” que consolidou as bases e as diretrizes para a transformação digital que se seguiu com as demais Resoluções. O estudo conglobado dos normativos permite concluir que estamos diante de um novo modelo de trabalho, que utiliza todo o potencial que a tecnologia pode fornecer, materializando no âmbito do Poder Judiciário a verdadeira e tão esperada transformação digital.
Palavras-chave: Direito Digital, Transformação Digital, Descodificação, Poder Normativo do Conselho Nacional de Justiça, Plataforma Digital do Poder Judiciário, Juízo 100% Digital, Microssistema de Justiça Digital, Núcleo de Justiça 40.
Abstract: This study intends to approach in general the Digital Justice Microsystem created by the National Council of Justice. The brief reflection begins by dealing with the digital revolution and its impact on the judiciary, then moving on to the analysis of decoding and the introduction of Microsystems, to address the Normative Power of the CNJ, reaching the main objective of the proposed analysis, the Digital Justice Microsystem introduced by CNJ Resolutions n.'s 335/2020, 345/2020, 354/2020, 372/2021, 385/2021 and 398/2021. The microsystem finds its fundamental core in the Digital Platform of the Brazilian Judiciary, the “root” rule that consolidated the bases and guidelines for the digital transformation that followed with the other Resolutions. The combined study of regulations allows us to conclude that we are facing a new work model that uses all the potential that technology can provide, materializing within the scope of the Judiciary the true and long-awaited digital transformation.
Keywords: Digital Justice Microsystem, Digital Law, Digital Transformation, Normative Power of the National Council of Justice, Digital Platform of the Judiciary, Center for Justice 4, 100% Digital court.
1. Revolução Digital
A aceleração tecnológica impacta desde o comportamento das pessoas até os setores mais tradicionais da economia. Estamos na era exponencial (PICCOLI, 2018), e a velocidade das transformações nos leva a uma mudança de padrão em escala global sem precedentes (PICCOLI, 2018, p.192). Como cantou Renato Russo “o futuro não é mais como era antigamente” (URBANA, 2021, online), assim como “nada do que foi será do jeito que já foi um dia” (SANTOS, 2021, online).
As inovações tecnológicas estão revolucionando, como nunca, as nossas vidas e, em especial, o modo como o Poder Judiciário atua. Variadas e múltiplas foram as novidades das últimas décadas. Aqueles que nasceram na década de 90 ou antes conseguem visualizar de modo claro essa transformação, seja na forma como nos comunicamos (das cartas escritas, pagers e telefones fixos para o smartphone e os aplicativos de mensagem instantânea), nos informamos (jornal digital), consumimos (delivery e e-commerce) e, até mesmo, nos divertimos (das locadoras de vídeo e CDs de música para Netflix e Spotify) (ARAÚJO, GRABRIEL, PORTO, 2020, online).
A expressão “quarta revolução industrial” (SCHWAB , 2018, online), que já se encontra incorporada às discussões econômicas e tecnológicas do mundo moderno, foi cunhada por Klaus Schwab – Fórum Econômico Mundial –, nos idos de 2016, para tratar da “technological revolution that will fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another” (WEFORUM, 2018, online) e tem sido recorrentemente mencionada e trazida à tona, dada a sua relevância não somente de impacto em nossas vidas, como também pela sua escala, abrangência e complexidade. Iniciou-se no bojo da terceira revolução industrial, então chamada de Revolução Digital, que mudou radicalmente a sociedade, as formas de comunicação e o estado do mundo globalizado.
Tudo isso influenciou as pessoas que entraram em uma era de transformações profundas no atual período pós-globalização. Com a liberdade de manifestação do pensamento e de circulação de ideias tão intensas quanto a liberdade de circulação das mercadorias, ou ainda maior, a humanidade tem chocado culturas, religiões, estilos de vida e formas de pensar diferentes em uma intensidade jamais vista (KOETZ, 2018, online).
Sem dúvida, somos, simultaneamente, espectadores e protagonistas de uma das maiores transformações da história da humanidade: o sepultamento da era analógica e o surgimento da digital. “Somos passageiros de uma mudança histórica sem precedentes” (FORBES, REALE JÚNIOR e FERRAZ JÚNIOR, 2005).
Esse fenômeno, como era previsível, começa a se alastrar, também, para o setor público. Com efeito, o cidadão tem expectativas por serviços públicos digitais que facilitem sua vida – assim como já ocorre no âmbito privado por meio de uma gama de aplicativos, disponíveis na palma da sua mão e acessíveis com alguns toques. Corroborando essa tendência, temos a recente Lei n.º 14.129/2021, que dispõe sobre o Governo Digital e o aumento da eficiência pública, especialmente por meio da desburocratização[2], da inovação e da transformação digital, inclusive instituindo, como alguns de seus princípios, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade[3].
Nesse contexto, a nova dinâmica social exige uma nova conceituação do que é Justiça, um conceito mais amplo do que dar a cada um o que é seu (LÚCIA, 2021, online) e de como o Estado disponibilizará um dos seus principais serviços, qual seja, a prestação jurisdicional. O surgimento, assim como a necessidade de solução, dos conflitos individuais e coletivos acontece em uma velocidade e volume totalmente diferentes daqueles que imperavam quando os preceitos tradicionais da justiça e do processo de decisão judicial foram estabelecidos (KOETZ, 2021, online). Imperioso reconhecer, portanto, que a transformação digital é uma necessidade para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional (ARAÚJO, GRABRIEL, PORTO, 2020, online).
E o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sob a presidência do Ministro Luiz Fux, vem caminhando a passos largos, coordenando e orquestrando essa transmutação tecnológica, com a criação de um verdadeiro microssistema (IRTI, 1999,) de justiça digital, capitaneado pela Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ-Br, e uma série de normativas que consagraram a entrada do Judiciário em uma nova era: a da Justiça 4.0. (ROSA, 2018, online) (ARAÚJO, GRABRIEL, PORTO, 2021, online).
2. Descodificação e Microssistema
É preciso analisar osistema de justiça digital[4] (VILANOVA, 2005, p. 162) como contexto construído, normatizado, organizado, de solução rápida, com adoção de novas tecnologias e eficaz para a solução do litígio. Como é um pequeno sistema, especial, subjetivamente, utilizaremos a expressão de Natalino Irti, microssistema, para o descrever (IRTI, 1999,).
Assim, como iremos verificar, o conjunto de normas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça constitui um microssistema (ou subsistema) do sistema jurídico (ou do ordenamento jurídico positivo) brasileiro específico de Justiça Digital. Importante destacar, como fazem Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior, que os “os microssistemas evidenciam e caracterizam o policentrismo do direito contemporâneo”, composto por “vários centros de poder e harmonização sistemática: a Constituição (prevalente), o Código Civil, as leis especiais” (DIDIER JÚNIOR e ZANETI JÚNIOR, 2009, p. 46). Esse arquétipo decorre de “uma nova configuração social”, que se situa, conforme leciona Rodrigo Mazzei (2006), na passagem do Estado Liberal para o Estado Social; contexto histórico que se qualifica, entre outros fatores, pela inflação legislativa decorrente do surgimento e proliferação de novos direitos, em especial direitos coletivos, e que ocasionou, adiante, a descodificação, com gradual perda de coerência, ou de sistematicidade, do sistema jurídico (SANTOS, MARQUES E PEDROSO, 1996. p. 34).
Nesse contexto, os “Códigos” dos séculos XVIII e XIX se revelam falhos, sem conseguir atender as relações jurídicas materiais que passaram a se apresentar. Como consequência, ensina Celso Fernandes Campilongo, “o ordenamento vai sendo substituído por uma legislação ‘descodificada’, que rompe com as noções de unidade formal do ordenamento e aponta na direção de múltiplos sistemas normativos” (CAPILONGO, 2002. p. 39). Por isso é que, na lição de Didier e Zaneti, os microssistemas singularizam-se “por tratarem de matéria específica, dotada de particularidades técnicas e importância que justificam uma organização autônoma” (DIDIER JÚNIOR e ZANETI JÚNIOR, 2009, p. 69).
Esse microssistema emerge da necessidade de uma tutela jurídica adequada para adaptação da transformação digital do Poder Judiciário, impulsionada pela pandemia sem precedentes que enfrentamos no último ano (PORTO, 2021, online), de modo que, à míngua de uma regulação codificada, passou a ser regulamentada entre nós por uma gama de Resoluções baixadas pelo CNJ e conectadas com princípios comuns, formando um microssistema que permite a comunicação constante das normas e uma perfeita simbiose.
Assim, do ponto de vista do Direito, as Resoluções do CNJ compõem, reunidas, um importantíssimo microssistema jurídico (um verdadeiro estatuto da justiça digital), não abrangido pelo Código de Processo Civil, ainda que ele complete e integre as normas (CÂMARA, 2010, pp. 3-6). Dito de outro modo, formam uma unidade institucional, isto é, um só estatuto, qual seja o estatuto da justiça digital brasileira (THEODOR JÚNIOR, 2018, p.3).
Temos, desse modo, um sistema jurídico aberto ou integrativo, em que várias normas regentes do tema se comunicam entre si, completando-se (GOMES, 2011, p. 37) e acoplando toda a engrenagem necessária para o funcionamento desse novo e paradigmático momento do Poder Judiciário.
Por isso, o microssistema de justiça digital, além de orientar a estruturação procedimental, abre campo para a reestruturação judiciária, através do diálogo das fontes (JAYME, 1995, p. 259).
3. O Conselho Nacional de Justiça e o Poder Normativo
Como cediço, para que o Conselho atinja os fins para os quais foi concebido, o constituinte derivado facultou ao mesmo a possibilidade de expedir atos regulamentares no âmbito da sua competência, bem como adotar providências necessárias para o exato cumprimento da lei. Tais atos são dotados de força vinculante, ou seja, obrigam todos os órgãos e membros do Judiciário às suas determinações, exceto o Supremo Tribunal Federal.
A atribuição regulamentar do Conselho Nacional de Justiça está prevista no art. 103-B da CF/88, que assim dispõe:
[...] § 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências [...].
A norma transcrita revela a possibilidade de o CNJ expedir atos para disciplinar o conteúdo da Constituição Federal, sem a intermediação de qualquer lei stricto sensu. Esse fenômeno exemplifica a constitucionalidade dos regulamentos autônomos[5] (SILVA, 2005. p. 485), na esteira do que defendem Hely Lopes Meirelles (2016. p. 150), Eros Roberto Grau (2002. p. 225-55)[6] e outros nomes da doutrina brasileira (RUARO e CURVELO, 2007, p. 11), (CARVALHO, 2008, p. 298) e (DI PIETRO, 2010, p. 91). A leitura do dispositivo autoriza concluir que o poder regulamentar originário do Conselho está cingido ao “âmbito de sua competência”.
Ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem interpretado a expressão “âmbito de sua competência” de modo extensivo, a fim de alcançar a regulamentação da Constituição em todas as matérias administrativas, opinativas, disciplinares, correcionais, informativas e sancionatórias que envolvam o Poder Judiciário. Assim, segundo o entendimento da nossa Corte Constitucional, estaria o Conselho autorizado, por exemplo, a fixar regras para verificação do critério de merecimento na promoção de juízes e no acesso ao segundo grau (Resolução CNJ n.º 06/2005), impor restrições ao emprego de parentes de magistrados em cargos de direção e assessoramento, ainda que a LOMAN a respeito nada disponha (Resolução CNJ n.º 07/2005), e estabelecer o conteúdo de atividade jurídica para fins de ingresso na carreira da magistratura (Resolução CNJ n.º 12/2006).
Ao Conselho também cabe definir metas para a prestação jurisdicional e disciplinar, temas afetos à administração, finanças, logística e informática (tecnológica) do Judiciário, mas sem interferir, todavia, na tramitação e condução dos processos.
Desse modo, segundo decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 12-6/Distrito Federal, foi reconhecido (ou atribuído) ao Conselho Nacional de Justiça o poder de expedir atos de natureza normativa primária, ou seja, com mesma força de lei. Segundo a leitura feita pela nossa Corte Constitucional, o poder regulamentar atribuído ao Conselho não se restringe apenas a complementar a lei, mas também a Constituição, devendo o mesmo zelar pela observância dos princípios que regem a administração pública. Eis a ementa do acórdão:
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA RESOLUÇÃO Nº 07, de 18.10.05, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE "DISCIPLINA O EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES POR PARENTES, CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Os condicionamentos impostos pela Resolução nº 07/05, do CNJ, não atentam contra a liberdade de prover e desprover cargos em comissão e funções de confiança. As restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as mesmas já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. 2. Improcedência das alegações de desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e ao princípio federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à autoridade de nenhum dos outros dois. O Poder Judiciário tem uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge essa organização aos princípios "estabelecidos" por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, cabeça. 3. Ação julgada procedente para: a) emprestar interpretação conforme à Constituição para deduzir a função de chefia do substantivo "direção" nos incisos II, III, IV, V do artigo 2° do ato normativo em foco; b) declarar a constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça. (ADC 12, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2008, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-01 PP-00001 RTJ VOL-00215-01 PP-00011 RT v. 99, n. 893, 2010, p. 133-149)
Ao decidir o pedido liminar feito na ação acima mencionada, o Supremo Tribunal Federal atribuiu ao Conselho poder normativo primário, sob o argumento de que o mesmo retirou o fundamento de validade do ato expedido diretamente da Constituição Federal de 1988:
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA RESOLUÇÃO Nº 07, de 18/10/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR. Patente a legitimidade da Associação dos Magistrados do Brasil - AMB para propor ação declaratória de constitucionalidade. Primeiro, por se tratar de entidade de classe de âmbito nacional. Segundo, porque evidenciado o estreito vínculo objetivo entre as finalidades institucionais da proponente e o conteúdo do ato normativo por ela defendido (inciso IX do art. 103 da CF, com redação dada pela EC 45/04). Ação declaratória que não merece conhecimento quanto ao art. 3º da resolução, porquanto, em 06/12/05, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 09/05, alterando substancialmente a de nº 07/2005. A Resolução nº 07/05 do CNJ reveste-se dos atributos da generalidade (os dispositivos dela constantes veiculam normas proibitivas de ações administrativas de logo padronizadas), impessoalidade (ausência de indicação nominal ou patronímica de quem quer que seja) e abstratividade (trata-se de um modelo normativo com âmbito temporal de vigência em aberto, pois claramente vocacionado para renovar de forma contínua o liame que prende suas hipóteses de incidência aos respectivos mandamentos). A Resolução nº 07/05 se dota, ainda, de caráter normativo primário, dado que arranca diretamente do § 4º do art. 103-B da Carta-cidadã e tem como finalidade debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de centrada regência de toda a atividade administrativa do Estado, especialmente o da impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e o da moralidade. O ato normativo que se faz de objeto desta ação declaratória densifica apropriadamente os quatro citados princípios do art. 37 da Constituição Federal, razão por que não há antinomia de conteúdos na comparação dos comandos que se veiculam pelos dois modelos normativos: o constitucional e o infraconstitucional. Logo, o Conselho Nacional de Justiça fez adequado uso da competência que lhe conferiu a Carta de Outubro, após a Emenda 45/04. Noutro giro, os condicionamentos impostos pela Resolução em foco não atentam contra a liberdade de nomeação e exoneração dos cargos em comissão e funções de confiança (incisos II e V do art. 37). Isto porque a interpretação dos mencionados incisos não pode se desapegar dos princípios que se veiculam pelo caput do mesmo art. 37. Donde o juízo de que as restrições constantes do ato normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas restrições já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. É dizer: o que já era constitucionalmente proibido permanece com essa tipificação, porém, agora, mais expletivamente positivado. Não se trata, então, de discriminar o Poder Judiciário perante os outros dois Poderes Orgânicos do Estado, sob a equivocada proposição de que o Poder Executivo e o Poder Legislativo estariam inteiramente libertos de peias jurídicas para prover seus cargos em comissão e funções de confiança, naquelas situações em que os respectivos ocupantes não hajam ingressado na atividade estatal por meio de concurso público. O modelo normativo em exame não é suscetível de ofender a pureza do princípio da separação dos Poderes e até mesmo do princípio federativo. Primeiro, pela consideração de que o CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à autoridade de nenhum dos outros dois; segundo, porque ele, Poder Judiciário, tem uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar a sua própria Justiça, mas não é menos certo que esse mesmo art. 125, caput, junge essa organização aos princípios "estabelecidos" por ela, Carta Maior, neles incluídos os constantes do art. 37, cabeça. Medida liminar deferida para, com efeito vinculante: a) emprestar interpretação conforme para incluir o termo "chefia" nos inciso II, III, IV, V do artigo 2° do ato normativo em foco b) suspender, até o exame de mérito desta ADC, o julgamento dos processos que tenham por objeto questionar a constitucionalidade da Resolução nº 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça; c) obstar que juízes e Tribunais venham a proferir decisões que impeçam ou afastem a aplicabilidade da mesma Resolução nº 07/2005, do CNJ e d) suspender, com eficácia ex tunc, os efeitos daquelas decisões que, já proferidas, determinaram o afastamento da sobredita aplicação. (ADC 12 MC, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2006, DJ 01-09-2006 PP-00015 EMENT VOL-02245-01 PP-00001 RTJ VOL-00199-02 PP-00427)[7]. Grifo nosso
Nesse sentido, tem-se a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, o qual assevera que há casos em que o próprio texto constitucional autoriza que determinados órgãos produzam atos que, tanto como as leis, emanam diretamente da Constituição Federal, tendo, assim, natureza primária (CARVALHO FILHO, 2010, p. 61).
Apresenta, o mencionado doutrinador, como exemplo, a atribuição conferida pela norma constitucional ao Conselho Nacional de Justiça para expedir atos regulamentares no âmbito de suas competências, afirmando que tais atos terão como finalidade regulamentar a própria Constituição Federal, e, por tal motivo, serão autônomos e de natureza primária, situando-se no mesmo patamar em que se alojam as leis dentro do sistema de hierarquia normativa[8].
Além da prerrogativa de regulamentação primária, de origem constitucional, mediante a edição de regulamentos autônomos, também detém o CNJ poder regulamentar vinculado (ou, na lição de prestigiada doutrina, poder regulamentar “propriamente dito”), dirigido exclusivamente à complementação de leis. Nesse caso, deve o Conselho ater-se à mera exequibilidade do texto legal, não podendo criar novos direitos ou obrigações para os administrados.
No caso do CNJ, o poder regulamentar autônomo foi constitucionalmente atrelado ao âmbito de competência da instituição, de sorte que somente se admitirá a criação de direitos e obrigações, sem lei preexistente, se a matéria regulamentada versar sobre o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário ou sobre o cumprimento de deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, CF/88).
Assim, ao CNJ compete a definição dos critérios e procedimentos a serem observados pelas Cortes locais, visando ao aperfeiçoamento dos órgãos judiciários e das políticas públicas a eles relacionadas, como é o caso da informatização do processo judicial, tema evidentemente afeito ao sistema de Justiça e, por via de consequência, à respectiva transformação digital.
Dentro dos escopos de unicidade de trato e de controle da atuação administrativa, certamente está a adequação dos sistemas de informática. Assim, por se tratar de atividade diretamente vinculada à Administração da Justiça, cabe ao CNJ balizar os critérios prioritários para o gerenciamento das atividades jurisdicional e judiciária, incluindo-se aí a escolha da estratégia nacional nos campos da informática e da tecnologia.
Alinhado à diretriz constitucional, o novo Código de Processo Civil disciplina no artigo 196:
Art. 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código.
A redação da lei instrumental não apenas disciplinao mandamento constitucional que coloca o CNJ como “Órgão Governante Superior – OGS” – termo adotado pelo TCU para indicar as entidades públicas que “têm a responsabilidade por normatizar e fiscalizar o uso da gestão de TI em seus respectivos segmentos da Administração Pública Federal” (OGS, 2021, online) e, portanto, competente para ditar políticas públicas no tocante ao processo judicial eletrônico –, como também consolida a posição do CNJ como órgão responsável pela disciplina da incorporação progressiva dos avanços tecnológicos.
Como se sabe, a Justiça não é precificável mediante contraprestação financeira específica. O benefício que proporciona ao jurisdicionado e, de modo geral, a todo o tecido social está além do que os usuais critérios de mercado podem captar (HOLMES, SUNSTEIN, 2011, online). Contudo, da perspectiva da atividade estatal, sua produção tem um custo. Uma estrutura consideravelmente complexa é necessária para o exercício da jurisdição. Recursos humanos, materiais e tecnológicos são consumidos no sofisticado processo de buscar um nível satisfatório de justiça na resolução de disputas e conflitos. Esse esforço público tem um custo, que é variável e pode ser mensurado (IPEA, 2021, online).
O microssistema de justiça digital insere-se, nesse contexto, como medida de cumprimento dos preceitos constitucionais aludidos, mediante orquestração centralizada de recursos humanos e financeiros tendentes a reduzir o desperdício significativo de recursos públicos em iniciativas paralelas e sobrepostas, objetivando racionalizar os custos na produção de artefatos tecnológicos que atendam a todo o sistema de justiça. Além disso, possibilita o desenvolvimento colaborativo, em rede, de modo comunitário, como veremos abaixo.
4. O microssistema de Justiça Digital
O microssistema de justiça digital (PDPJ-Br) foi fundado por meio da Resolução CNJ n.º 335/2020, responsável por introduzir uma nova política pública para o Processo Judicial Eletrônico e criar o marketplace do Poder Judiciário (CNJstore), possibilitando o trabalho colaborativo, comunitário e em rede da Justiça brasileira.
A PDPJ-Br constitui a solução para, finalmente, evitar a multiplicidade de versões do PJe (WOLKART e BECKER, 2019, p. 117-119) integrar em curto prazo as funcionalidades de outros sistemas públicos, padronizar, em longo prazo, o uso do PJe como solução nacional e, principalmente, coibir o emprego de sistemas onerosos pelos Tribunais que ainda insistem em fazê-lo. O principal objetivo do CNJ é modernizar a plataforma do Processo Judicial Eletrônico e transformá-la em um sistema multisserviço que permita aos Tribunais fazer adequações conforme suas necessidades e que garanta, ao mesmo tempo, a unificação do trâmite processual no país.
Assim, a PDPJ-Br é o núcleo central do microssistema de justiça digital, a norma “mãe” que consolidou as bases e as diretrizes para a transformação digital que se seguiu com as demais normas.
Em seguida, crucial gizar a revolucionária criação do “Juízo 100% Digital” (ARAÚJO, GRABRIEL, PORTO, 2020, online), por meio da Resolução CNJ n.º 345/2020, que consubstanciou uma alteração de paradigma no Poder Judiciário brasileiro, passando a conceber a Justiça efetivamente como um serviço (“justice as a service”) (BECKER e DUQUE, 2021, online), e não mais como associada a um prédio físico[9], vulgarmente denominado de Fórum. No mesmo diapasão, a Resolução CNJ n.º 354/2020 possibilitou o cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial (ARAÚJO, GRABRIEL, PORTO, 2020, online), revolucionando a forma de cumprimento dos atos judiciais e praticamente extinguindo as vetustas cartas precatórias (ARAÚJO, GRABRIEL, PORTO, 2020, online).
Ainda nessa caminhada, o CNJ instituiu o “Balcão Digital”, por meio da Resolução CNJ n.º 372/2021, permitindo o atendimento imediato de partes e advogados pelos servidores do juízo, durante o horário de atendimento ao público, através do uso de ferramenta de videoconferência, em moldes similares aos do atendimento presencial, que ocorria no denominado “balcão” de atendimento físico das serventias (ARAÚJO, GRABRIEL, PORTO, 2020, online).
Por fim, como ápice dessa transformação digital, aponte-se a publicação da Resolução CNJ n.º 385/2021, autorizando a revolucionária instituição dos “Núcleos de Justiça 4.0” (ARAÚJO, GRABRIEL, PORTO, 2020, online), que foram lapidados pela Resolução CNJ n.º 398/2021.
De fato, as gerações mais jovens já consideravam a necessidade de irem até fóruns e participarem de audiências presenciais como práticas ultrapassadas[10].
Como salientou o Ministro Luiz Fux em seu voto propondo o ato normativo que se transformou na Resolução CNJ n.º 385/2021[11]:
Do ponto de vista dos advogados, a dinâmica tradicional também acabava por criar certas amarras geográficas, já que nem todos os clientes podem arcar com os custos de deslocamento dos advogados de sua preferência para outras cidades ou estados. Ademais, revelava-se praticamente inviável participar de duas ou mais audiências em um mesmo dia, salvo se no mesmo juízo ou fórum. Com o “Juízo 100% Digital” e os “Núcleos de Justiça 4.0”, há uma ampliação e democratização do acesso à advocacia, permitindo que os cidadãos possam contratar advogados de cidades distantes e até mesmo de outros estados, sem que isso importe um aumento significativo de custos.
Mas isso não significa dizer que estamos em crise, não! Estamos em constante e frequente TRANSFORMAÇÃO.
O contemporâneo desafio pandêmico enfrentado pelo Poder Judiciário ao redor do mundo robusteceu ainda mais a ideia de uma Justiça que não está atrelada a uma sede física. Como destacou Steven Pinker, “a revolução digital, ao substituir átomos por bits, está desmaterializando o mundo bem diante de nossos olhos” (PINKER, 2018, p. 179). Parafrasendo o pensador canadense, estamos desmaterializando o prédio da Justiça e criando o “fórum virtual”. O “Juízo 100% digital”, em conjunto com o Núcleo de Justiça 4.0, o Cumprimento Digital de Ato Processual e o Balcão Digital, expressam um novo modelo de trabalho, que utiliza todo o potencial que a tecnologia pode fornecer, materializando no âmbito do Poder Judiciário a verdadeira transformação digital (ARAÚJO, GRABRIEL, PORTO, 2020, online).
Estamos vivendo uma época de grandes transformações trazidas pelo avanço exponencial da tecnologia. O futuro não será a simples continuação do presente. Velhos problemas precisarão ser resolvidos a partir de uma nova lógica, em que a tecnologia e o homem se sobrepõem. Nenhum negócio ou serviço, privado ou público, ficará à margem da mudança, porque, além da automação, a tecnologia nos proporcionou a conectividade e realçou a complexidade do mundo em que vivemos — holístico e interdependente (REPETTE, SELL, BASTOS, 2020, online). Com o Judiciário, não será diferente, por esse motivo, se mostra primordial para que a transformação digital ocorra de modo efetivo que se tenha regras claras e transparentes, possibilitando a visualização do Judiciário como plataforma para o desenvolvimento do Ecossistema da Justiça, tendo o cidadão no centro e no foco das atenções.
Dessa forma, o microssistema de Justiça digital representa a balsa (ECO, 2017) que nos levará para a nova Justiça (Justiça 4.0). Quando falamos de uma nova Justiça, é porque se tem em conta que a Justiça de hoje não mais pode estar identificada como a Justiça de ontem, diante de uma nova sociedade, com inéditas demandas e necessidades. A nova Justiça é aquela que está em harmonia com a nova realidade social e em sintonia com as dinâmicas contemporâneas, preparada para responder, com eficiência, celeridade e criatividade, às expectativas da sociedade pós-moderna, ancorada na tecnologia (ARAÚJO, GRABRIEL, PORTO, 2020, online).
Sem dúvida, o Conselho Nacional de Justiça, possibilitou ao Poder Judiciário a travessia[12] para a Justiça Contemporânea (Justiça 4.0), permeada pela tecnologia e adequada à nova realidade e dinâmica social, com a introdução no ordenamento jurídico brasileiro do microssistema de justiça digital.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Renato Franco de. Poderes do CNJ e do CNMP. Informativo Jurídico in Consulex. Ano XXI, nº 32, de 13 de agosto de 2007, p. 12-15.
ANDRADE, Fernando Teixeira. O medo: o maior gigante da alma. s/e, s/d.
ARAÚJO, Valter Shuenquener de; GABRIEL, Anderson de Paiva; PORTO, Fábio Ribeiro. Os ‘Núcleos de Justiça 4.0’: inovação disruptiva no Poder Judiciário brasileiro. JOTA. Disponível em: <.https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juiz-hermes/os-nucleos-de-justica-4-0-inovacao-disruptiva-no-poder-judiciario-brasileiro-13042021>. Acesso em 13 de abr. 2021.
ARAÚJO, Valter Shuenquener de; GABRIEL, Anderson de Paiva; PORTO, Fábio Ribeiro. ‘Juízo 100% digital’ e transformação tecnológica da Justiça no século XXI. Novo modelo de trabalho utiliza todo o potencial que a tecnologia pode fornecer ao Poder Judiciário. JOTA. Disponível em:<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juiz-hermes/juizo-100-digital-e-transformacao-tecnologica-da-justica-no-seculo-xxi-01112020>. Acesso em 22 de fev. de 2020.
ARAÚJO, Valter Shuenquener de; GABRIEL, Anderson de Paiva; PORTO, Fábio Ribeiro. O cumprimento digital de ato processual e o fim das cartas precatórias. JOTA. Disponível em:< https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juiz-hermes/o-cumprimento-digital-de-ato-processual-e-o-fim-das-cartas-precatorias-03122020>. Acesso em 22 de fev. de 2020
BAKER, Amanda M. A Higher Authority: Judicial Review of Religious Arbitration. Vermont Law Review, vol 157, 2012.
BASTOS, Janice. O poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Justiça do Trabalho, v. 27, n. 316, abr/2010.
BECKER, Daniel e DUQUE, Felipe. Hotline bling: Covid-19, Justiça como serviço e virtualização dos atos processuais. JOTA. Disponível em: < https://www.jota.info/coberturas-especiais/inova-e-acao/hotline-bling-covid-19-justica-como-servico-e-virtualizacao-dos-atos-processuais-26052020#_ftn28>. Acesso em 13 de abr. 2021.
CÂMARA, Alexandre Antônio Franco Freitas. Juizados especiais cíveis estaduais, federais e da fazenda pública: uma abordagem crítica. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. São Paulo: Max Limonad, 2002.
CARVALHO FILHO. José dos Santos.Manual de direito administrativo. 23ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.
CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de direito administrativo: parte geral, intervenção do Estado e estrutura da administração. Salvador: Juspodivm, 2008.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010.
DIDIER JÚNIOR, Fredie; ZANETI JÚNIOR, Hermes. Curso de direito processual civil, v. 4 –Processo coletivo. Salvador: JusPodivm, 2009.
ECO, Umberto. Pape Satàn Aleppe – crônicas de uma sociedade líquida. São Paulo: Record, 2017.
FANTINATO, João Marcos de Castello Branco. A Antiguidade Tardia Ibérica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.
FORBES, Jorge; REALE JÚNIOR, Miguel e FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio (org.). A invenção do futuro: um debate sobre a pós-modernidade e a hipermodernidade. Barueri: Manole, 2005.
GARCIA, Emerson. Poder normativo primário dos Conselhos Nacionais do Ministério Público e de Justiça: a gênese de um equívoco. Jus Navigandi. Teresina, ano 10, n. 1002, 30 mar. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8172>. Acesso em 10 out. 2010.
GOMES JR., Luiz Manoel et al. Comentários à nova lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública: lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. 2ª ed. São Paulo: RT, 2011, p. 37.
GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 4. Ed. São Paulo: Malheiros, 2002. P. 225-55.
HOLMES, S.; SUNSTEIN, C. R. The cost of rights: why liberty depends on taxes. Nova Iorque: Norton, 1999.
IPEA. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Relatório de Pesquisa IPEA. Custo unitário do processo de Execução Fiscal na Justiça Federal. 2011. Disponível em: < http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_custounitario_justicafederal.pdf>. Acesso em 30 Jul. 2018.
IRTI, Natalino. L’etàdella decoficazione. 4ª ed. Milão: Giuffrè, 1999.
JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration: lê droit internationale privé postmoderne. Recueil des Cours de l’ Académie de Droit International de la Haye, 1995, II, Klumer, Haia, p.259.
KOETZ, Eduardo. Transformação Digital e a Justiça. Disponível em:< https://transformacaodigital.com/justica-digital/>. Acesso em 03 Ago 2018.
LÚCIA, Carmen. Discurso de posse. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalPossePresidencial/anexo/Plaqueta_P ossepresidencial_CarmenLucia.pdf>. Acesso em 23 de mar. 2021.
MAZZEI, Rodrigo Reis. A ação popular e o microssistema da tutela coletiva. In: GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel; SANTOS FILHO, Ronaldo Fenelon. Ação popular – Aspectos relevantes e controvertidos. São Paulo: RCS Editora, 2006.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 150.
PERASSO, Valéria. O que é a 4ª revolução industrial - e como ela deve afetar nossas vidas. BBC, 22 de outubro de 2106. Disponível em:< https://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309>. Acesso em 03 Ago 2018.
PICCOLI, Ademir Milton. Judiciário Exponencial: Premissas Para Acelerar o Processo de Inovação. In: Tecnologia jurídica & direito digital: II Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia – 2018/ Ricardo Vieira de Carvalho Fernandes e Angelo Gamba Prata de Carvalho (Coord.). Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 192.
PICCOLI, Ademir Milton. Judiciário Exponencial. 7 Premissas para acelerar a inovação e o processo de transformação no ecossistema da Justiça. São Paulo: Vidaria dos Livros, 2018.
PINKER, Steven. O novo iluminismo: em defesa da razão, da ciência e do Humanismo. Trad. Laura Teixeira Motta e Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
PORTO, Fábio. A transformação digital do Poder Judiciário incentivada pela covid-19. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 25, n. 6149, 2 maio 2020. Disponível em:<https://jus.com.br/artigos/80710>. Acesso em: 12 abr. 2021.
RAMOS, André Tavares. O Conselho Nacional de Justiça e os limites de sua função regulamentadora. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, ano 3, n. 9, jan/mar.2009. Belo Horizonte: Editora Fórum, p. 13-26.
REPETTE, Palmyra Farinazzo Reis; SELL, Denilson; BASTOS, Lia Caetano. Judiciário como plataforma: um caminho novo e promissor. Revista CNJ/Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Brasília, v 4, n. 1, jan/jun 2020 | ISSN 2525-4502.
ROSA, Alexandre Morais. LIMITE PENAL. A inteligência artificial chegou chegando: magistratura 4.0. Conjur. Disponível em:< https://www.conjur.com.br/2018-jul-13/limite-penal-inteligencia-artificial-chegou-chegando-magistratura-40>. Acesso em 04 Ago 2018
RUARO, Regina Linden; CURVELO, Alexandre Schubert. O poder regulamentar (autônomo) e o Conselho Nacional de Justiça – algumas anotações sobre o poder regulamentar autônomo no Brasil. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 96, v. 858, p. 111, abr. 2007.
SANTOS FILHO, Ronaldo Fenelon. Ação popular – Aspectos relevantes e controvertidos. São Paulo: RCS Editora, 2006
SANTOS, Boaventura de Sousa; MARQUES, Maria Manoel Leitão; e PEDROZO, João. Os tribunais nas sociedades contemporâneas. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, ano 11, nº 30, fev. 1996. p. 34
SCHAWB, Klaus. A quarta Revolução Industrial. Trad, Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016).
SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p. 485).
STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang et al. Os limites das resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 888, 8 dez. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7694>. Acesso em: 10 out. 2010).
SUSSKIND, Richard. Online Courts and the Future of Justice. Oxford: Oxford University Press, 2019, p. 29).
SUSSKIND, Richard. Tomorrow’s Lawyers: an introduction to your future. Oxford University Press, 2017, p. 86).
THEODOR JÚNIOR, Humberto. Os juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153, de 22.12.2009). Disponível em:<https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/668/1/palTJ-OSJ.pdf>. Acesso em 24 de agosto de 2018, p. 3.
VILANOVA, Lourival. Estruturas lógicas e sistema de direito positivo. São Paulo: Noeses, 2005.
WOLKART, Erik Navarro; BECKER, Daniel. Da Discórdia analógica para a Concórdia digital. In FEIGELSON, Bruno; BECKER, Daniel; RAVAGNANI, Giovani (org.). O advogado do amanhã: estudos em homenagem ao professor Richard Susskind. São Paulo: RT, 2019.
[1] Mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Pós-Graduado em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Juiz de Direito e Professor Universitário. Professor Palestrante da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Professor da Escola de Administração Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (ESAJ). Professor do Curso de Pós-Graduação em Direito Privado da Universidade Federal Fluminense (UFF). Ex-membro da Comissão Judiciária de Articulação dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (COJES). Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (CGTIC). Membro do Comitê Gestor de Segurança da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (CGSI). Ex-Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ex-Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça.
[2]Sobre o tema, disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2-anos/2-anos-1/desenvolvimento-economico-desburocratizacao-e-modernizacao-do-estado Acesso em 02 de fev. 2021.
[3] Tais medidas se darão mediante serviços digitais, acessíveis, inclusive, por dispositivos móveis, que permitirão às pessoas jurídicas e aos outros entes públicos demandar e acessar serviços públicos por meio digital, sem a necessidade de solicitação presencial.
[4] A propósito da definição do conceito de sistema, confira-se a seguinte passagem da obra do professor Lourival Vilanova: “Para logo se vê, o sistema reside: i) em haver partes de um todo, desde prótons, fótons, elétrons, constituindo a constelação energética do átomo, até os elementos de um conjunto lógico ou matemático; ii) num vínculo que interliga as partes, seja a variação funcional das partículas não-viventes, até as múltiplas formas de interação humana, seja a natureza no sentido transcendental kantiano do que ocorre segundo as leis causais, seja a cultura como síntese dialética de uma organização exterior da sociedade e dos fatores objetivos de sentido (Dielthey). Em suma, falamos de sistema onde se encontrem elementos e relações e uma forma dentro de cujo âmbito, elementos e relações se verifiquem. O conceito formal de todo (no sentido husserliano) corresponde ao sistema. Sistema implica ordem, isto é, uma ordenação das partes constituintes, relações entre partes ou elementos. As relações são os elementos do sistema. Fixam, antes, sua forma de composição interior, sua modalidade de ser estrutura” (VILANOVA, Lourival. Estruturas lógicas e sistema de direito positivo. São Paulo: Noeses, 2005. p. 162).
[5]“Regulamentos autônomos são aqueles que demonstram a realidade de um poder regulamentar da Administração. Não há dúvida da existência deste poder quando se trata de regulamentos de organização, onde expressamente não se tenha reservado uma esfera à lei. É o que agora prevê o inciso VI deste art. 84, com a alteração introduzida pela Emenda Constitucional 32/2001. Não será regulamento ilegal se se limitar à esfera de competência própria e privativa do administrador” (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p. 485).
[6] Para ele, o regulamento autônomo é compatível com a Constituição brasileira, porque a separação dos poderes não está fundada somente na classificação subjetiva do Estado (leia-se, discriminação de seus órgãos, agentes e instituições), mas também na divisão material dos atos praticados. De acordo com esse critério material, sugere o jurista, o Estado exerce três funções: a normativa (de elaboração do direito positivo), a administrativa (de concretização do direito posto) e a jurisdicional (de aplicação das normas). A função normativa, nessa linha de raciocínio, não seria exclusiva da atividade legiferante, mas extensiva à edição de regulamentos pelo Poder Executivo e à formulação de regimentos e outros atos administrativos pelos tribunais. (GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 225-55).
[7] Destaca-se do voto do eminente relator o seguinte trecho “[...] Já no plano da autoqualificação do ato do CNJ como entidade jurídica primária, permito-me apenas lembrar, ainda nesta passagem, que o Estado-Legislador é detentor de duas caracterizadas vontades normativas: uma é primária, outra é derivada. A vontade primária é assim designada por se seguir imediatamente à vontade da própria Constituição, sem outra base de validade que não seja a Constituição mesma. Por isso imediatamente inovadora do ordenamento jurídico, sabido que a Constituição não é diploma normativo destinado a tal inovação, mas própria fundação desse Ordenamento. Já a segunda tipologia de vontade estatal-normativa vontade tão somente secundária, ela é assim chamada pelo fato de buscar o seu fundamento de validade em norma intercalar; ou seja, vontade que adota como esteio de validade um diploma jurídico já editado, esse sim, com base na Constituição. Logo, vontade que não tem aquela força de inovar o Ordenamento com imediatidade”.
[8] Nesse ponto, importante destacar que essa posição doutrinária não é pacífica, vários autores sustentam tese contrária. Nesse sentido, tem-se a doutrina de Lenio Luiz Streck, Ingo Wolfgang Sarlet e Clèrmeson Merlin Clève, ao afirmar que seria incompreensível, no Estado Democrático de Direito, permitir que um órgão administrativo, como os Conselhos Nacionais do Ministério Público e do Poder Judiciário, pudesse expedir atos regulamentares com força de lei. Acrescenta, ainda, que os poderes normativos de tais Conselhos Nacionais enfrentam duas limitações, a saber: “[...] uma stricto sensu, pela qual não podem expedir regulamentos com caráter geral e abstrato, em face da reserva de lei; outra, lato sensu, que diz respeito a impossibilidade de ingerência nos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos” (STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang et al. Os limites das resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 888, 8 dez. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7694>. Acesso em: 10 out. 2010). No mesmo sentido: ALMEIDA, Renato Franco de. Poderes do CNJ e do CNMP. Informativo Jurídico in Consulex. Ano XXI, nº 32, de 13 de agosto de 2007, p. 12-15,p. 15; GARCIA, Emerson. Poder normativo primário dos Conselhos Nacionais do Ministério Público e de Justiça: a gênese de um equívoco. Jus Navigandi. Teresina, ano 10, n. 1002, 30 mar. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8172>. Acesso em 10 out. 2010. RAMOS, André Tavares. O Conselho Nacional de Justiça e os limites de sua função regulamentadora. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, ano 3, n. 9, jan/mar.2009. Belo Horizonte: Editora Fórum, p. 13-26 e de BASTOS, Janice. O poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Justiça do Trabalho, v. 27, n. 316, abr/2010, p. 109-114.
[9] Tradicionalmente, a Justiça é vista pela ficção e pela mídia como antiquada, o que é reforçado e confirmado quando se visita um órgão do Poder Judiciário. (SUSSKIND, Richard. Tomorrow’s Lawyers: an introduction to your future. Oxford University Press, 2017, p. 86). Embora a ideia de um local apto a fazer justiça remonte ao berço da civilização na Mesopotâmia (BAKER, Amanda M. A Higher Authority: Judicial Review of Religious Arbitration. Vermont Law Review, vol 157, 2012), passando pelo Fórum romano e a sua subsequente fusão com as formas de resolução de conflitos das tribos germânicas (FANTINATO, João Marcos de Castello Branco. A Antiguidade Tardia Ibérica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018), a estrutura primitiva de órgão jurisdicional foi concebida na Idade das Trevas e atualizada no Século XIX (SUSSKIND, Richard. Online Courts and the Future of Justice. Oxford: Oxford University Press, 2019, p. 29).
[10] Em recente artigo publicado no The Times, Richard Susskind afirmou que as audiências por vídeo, em termos tecnológicos, são “coisas da Idade da Pedra”. Sua concepção remonta aos anos 80, e sua adoção tardia, em 2020, só reforça que se trata de um pontapé inicial na rotina dos tribunais. O futuro abrangerá ODRs, procedimentos assíncronos, telepresença, realidade virtual, blockchain e inteligência artificial (disponível em: < https://www.thetimes.co.uk/article/video-hearings-have-transformed-courts-but-are-not-a-panacea-mcp77mjj7>. Acesso em 07 de abr. 2021.
[11] Ato 0001113-81.2021.2.00.0000
[12] Segundo Fernando Teixeira de Andrade, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos. (ANDRADE, Fernando Teixeira. O medo: o maior gigante da alma. s/e, s/d.). O Judiciário como mencionamos acima está em constante transformação. A sociedade mudou, e precisamos evoluir com ela. Tudo muda, tudo se transforma, e não poderia ser diferente no Poder Judiciário.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Renato Franco de. Poderes do CNJ e do CNMP. Informativo Jurídico in Consulex. Ano XXI, nº 32, de 13 de agosto de 2007, p. 12-15.
ANDRADE, Fernando Teixeira. O medo: o maior gigante da alma. s/e, s/d.
ARAÚJO, Valter Shuenquener de; GABRIEL, Anderson de Paiva; PORTO, Fábio Ribeiro. Os ‘Núcleos de Justiça 4.0’: inovação disruptiva no Poder Judiciário brasileiro. JOTA. Disponível em: <.https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juiz-hermes/os-nucleos-de-justica-4-0-inovacao-disruptiva-no-poder-judiciario-brasileiro-13042021>. Acesso em 13 de abr. 2021.
ARAÚJO, Valter Shuenquener de; GABRIEL, Anderson de Paiva; PORTO, Fábio Ribeiro. ‘Juízo 100% digital’ e transformação tecnológica da Justiça no século XXI. Novo modelo de trabalho utiliza todo o potencial que a tecnologia pode fornecer ao Poder Judiciário. JOTA. Disponível em:. Acesso em 22 de fev. de 2020.
ARAÚJO, Valter Shuenquener de; GABRIEL, Anderson de Paiva; PORTO, Fábio Ribeiro. O cumprimento digital de ato processual e o fim das cartas precatórias. JOTA. Disponível em:< https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juiz-hermes/o-cumprimento-digital-de-ato-processual-e-o-fim-das-cartas-precatorias-03122020>. Acesso em 22 de fev. de 2020
BAKER, Amanda M. A Higher Authority: Judicial Review of Religious Arbitration. Vermont Law Review, vol 157, 2012.
BASTOS, Janice. O poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Justiça do Trabalho, v. 27, n. 316, abr/2010.
BECKER, Daniel e DUQUE, Felipe. Hotline bling: Covid-19, Justiça como serviço e virtualização dos atos processuais. JOTA. Disponível em: < https://www.jota.info/coberturas-especiais/inova-e-acao/hotline-bling-covid-19-justica-como-servico-e-virtualizacao-dos-atos-processuais-26052020#_ftn28>. Acesso em 13 de abr. 2021.
CÂMARA, Alexandre Antônio Franco Freitas. Juizados especiais cíveis estaduais, federais e da fazenda pública: uma abordagem crítica. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. São Paulo: Max Limonad, 2002.
CARVALHO FILHO. José dos Santos.Manual de direito administrativo. 23ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.
CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de direito administrativo: parte geral, intervenção do Estado e estrutura da administração. Salvador: Juspodivm, 2008.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010.
DIDIER JÚNIOR, Fredie; ZANETI JÚNIOR, Hermes. Curso de direito processual civil, v. 4 –Processo coletivo. Salvador: JusPodivm, 2009.
ECO, Umberto. Pape Satàn Aleppe – crônicas de uma sociedade líquida. São Paulo: Record, 2017.
FANTINATO, João Marcos de Castello Branco. A Antiguidade Tardia Ibérica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.
FORBES, Jorge; REALE JÚNIOR, Miguel e FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio (org.). A invenção do futuro: um debate sobre a pós-modernidade e a hipermodernidade. Barueri: Manole, 2005.
GARCIA, Emerson. Poder normativo primário dos Conselhos Nacionais do Ministério Público e de Justiça: a gênese de um equívoco. Jus Navigandi. Teresina, ano 10, n. 1002, 30 mar. 2006. Disponível em: . Acesso em 10 out. 2010.
GOMES JR., Luiz Manoel et al. Comentários à nova lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública: lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. 2ª ed. São Paulo: RT, 2011, p. 37.
GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. 4. Ed. São Paulo: Malheiros, 2002. P. 225-55.
HOLMES, S.; SUNSTEIN, C. R. The cost of rights: why liberty depends on taxes. Nova Iorque: Norton, 1999.
IPEA. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Relatório de Pesquisa IPEA. Custo unitário do processo de Execução Fiscal na Justiça Federal. 2011. Disponível em: < http://ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_custounitario_justicafederal.pdf>. Acesso em 30 Jul. 2018.
IRTI, Natalino. L’etàdella decoficazione. 4ª ed. Milão: Giuffrè, 1999.
JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration: lê droit internationale privé postmoderne. Recueil des Cours de l’ Académie de Droit International de la Haye, 1995, II, Klumer, Haia, p.259.
KOETZ, Eduardo. Transformação Digital e a Justiça. Disponível em:< https://transformacaodigital.com/justica-digital/>. Acesso em 03 Ago 2018.
LÚCIA, Carmen. Discurso de posse. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoInstitucionalPossePresidencial/anexo/Plaqueta_P ossepresidencial_CarmenLucia.pdf>. Acesso em 23 de mar. 2021.
MAZZEI, Rodrigo Reis. A ação popular e o microssistema da tutela coletiva. In: GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel; SANTOS FILHO, Ronaldo Fenelon. Ação popular – Aspectos relevantes e controvertidos. São Paulo: RCS Editora, 2006.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 150.
PERASSO, Valéria. O que é a 4ª revolução industrial - e como ela deve afetar nossas vidas. BBC, 22 de outubro de 2106. Disponível em:< https://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309>. Acesso em 03 Ago 2018.
PICCOLI, Ademir Milton. Judiciário Exponencial: Premissas Para Acelerar o Processo de Inovação. In: Tecnologia jurídica & direito digital: II Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia – 2018/ Ricardo Vieira de Carvalho Fernandes e Angelo Gamba Prata de Carvalho (Coord.). Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 192.
PICCOLI, Ademir Milton. Judiciário Exponencial. 7 Premissas para acelerar a inovação e o processo de transformação no ecossistema da Justiça. São Paulo: Vidaria dos Livros, 2018.
PINKER, Steven. O novo iluminismo: em defesa da razão, da ciência e do Humanismo. Trad. Laura Teixeira Motta e Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
PORTO, Fábio. A transformação digital do Poder Judiciário incentivada pela covid-19. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 25, n. 6149, 2 maio 2020. Disponível em:. Acesso em: 12 abr. 2021.
RAMOS, André Tavares. O Conselho Nacional de Justiça e os limites de sua função regulamentadora. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, ano 3, n. 9, jan/mar.2009. Belo Horizonte: Editora Fórum, p. 13-26.
REPETTE, Palmyra Farinazzo Reis; SELL, Denilson; BASTOS, Lia Caetano. Judiciário como plataforma: um caminho novo e promissor. Revista CNJ/Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Brasília, v 4, n. 1, jan/jun 2020 | ISSN 2525-4502.
ROSA, Alexandre Morais. LIMITE PENAL. A inteligência artificial chegou chegando: magistratura 4.0. Conjur. Disponível em:< https://www.conjur.com.br/2018-jul-13/limite-penal-inteligencia-artificial-chegou-chegando-magistratura-40>. Acesso em 04 Ago 2018
RUARO, Regina Linden; CURVELO, Alexandre Schubert. O poder regulamentar (autônomo) e o Conselho Nacional de Justiça – algumas anotações sobre o poder regulamentar autônomo no Brasil. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 96, v. 858, p. 111, abr. 2007.
SANTOS FILHO, Ronaldo Fenelon. Ação popular – Aspectos relevantes e controvertidos. São Paulo: RCS Editora, 2006
SANTOS, Boaventura de Sousa; MARQUES, Maria Manoel Leitão; e PEDROZO, João. Os tribunais nas sociedades contemporâneas. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, ano 11, nº 30, fev. 1996. p. 34
SCHAWB, Klaus. A quarta Revolução Industrial. Trad, Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016).
SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p. 485).
STRECK, Lenio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang et al. Os limites das resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 888, 8 dez. 2005. Disponível em: texto.asp?id=7694>. Acesso em: 10 out. 2010).
SUSSKIND, Richard. Online Courts and the Future of Justice. Oxford: Oxford University Press, 2019, p. 29).
SUSSKIND, Richard. Tomorrow’s Lawyers: an introduction to your future. Oxford University Press, 2017, p. 86).
THEODOR JÚNIOR, Humberto. Os juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153, de 22.12.2009). Disponível em:. Acesso em 24 de agosto de 2018, p. 3.
VILANOVA, Lourival. Estruturas lógicas e sistema de direito positivo. São Paulo: Noeses, 2005.
WOLKART, Erik Navarro; BECKER, Daniel. Da Discórdia analógica para a Concórdia digital. In FEIGELSON, Bruno; BECKER, Daniel; RAVAGNANI, Giovani (org.). O advogado do amanhã: estudos em homenagem ao professor Richard Susskind. São Paulo: RT, 2019.
Notas

