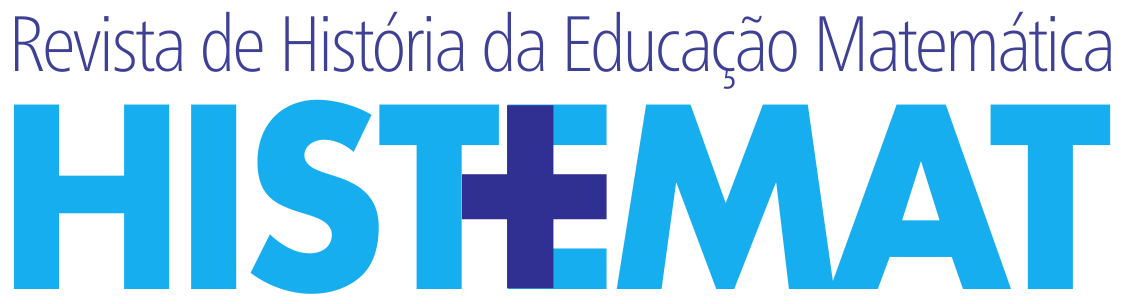INTRODUÇÃO
O contexto de criação das escolas primárias no Brasil se deu num efervescente contexto de instabilidade e imprevisibilidade. No caso específico de São Paulo, a escola primária paulista foi, ao longo da Primeira República (1889-1930), se configurando por sucessivas reformas no âmbito da instrução pública (Oliveira & Pinheiro, 2022). Ainda de acordo com esses pesquisadores, nesse movimento de reconfiguração, as matérias escolares e seus saberes foram se transformando, sobretudo pela instauração do método de ensino intuitivo, o qual marcou profundamente a cultura escolar do sistema de ensino paulista, nos finais do século XX.
Conforme os estudos produzidos por Valdemarin (2010b), o ensino intuitivo fundamentou a reforma de ensino paulista, sendo adotado como elemento organizador das práticas pedagógicas daquele Estado. Além disso, a difusão desse método integrou, segundo ela, um conjunto de medidas com vistas à implantação de um sistema de ensino que se pautasse pela equiparação do Brasil às nações consideradas mais desenvolvidas, bem como servisse de instrumento para a educação popular moderna.
Tomando como pontapé inicial o contexto apresentado, este artigo visa analisar como o ensino de Desenho, presente desde os anos finais do século XIX na instrução pública primária paulista, foi gradativamente ganhando espaço e representação dentro das escolas primárias de São Paulo face às mudanças decorrentes da instauração de um novo método de ensino.
Outra característica deste texto é a ênfase dada ao Estado de São Paulo, que durante o período republicano se constituiu como um estado pioneiro e modelo de ensino, um lugar onde ocorreram várias reformas educacionais, tornando-se símbolo de vanguarda nacional pela via da escola graduada e da criação dos grupos escolares. De acordo com Carvalho (2000), tão logo proclamada a República, os governantes e representantes do setor oligárquico de São Paulo começaram a investir na organização de um sistema de ensino modelo, que fosse signo do progresso local.
Desse modo, nosso objetivo foi compreender a sistematização desse saber, nesse espaço e local geográfico específicos, mediante a presença estruturante do método de ensino intuitivo, o qual perdurou até a década de 1920. Em outras palavras, examinar como esse método transformou o saber Desenho numa rubrica importante para as escolas primárias paulistas, sobretudo, para os grupos escolares daquele Estado.
Para atender ao objetivo proposto, recorremos à legislação educacional da época, examinando os decretos, as leis e, sobretudo, os programas de ensino, um dos elementos responsáveis por normatizar as relações didático-pedagógicas dos diferentes saberes escolares. Cabe mencionar que boa parte dessa massa documental se encontra referenciada no trabalho de tese do primeiro autor deste texto (Guimarães, 2017).
Trata-se, portanto, de um estudo no âmbito da história da educação matemática e alicerçado na história das disciplinas escolares (Chervel, 1990); nos saberes profissionais do ensino e da formação, do qual destacamos a referência aos saberes . e para ensinar[3]; e no conceito de expert, que têm por referência os pesquisadores Lussi Borer (2009) e Hofstetter et al. (2013). Tais teóricos nos ajudaram a responder as seguintes questões de pesquisa: Como foram escolarizados os saberes a e para ensinar Desenho na escola primária paulista durante o modelo de ensino intuitivo? Como se tem interpretado a organização e transformação desse saber nessa escola? Como as finalidades da escola primária paulista alteraram o status do saber Desenho?
1. O ENSINO DE DESENHO NO CONTEXTO DA MODERNIDADE EDUCACIONAL
No afã de identificar e analisar os programas de ensino das escolas primárias paulistas, produzidos entre os anos de 1887 e 1929, Shieh (2010) mostra, em sua dissertação de Mestrado, que a preocupação com o que ensinar nessas escolas emergiu antes mesmo da Proclamação da República e esteve vinculada com o cenário emergente de modernização de países do Ocidente.
Ainda segundo Shieh (2010), o início dos tempos modernos, caracterizados pelo avanço da razão, das ciências e das artes, fez com que o Brasil, e especialmente, São Paulo, encabeçasse um processo de modernização baseado nos moldes educacionais de países considerados desenvolvidos.
O empenho das elites brasileiras (fazendeiros, políticos, militares, intelectuais etc.) em transformar o país numa grande arena industrial, urbana e tecnológica, possibilitou à escola pública e, consequentemente, à educação, acesso a um patamar elevado, fazendo da educação o caminho mais viável para a construção de uma nação ordeira e consciente (Shieh, 2010).
Com a inauguração da República, o
desejo de tornar o Brasil moderno e, logo, o de superar o passado, visto como
sinônimo de atraso, não apenas persistiu, como também recebeu um novo impulso,
ao ser erigida como aquela que possibilitaria o alinhamento do país ao nível das
principais potências econômicas [do mundo moderno]. [...] A partir da
República, a escola primária, até então vista como motor para o progresso e
alçada ao papel de instrumento de formação do homem moderno, ganhou finalidades
de vulto: a de preparação para a cidadania e a de divulgação dos valores
republicanos (Shieh, 2010, pp. 21-22).
Neste contexto efervescente, de tentativa de modernizar o Brasil, uma das figuras mais emblemáticas foi o baiano Rui Barbosa. À frente de seu tempo, Rui Barbosa atuou em diferentes setores da sociedade brasileira. Preocupado com a organização dos sistemas educativos brasileiros e tomado pelo sentimento de que a educação e a modernização do país exigiam a formação de um novo cidadão republicano, Rui Barbosa propôs a adoção do método intuitivo e uma reforma nos programas de ensino primário e superior. Essas propostas foram publicadas em pareceres sobre a Reforma do ensino primário e várias instituições complementares da instrução pública, publicados entre os anos de 1882 e 1883 (Bastos, 2000; Faria Filho, 2000; Souza, 2000; Melo & Machado, 2009; Shieh, 2010; Guimarães, 2017).
Ao observar as lacunas existentes no Decreto n. 7247, de 19 de abril de 1879 (Castanha, 2013), documento redigido pelo seu colega, Carlos Leôncio de Carvalho, que era, à época, ministro do Império, Rui Barbosa, um expert[4] em assuntos educacionais, elaborou os seus pareceres embasados em volumosos dados estatísticos de diferentes países. Esses pareceres continham uma proposta de mudança radical, via educação popular, visando preparar os cidadãos por meio de uma educação mais progressista, modernizadora e produtora de mudança social.
As proposições de Barbosa para a educação brasileira evocavam a adoção de saberes que atraíssem a curiosidade, a observação e o prazer de conhecer dos alunos, justificando em seu documento a presença de cada um dos assuntos do programa escolar. Nessa composição, no comparativo com outras matérias, o Desenho foi o .aber que ganhou mais destaque por Rui Barbosa (Guimarães, 2017). Para esse ator social, o desenho era o meio pelo qual seria possível gerar transformações fundamentais na economia dos países. Em outras palavras, o desenho era tido como uma das forças mais poderosas para a fecundação do trabalho e engrandecimento da riqueza dos Estados e nações (Barbosa, 1946). Além desse caráter prático, profissional e utilitário, o desenho era também um instrumento fundamental para as práticas pedagógicas das escolas, uma prática necessária ao funcionamento da cultura escolar daquela época.
No Brasil, a demanda por uma escola primária renovada que fosse a cura para os males causados à educação das crianças do período Imperial (1882-1889), gerou, nos diferentes estados brasileiros, uma espécie de onda virulenta em prol do progresso, da modernização e de uma nova ordem social.
De acordo com Shieh (2010), tal movimento de renovação educacional ganhou algumas finalidades: “a de preparação para a cidadania e a de divulgação dos valores republicanos” (Shieh, 2010, p. 22). Ainda nesse campo de discussão, Souza (2000) afirma que a temática educação ganhou destaque também no cenário político, visto que as questões sobre a organização administrativa e didático-pedagógica do ensino primário, seus meios de universalização e finalidade do ensino, implicaram no processo de democratização da cultura e da função política da escola nas sociedades modernas. Na opinião do inspetor escolar José Narcisio de Camargo Couto, “a escola pública primária deve ter um caráter popular, prático e educativo” (São Paulo, 1910-1911, p. 62).
O aspecto educacional, fortemente vinculado à formação do cidadão republicano, fica bastante demarcado nos discursos veiculados em periódicos educacionais. Ao olharmos esse fato pelo viés teórico, concordamos com Valdemarin (2010a) quando afirma que toda concepção pedagógica, ao explicitar finalidades e objetivos para a educação em determinados contextos, visa também orientar práticas, as quais dependem de uma série de mediações e de estratégias para que possam ser integradas ao sistema pedagógico.
Ademais, para Valdemarin (2010a), “a cultura escolar não opera apenas pela incorporação ou pela recusa do novo, mas também pela combinação complexa entre práticas emergentes e residuais, estabelecidas entre inúmeras possibilidades” (Valdemarin, 2010a, p. 12). Assim, buscaremos evidenciar indícios de como o movimento de renovação educacional, pautado pela proposta do método intuitivo, orientou práticas, em função de finalidades propagadas pelos diferentes representantes educacionais, para o ensino do Desenho, culminando assim numa caracterização desse saber.
Toda essa conjunção de fatores compôs o cenário desafiador para a educação do período investigado. No intuito de formar um cidadão moderno que contribuísse para integrar a nova ordem social que despontava, as mudanças previstas pela urbanização e industrialização perpassaram pela escola e jogaram luz nos métodos e nos processos de ensino. Um dos instrumentos modernizadores indispensáveis à essa mudança foram os programas de ensino e toda a legislação escolar. Vistos como norteadores do trabalho pedagógico, tais instrumentos normatizam ou tentam sancionar aquilo que de fato deve ser ensinado às crianças em idade escolar. Esse processo, longe de ser neutro, é concebido como fruto de percepções sociais, as quais buscam “legitimar um projeto reformador ou justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas” (Chartier, 2002, p. 17).
Segundo Shieh (2010), os programas de ensino representam a formalização/materialização escrita daquilo que foi anteriormente debatido e acordado nos “bastidores” da cultura escolar. Foram eles, portanto, que direcionaram nossas análises.
Outra ressalva importante a ser feita aqui é em relação às organizações educacionais, isto é, aos diferentes tipos de escolas primárias que surgiram no contexto de nascimento da República no estado de São Paulo. Shieh (2010) apresenta em seu trabalho algumas importantes escolas deste período, a saber: escolas-modelo, grupos escolares, escolas isoladas, escolas-modelo isoladas e escolas reunidas. Para ela, a existência dessas diferentes escolas resultou na elaboração de diferentes programas de ensino, significando, assim, que as crianças que frequentavam aqueles bancos escolares não possuíam acesso igualitário aos mesmos saberes (Shieh, 2010). Para os interesses deste texto, priorizamos a constituição dos grupos escolares e a sistematização do ensino de Desenho nesse modelo de escola.
2. CARACTERIZAÇÃO DE UM DESENHO PRIMÁRIO INTUITIVO A PARTIR DOS PROGRAMAS DE ENSINO (SÃO PAULO, 1894-1921)
Surgidos no corpo das leis de 1893, mas somente regulamentados e instalados no Estado a partir de 1894 (Vidal, 2006), os grupos escolares foram aos poucos sendo espalhados por outros estados da Federação, firmando-se como parâmetros para a reorganização das escolas públicas primárias republicanas. Para o inspetor escolar Aristides de Macedo, “Si precisamos de um apparelho escolar cujas peças se combinem num todo harmonico e graduado, certo o grupo escolar, instituido como se acha em S. Paulo, é uma das peças que mais favorecem a obra da educação nessa organisação pedagogica que aspiramos” (São Paulo, 1910-1911, p. 102).
Após a difusão desse modelo de escola, cuja organização didático-pedagógica estava baseada na racionalidade científica e na divisão do trabalho docente (Shieh, 2010), entra em vigor o Decreto n. 248, de 26 de julho de 1894, que aprovava o regimento interno das escolas públicas do Estado, incluindo aí os grupos escolares. É a partir desse documento que teceremos nossas análises, haja vista que o ensino de Desenho foi um dos saberes matemáticos indicados para essas escolas.
Para Baduy e Ribeiro (2020), os grupos escolares eram considerados o tipo de escola que mais poderia suprir as demandas da instrução da população, anunciada como prioridade do novo sistema político. Isso porque, segundo elas, a constituição dessa escola graduada se baseava num modelo com programa de ensino completo e utilização de métodos modernos, organizado em séries e alunos divididos por faixa etária e nível de conhecimento.
À medida que os grupos escolares iam se consolidando como organização didático-pedagógica e administrativa, os programas de ensino iam também adquirindo importância simbólica como fundamento legal de construção de uma sociedade republicana moderna, científica e letrada. Amparado por normas públicas, os programas de ensino, em geral, são impositivos (Duarte, 2015) e apresentam uma seleção dos saberes que devem ser ensinados, num claro e evidente movimento de hierarquização (Forquin, 1992).
Diante disso, o primeiro programa de ensino paulista, datado de 1894, foi elaborado no contexto de grandes aspirações para a educação do povo, de uma recém-organizada República, preocupada com a oferta orgânica da instrução pública brasileira. A análise das proposições para o ensino do Desenho, no ensino primário paulista, não pode prescindir de uma demarcação do que se propunha outrora.
Segundo Shieh (2010) e Guimarães (2017), o ensino do Desenho no contexto paulista esteve previsto desde a Lei n. 81, de 06 de abril de 1887, a qual organizou a Instrução Primária paulista em três graus “apropriados á edade e desenvolvimento intellectual dos alumnos” (São Paulo, 1887). Na ocasião, o desenho assumia a forma de um Desenho linear de mão livre e Caligrafia, que juntamente com Ensino prático do sistema legal de pesos e medidas e do Exercício de redação de cartas, contas e faturas comerciais, “deixa entrever a intenção de se transmitir às crianças saberes utilitários, que possibilitassem o desempenho de atividades urbanas, como aquelas ligadas à indústria e ao comércio, em crescente expansão naquele momento, [...]” (Shieh, 2010, p. 82). Era, portanto, um indício de uma finalidade de ensino de caráter utilitário, associado às práticas urbanas da época, a saber, o comércio e a indústria.
Para Oliveira e Pinheiro (2022), houve no período em destaque, uma mudança significativa de entendimento quanto à finalidade da escola primária paulista, a qual estava pautada em preparar a criança para a compreensão de estudos mais avançados, de caráter propedêutico. Cinco anos mais tarde, com a Lei n. 88, de 08 de setembro de 1892, observa-se uma alteração das proposições do ensino de Desenho com a supressão da alcunha “linear”, permanecendo apenas “a mão livre”.
Embora tal digressão tenha sido necessária, permitindo situar o ensino de Desenho em artigos de leis e decretos (Shieh, 2010), fato é que, o Decreto n. 248, de 26 de julho de 1894, inovou ao trazer, em anexo, o programa de ensino paulista de 1894, o qual esteve dividido em 4 anos, cada um contendo duas séries. Considerado como o primeiro programa paulista, para as escolas preliminares[5] (ensino primário ofertado para crianças entre 7 e 12 anos de idade), esse documento inovou na forma de organizar o currículo, com uma progressão que considerava a organização seriada dos grupos escolares para a distribuição dos conteúdos nas matérias (Shieh, 2010; Guimarães, 2017).
O referido programa foi assinado por três expoentes da educação brasileira no período, os quais foram, antes de tudo, alunos da Escola Normal de São Paulo, participaram ativamente da administração de importantes instituições escolares, constituíram o corpo docente de escolas de formação de professores e integraram equipes editoriais de periódicos educacionais. Foram eles: Oscar Thompson, Benedito Maria Tolosa e Antonio Rodrigues Alves Pereira (Guimarães, 2017).
Nesse ponto, destaca-se o papel de Tolosa, por sua dedicação aos estudos sobre o ensino do Desenho publicados na revista A Eschola Publica entre os anos de 1893 e 1897. Esse corpo de experts especializado na administração escolar e na construção de novos saberes sobre e para o sistema escolar daquele estado, proporcionou aos professores primários orientações pedagógicas para a melhoria e adaptação de propostas didáticas para o ensino das diferentes matérias que compunham o curso preliminar, configurando assim seu papel formativo e educativo.
Em específico, sobre o ensino de Desenho nesse programa, observa-se que o mesmo é estruturado dentro de uma perspectiva intuitiva sintética, que toma como ponto de partida a ideia geométrica de ponto, as partes ou frações a partir de uma unidade, posição relativa das retas, ângulos, construção de triângulos e quadrados, círculos, figuras geométricas planas etc.
Pelo detalhamento do programa, é possível inferir que para o aprendizado desses conteúdos, era indicada a realização de uma espécie de “revisão” que previa a construção de desenho de figuras e objetos que ilustrassem as noções aprendidas anteriormente (São Paulo, 1894). Além disso, apesar da estreita relação mantida entre os conteúdos da matéria Desenho e da matéria Geometria nesse programa, é na matéria Desenho onde são propostos os diferentes métodos de construção de figuras planas, seja pelos lados, pelos diâmetros ou pelas diagonais. No entanto, não há nas normativas do programa indicações de quais instrumentos seriam utilizados na realização dessas construções (Leme da Silva, 2022).
Como a organização do programa de Desenho estava no contexto de publicação do Regimento interno das escolas primárias que preconizava que “[...] as lições sobre as matérias [...] deveriam ser mais empíricas e concretas do que teóricas e abstratas” (São Paulo, 1894), o caminho escolhido para o ensino dessa matéria no curso primário paulista partia daquilo que era considerado mais simples para algo mais complexo, de modo intuitivo, pela observação e uso dos demais sentidos. A oferta de um caráter manipulável, visual e tátil aos conceitos geométricos por meio do ensino de Desenho, pode ser percebida nesta passagem contida nas Primeiras Lições de Desenho de autoria de Benedito Tolosa:
Ensinámos as crianças a conhecerem a
linha recta, a nomeal-a, a traçal-a. Mostrámo-lhes as
posições, distinguindo-as ao mesmo tempo e dando as suas principaes applicações. Nestes rudimentos buscámos concretisar o mais possivel o
nosso trabalho, afim de que as idéas dadas não fossem
inteiramente divorciadas da natureza. Fizemos a linha recta
na lousa, nomeàmol-a, traçamol-a.
Fomos mais longe: illustramol-a nos moveis, nas
paredes, nos quadros, fizemol-a vista na natureza. E
a criança associando essa idéa ao mundo exterior,
vendo-a representada por toda a parte por onde andava a brincar, achou
satisfação no que aprendeu, teve o primeiro vislumbre de observação consciente
(Tolosa, 1894a).
Desse extrato, nota-se que antes mesmo de o programa de 1894 ser validado pelo Decreto n. 248, já existiam orientações metodológicas dirigidas aos professores que ministravam esse ensino. Tais sugestões se apresentavam como aquilo que de mais moderno era exigido para o ensino desta matéria no curso primário, possibilitando assim aos professores “muitos motivos para bem exercer a sua missão, pela influência moral que a disciplina exerce no espírito de seus discípulos” (Tolosa, 1893, p. 2).
A recorrência aos elementos ilustrativos presentes na natureza dava o tom para que o ensino se pautasse pelas situações concretas, de visualização e manipulação de objetos concretos, reais, presentes no entorno da criança. Ou seja, para bem aprender e/ou ensinar desenho, um dos requisitos básicos era relacionar aquilo que estava sendo estudado/ensinado com elementos concretos da natureza. Como também está posto em Trindade (2018), o desenho passa então a se configurar como um dos instrumentos fundamentais para o ensino de Geometria, auxiliando-a na construção de desenhos de figuras geométricas e na elaboração de uma medida intuitiva, a partir da exploração do senso de medida e avaliação das proporções. Estava aí posto um desenho a mão livre intuitivo, objetivado pelos princípios do método intuitivo.
Cabe salientar que do cotejamento do programa de ensino com as lições de Desenho, preconizadas na revista A Eschola, foi possível observar que antes de serem publicadas no Decreto n. 248, partes do programa de ensino de Desenho de 1894 já estavam esboçadas fielmente nos artigos desta revista. Guimarães (2017) conclui, a partir disso, que as lições de desenho presentes na referida revista tinham como objetivo servir como modelos de práticas reais para o ensino desse saber. Para Oliveira (2017), o texto de Tolosa funcionava como um nítido exemplo de dispositivo de enunciação de práticas, via imprensa pedagógica.
Além do ensino de desenho a mão livre, outros tipos de saberes a ensinar também se fizeram presentes no programa paulista de 1894. Destaque especial para o desenho decorativo, desenho de bordado ou ornamento, evidenciados por meio do estudo acerca do princípio de repetição/repartição horizontal, conteúdo presente na 2ª série do 1º ano. Segundo Tolosa (1894b, p. 66), a repetição horizontal consiste na repetição regular de uma forma ou grupo de formas, que reunidos formavam ornamentos concêntricos e regulares.
Outro fato importante é que ao buscarmos entender porque o ensino de Desenho mantinha forte relação com a Geometria, foi observado que a educação paulista nutria-se do que era apregoado na educação estadunidense para organizar os seus discursos e práticas nas reformas de ensino (Valente, 2011). Como expressado anteriormente, para a escrita das orientações relativas ao ensino do saber Desenho, ao se basear em pressupostos empiristas para a obtenção do conhecimento, os responsáveis pela elaboração do programa de 1894, em especial Benedito Tolosa, se apropriam das ideias defendidas pelo norte-americano Calkins. Conforme Guimarães (2017) menciona em seu trabalho, a sequência de dez passos que é apresentada em Calkins (Calkins, 1950) é também observada, quase que de forma idêntica, na proposta de ensino de Desenho do programa paulista de 1894. Tais lições cumpriam a função de “habituar a vista à exatidão no comparar, e adestrar a mão em representar os objetos” (Calkins, 1950, p. 359-360).
Os saberes para ensinar Desenho podem se depreender a partir de propostas de organização do ensino, observadas tanto no Programa, como em publicações de periódicos, que propunha uma progressão na resolução dos exercícios. Tal progressão compreende um ensino do sintético, para o analítico, no qual a aprendizagem de pontos e retas precede a aprendizagem das figuras e sólidos geométricos. Os pontos e as retas são considerados simples, enquanto as figuras bi ou tridimensionais seriam considerados o nível complexo desse ensino. O caráter intuitivo é entendido pela busca da associação desses saberes ao entorno do aluno: a reta, o ponto etc.
O próximo programa a regulamentar o ensino de Desenho nos grupos escolares paulistas foi normatizado pelo Decreto n. 1281, de 1905 (São Paulo, 1905). É este o Decreto que aprova e manda observar o programa de ensino para as escolas modelo e para os grupos escolares paulistas. Segundo Souza (2009), a sua elaboração e, consequente, publicação, foi pautada pela tentativa de rompimento com o caráter ambicioso do programa anterior e das queixas constantes dos professores de que não havia preparo adequado para o ensino do Desenho e de outras matérias do curso primário.
A busca por uma formalização de conteúdos adequados à nova realidade, propiciou a construção de um programa de conteúdos mais condensados. No entanto, essa racionalização não ficou ausente de críticas. No periódico Revista de Ensino, de abril de 1905, ano IV, n. 1, na manchete intitulada O programa, é nítido o desconforto por parte de seus redatores com a escrita do novo programa para os grupos escolares. De acordo com o que está posto neste documento, apesar de louvável a boa vontade do então secretário do interior em reformar o caos de leis, regulamentos e programas de ensino, o novo programa, apesar de mais simplificado que os anteriores, apresentava lacunas, deficiências e uma má distribuição das matérias, “sem embargo da indiscutivel competencia da comissão que o organisou” (Revista de Ensino, abr. 1905, n. 1, ano IV, p. 630). E completa: “É que o defeito é da doutrina pedagogica que o governo tem procurado praticar” (Revista de Ensino, abr. 1905, n. 1, ano IV, p. 630).
Discussões à parte, embora sua organização fosse menos detalhada, mais racional, estabelecia-se um programa que visava atender às novas finalidades do ensino primário da época. Uma dessas finalidades era proporcionar uma formação integral da criança, mediante o ensino de virtudes morais e de valores cívico-patrióticos necessários à formação e a identidade de nacionalidade republicana (Souza, 2004).
Pelo programa de 1905 fica evidente o rompimento do ensino de Desenho com a Geometria (Leme da Silva, 2014). O foco no ensino de Desenho não é mais a representação/construção de elementos/figuras geométricas. As mudanças nas concepções de ensino, oriundas da pedagogia moderna, impuseram ao ensino de Desenho a adoção de um método de ensino diferente do anterior. Ao invés de um ensino mais atrelado à geometria, com vistas a desenvolver habilidade manual e visual, o Desenho, no programa de 1905, se afirma pela defesa do ensino do natural, livre de regras e definições e executado a partir de objetos simples e fáceis, presentes na natureza. Na apreciação do inspetor escolar José Carneiro da Silva, a natureza deveria ser essencialmente o “grande livro, para cujo estudo o professor deverá dirigir a attenção do aluno” (São Paulo, 1910-1911, p. 59), pois, segundo ele,
Todo ensino deve ser natural, na sua
mais lata comprehensão. Com effeito,
a parte essencial da instrucção ministrada na escola
ha de visar sempre, ou o estudo da natureza nas manifestações da vida organica e dos seres inorganicos,
ou de assumptos de alcance utilitario que deverão
servir aos interesses dos alumnos nas suas futuras
relações sociaes (São Paulo, 1910-1911, p. 59).
Em outras palavras, o referido inspetor defendia a utilidade dos conhecimentos ensinados no curso primário, algo que fosse do interesse do aluno, que fosse prático e que fizesse sentido para a vida do aprendiz. A escola pública primária deveria guiar-se por um ensino prático, popular e educativo, em detrimento de um ensino instrutivo e mecânico. Para o inspetor escolar Julio Pinto Marcondes Pestana, fazia-se necessário que a escola correspondesse “aos fins da educação, isto é, que ahi se cuide do desenvolvimento harmonico das faculdades” (São Paulo, 1910-1911, p. 66).
É dentro dessa concepção de escola primária e de defesa de um desenvolvimento gradual e harmônico das faculdades intelectivas das crianças, que o Desenho se apresenta como um dos saberes capazes de estimular nelas o desenvolvimento de suas faculdades mentais, da observação, da individualidade, da curiosidade e do sentido estético. Para o inspetor de ensino Ramon Roca Dordal, a criança, ao seu modo, consegue, por intermédio da observação, traduzir plenamente um objeto a ser desenhado. E arrematava que até mesmo a criança que ainda não sabe escrever, já procura, pelo desenho, traduzir as suas próprias impressões (São Paulo, 1913). O desenho se torna para ela, “uma nova fórma de linguagem escripta” (São Paulo, 1913, p. CV). Portanto, o simples para a criança não é mais a construção de um ponto ou de uma linha reta, puramente baseada em constructos geométricos, mas sim um desenho espontâneo, livre, informal, que é mais uma expressão natural e emocional daquilo que ela consegue realizar, inspiradas em seus gostos artísticos e estéticos. Diante disso,
Parece-nos explicar o insucesso o methodo de ensino que obriga as crianças á cópia de
desenhos de figuras geométricas, para ellas
inteiramente inexpressivas, que lhes desagradava, que não lhes despertava o
menor interesse, ao envez de, observando a sua inclinação,
orientá-las, afim de que, reproduzindo de memória ou copiando objectos que lhes agradasse, fossem ellas proprias o melhor factor de
educação de suas faculdades de observação, de memória, de testemunho, de
comparação (São Paulo, 1913, p. CVI).
Percebe-se, portanto, que os saberes a e para ensinar Desenho estavam em constante processo de transformação, haja vista um novo entendimento de como educar as crianças nesta virada de século. Em outras palavras, esses saberes foram se alterando em função dos princípios de modernidade pedagógica e das alterações no entendimento de como a criança se desenvolve, devendo essa criança estar em constante sintonia com o mundo que a cerca. Para Oliveira e Pinheiro (2022, p. 54), “Com isso, o Desenho ao natural ganhava um novo status, uma nova definição e um novo lugar no programa de ensino”.
Ao separar-se da matéria Geometria, no programa de 1905, o ensino de Desenho amplia a sua finalidade. Amparado pelo princípio do desenvolvimento natural da criança, a finalidade de adestrar a mão e olho continua, embora acrescentada do desenvolvimento “regular da imaginação infantil” (São Paulo, 1911-1912, p. 26) e de uma memória motora, visual e auditiva, capaz de causar impressões vivas, mais claras, mais nítidas e, consequentemente, uma reprodução de objetos mais fiel e mais completa a respeito daquilo que foi observado (São Paulo, 1913). Isso porque, para Dordal (São Paulo, 1913, p. CVII), “as coisas que interessam as crianças, permanecem mais tempo gravadas em sua memória, e deixam impressões associadas ás condições do meio em que as coisas ou objectos estiverem e forem observados”. Neste sentido, o primeiro saber a ensinar recomendado neste programa é o desenho de memória, utilizando-se do quadro negro ou ardósias, de lápis de cores diversos e de objetos simples como plantas, animais paisagens etc.
A respeito do uso dos lápis de cores, Dordal (São Paulo, 1913, p. CIX) aponta que o desenho colorido é fundamental à educação da vista, pela observação das cores e da proporcionalidade dos objetos, “presta-se a noções de grandezas, fraccionarias, [...], adestra as mãos e, sobretudo, desenvolve a energia e a vontade”. Desenhos decorativos (ou ornamentativos), ditados (executados a partir da leitura de histórias e contos interessantes) e originais também constituem outros tipos de saberes a ensinar deste programa. Todos esses diferentes tipos de desenho representavam o método do desenho do natural. O desenho ao natural era basicamente objeto e ferramenta de ensino, isto é, exercia um duplo estatuto didático-epistemológico, constituindo-se assim ao mesmo tempo como um saber a ensinar e um saber para ensinar.
Partindo do pressuposto que o ensino de Desenho se dava por meio da cópia de objetos e não por meio de estampas ou modelos prontos, a marcha desse ensino era basicamente constituída da seguinte forma: “o professor guia, indica e por fim em largos traços no quadro negro, dá idéa do desenho, mas deverá limpar immediatamente o quadro negro, afim de que os alumnos não vão copiar os trabalhos naturalmente imperfeitos, pela rapidez com que são executados” (São Paulo, 1911-1912, p. 25). Era esse o tipo de desenho capaz de “obedecer á mão e vivamente ao pensamento” (Canto, 1906, p. 768), pondo em jogo as faculdades das crianças e sua atenção para os objetos e seres próximos ao seu entorno.
É possível observar, portanto, um desenho intuitivo ancorado pelo desenho ao natural. Cabe destacar que para os terceiros e quartos anos é recomendada a reprodução de modelos/sólidos geométricos em diversas posições. Nesse caso, os anuários de ensino e as revistas pedagógicas daquele período dão indícios de que as crianças eram levadas a estudar esse conteúdo, por meio da apresentação de objetos que lembravam os formatos dos sólidos. Por exemplo, para estudar a esfera (corpo redondo), eram apresentadas uma laranja e uma maçã como modelos que proporcionariam às crianças uma satisfação em desenhar e por elas seriam reproduzidas (São Paulo, 1913). Para o inspetor escolar Domingos de Paula e Silva,
[...] o ensino deve ser baseado
tanto quanto possível, na intuição sensível; que o ensino deve despertar
constantemente a actividade e constitue
assim uma gymnastica real dos sentidos e das
faculdades, não se desejando apenas que a criança veja, observe, analyse, compare, julgue, mas ainda que entenda e crie; que
a criança deve ser habituada a expressar simples, mas correctamente,
suas proprias observações e reflexões; que é necessario despertar nos alumnos
um interesse novo pelo objecto de que se occupa ou no qual se exercita; que é preciso adeantar-se lentamente, voltar muitas vezes sobre as noções
ensinadas, fazer successivas applicações
e repetições frequentes, mas fazer variar os exercicios
ou apresentar sob fórmas diversas o que a criança apprendeu; finalmente, que o ensino por esta fórma tem a verdadeira importancia
educativa, porque concorre para a formação da intelligencia
e do caracter (São Paulo, 1910-1911, p. 85) .
O programa de 1905 aponta para uma reorganização dos saberes a ensinar, no que diz respeito à compreensão do que era considerado simples e intuitivo para as crianças. As comparações deixam de partir do matemático - com o ponto, a reta, as frações desse saber - para o real; e passam a pretender captar o real, por meio da apresentação de figuras de natureza imóvel: frutas, objetos encontrados no mundo ao redor, para, a partir do desenho desses, encontrar referentes nos conteúdos matemáticos, como os dos sólidos geométricos - para os terceiro e quarto anos.
Essa modificação, estava em consonância com as duras críticas que o método geométrico de M. Guillaume havia sofrido. Professores de Desenho e artistas em geral criticaram o fato de o método ter centralidade na geometria, nas linhas e contornos, em detrimento do estímulo à criatividade da criança, do estímulo à observação das paisagens, dos objetos no entorno (D’Enfert, 2016).
A distribuição dos conteúdos parece obedecer a uma gradação na qual às primeiras séries se propõe o treino da mão e da vista, aprendendo a observar os objetos ao redor, aprimorando os traçados, estimulando a memória, o desenvolvimento do senso de proporcionalidade, mas também estimulando a criação das crianças. Até que chegue à prontidão para a observação de figuras geométricas nas paisagens, objetos e animais que lhes são apresentados pelo professor.
O ensino do Desenho, imbuído dessa intuição sensível, se torna um componente fundamental na escolarização primária do início do século XX. Essa força expressiva do Desenho é oriunda de um movimento de reforma educativa internacional que priorizava o desenho do natural, sem o uso de instrumentos de medida, em detrimento do desenho geométrico. São Paulo expressava, portanto, uma sintonia com a circulação internacional de ideias sobre questões escolares e o ensino do Desenho no Brasil. Tais ideias foram fortemente debatidas em congressos internacionais de Desenho e veiculadas em revistas pedagógicas brasileiras, as quais advogavam como ponto de partida de uma renovação educacional, o ensino de Desenho pelo método do natural.
Os congressos e os periódicos educacionais, além de assumirem um papel estratégico de circulação e convencimento de métodos e teorias, interferem e modificam uma cultura escolar estabelecida ao longo do tempo (Leme da Silva et al., 2016). No caso aqui específico, tais veículos de informação podem ser considerados como elementos imprescindíveis para a disseminação do desenho ao natural como o carro chefe da escola moderna do início do século XX. Segundo D’Enfert (2016, p. 28), após quase uma década de debates, o método geométrico foi oficialmente abandonado em 1909, como resultado de “uma consequência lógica do recurso dos modelos naturais”.
Continuando com o ensino graduado em séries consecutivas, São Paulo tem oficializado, no ano de 1918, o Decreto n. 2944, de 8 de agosto de 1918. Tal decreto colocou à disposição do público um novo programa de ensino de Desenho para os grupos escolares, o qual se manteve muito parecido com o do programa anterior. Para Guimarães (2017), a única ressalva é a presença de mais um tipo de saber a ensinar: o desenho de invenção, o qual consistia na proposta de que os alunos desenhassem a partir de sugestões apresentadas, de conteúdos abordados, mas não deveria imitar, pois perderia o sentido de invenção: “versará sobre a composição com os elementos já apreendidos” (Barbosa, 1946, p. 147). Percebe-se, assim, a continuidade de uma concepção naturalista respaldada na observação e representação de elementos da natureza. Já a reprodução de grupos de sólidos geométricos vai perdendo força, sendo aqui estudado apenas no 4º ano (Guimarães, 2017).
Outra pesquisa que também se debruçou acerca desse saber no curso primário paulista é a tese de doutorado de Trindade (2018). Na avaliação feita deste mesmo programa, a autora afirma haver, por trás da construção de cada desenho, a intenção de desenvolver um senso de proporção/medida intuitiva, a partir do ajuste dos olhos e das mãos. Observa-se, portanto, que tendo em vista as finalidades da escola primária daquela época, a posse de um saber para ensinar Desenho era imprescindível à ativação dos sentidos nas crianças.
Com duração de pouco menos de três anos, o programa de Desenho de 1918 foi substituído pelo programa de 1921, regulamentado pela Lei n. 1750, de 8 de dezembro de 1920, e instituído oficialmente pelo Decreto n. 3356, de 31 de maio de 1921.
O ensino primário, para os grupos escolares paulistas, deveria, desta vez, ser ministrado em apenas dois anos. Essa redução dos anos pela metade, deveu-se à uma reforma encabeçada por Sampaio Dória, então Diretor Geral da Instrução Pública de São Paulo, que objetivou a erradicação do analfabetismo escolar, tido como “a marca da inaptidão dos povos para o progresso” (Carvalho, 2010, p. 96). De acordo com dados levantados do Anuário do Estado de São Paulo, do ano de 1918, verificou-se que 232.621 crianças dos 7 aos 12 anos de idade frequentavam as escolas públicas e particulares do estado de São Paulo.
Em contrapartida, um número ainda maior, 247.543, também em idade escolar, estavam sem escolas. Essa situação “dolorosa” (São Paulo, 1918, p. 19) causou um desconforto gigantesco às autoridades paulistas, que, preocupadas em solucionar o problema, decidiram alfabetizar urgentemente essa massa da população infantil em idade escolar. “Por isto, não ha segurança nem gloria de Governo nenhum que se não erija sobre esta base primaria: alphabetizar o povo” (São Paulo, 1918, p. 58). Assim, Antonio de Sampaio Doria, lente da Escola Normal, redige uma carta ao então Jornal do Comércio, de São Paulo, sugerindo que para a extinção do analfabetismo, sem aumento de despesas, era importante tomar algumas medidas. Uma delas era “simplificar o programma da escola primaria, de modo que, no primeiro periodo, domine o ensinar a ler, escrever e contar, e seja o segundo um aperfeiçoamento do primeiro” (São Paulo, 1918, p. 20).
O desejo de garantir um ensino mínimo às crianças, teve impacto direto no ensino de Desenho. No entanto, mesmo tendo sua redução para apenas dois anos, o desenho continuava a evidenciar um ensino de elementos da natureza, sem a necessidade de utilização de modelos, apenas fazendo uso da mão e da imaginação. Para Guimarães (2017), a natureza era ainda a principal fonte de inspiração para aquelas crianças, um manancial inesgotável de motivos para elas expressarem, por meio de uma reprodução, aquilo que era visto, tocado, sentido, imaginado etc.
É proposto ainda neste programa de Desenho, de 1921, que fossem desenhados “objetos manufaturados” (Trindade, 2018), tais como casas, igrejas e monumentos, que lembrassem as noções de sólidos geométricos. O que para Frizzarini (2014) evidenciava que o Desenho não mais servia de suporte à Geometria, contudo as formas geométricas eram importantes e necessárias ao ato de desenhar.
Embora o projeto de reformar e alfabetizar às crianças tenha sido o caminho adotado pelo Estado para conter a “ignorância crassa do povo” (São Paulo, 1918, p. 59), tal reforma sofreu duras críticas pelo claro contraponto entre o desejo de ter uma escola de alfabetização e a pretensão de modernização educacional baseada numa escola integral e renovada (Souza, 2009). Esse debate fomentou a busca por novas estratégias que alterassem a situação vigente. Uma delas foi a publicação de um novo programa de ensino, destinado aos grupos escolares e às escolas isoladas de São Paulo[6], o qual inaugura um momento de transição entre o método intuitivo e as novas concepções educacionais reservadas ao movimento da Escola Nova que foi cada vez mais conquistando seu espaço na educação primária brasileira ao longo da década de 20 até início da década de 1950. Por tal motivo, a escrita das orientações metodológicas para o ensino desse saber durante o auge deste novo movimento pedagógico ficará para uma futura pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O primeiro programa paulista, de 1894, inova ao regulamentar uma progressão escolar, tanto de organização do corpo discente, classificados por faixas etárias, como pela organização dos conteúdos a ensinar. No ensino do Desenho, a ideia de simples à época, mesmo em uma época na qual se insistia em um ensino intuitivo, empírico, associado à realidade da criança, estava fortemente associado à uma progressão matemática, a realidade era evocada para “ilustrar os conceitos aprendidos” (Guimarães, 2017, p. 120). O simples, na progressão apresentada no programa, poderia ser considerado simples para o ensino? Simples para a criança? A modernidade pedagógica, advinda com a Pedagogia Moderna, buscaria compreender a progressão dos ensinos, buscando como referentes a criança, não mais a matemática em si.
Ainda no contexto de uma divulgação do método intuitivo como parâmetro para o trabalho pedagógico, observa-se uma alteração relevante nas proposições dos programas. O ensino de Desenho se distancia dos saberes geométricos, parecendo se aproximar um pouco mais das reivindicações de uma abordagem sensível, associada ao que era possível de se observar no entorno do aluno, caracterizando um desenho do natural, a mão livre, pretendendo o desenvolvimento motor associado à capacidade de observação e de representação pelas crianças.
A representação deveria dar lugar também à imaginação, à inventividade. A referência aos saberes geométricos não desaparece, mas têm um novo lugar na progressão dos ensinos, eles têm lugar nos terceiros e quartos anos. Modifica-se também a relação entre as formas geométricas e os objetos do entorno, primeiro apresentam-se os objetos, dos quais se depreendem as formas geométricas que melhor os representa. Importa registrar que aqui há uma modificação significativa de proposição de um saber para ensinarDesenho, os saberes geométricos são apresentados a posteriori, após um trabalho de adestramento da mão e da vista por meio do desenho ao natural, da observação, do desenvolvimento do senso de proporcionalidade e do desaconselhamento do uso dos instrumentos de medida convencionais.
A proposta de ensino de um desenho intuitivo se apresenta como um caminho de deslocamento da ordem lógica, intrínseca ao próprio conteúdo, para uma ordem psicológica, respaldada no desenvolvimento das faculdades infantis das crianças. Nisso, o ensino de Desenho foi se desprendendo de uma geometria euclidiana, teórica, abstrata, como no programa de 1894, para um saber a ser ensinado de modo mais utilitário, intuitivo, prático e educacional. Na virada do século XIX para o século XX, o desenho ao natural assume, portanto, características de objeto e ferramenta de ensino, isto é, de um saber a e para ensinar Desenho, desvencilhado de conteúdos expressivamente geométricos.
A década de 1920 inaugura a redução da oferta do saber Desenho. A premência da alfabetização da população restringiu o tempo para o ensino do Desenho, revelando o caráter secundário desse saber em relação à necessidade do ensino do escrever, ler e contar, ainda que aquele saber fosse considerado base para os demais ensinos e para a formação do cidadão republicano. Esses também são tempos de uma proposta educacional, na qual a escola primária intuitiva chegaria a ser julgada como tradicional, a ser ultrapassada, em uma luta de representações, característica do mundo dos homens.
REFERÊNCIAS
Baduy, M., & Ribeiro, B. O. L. (2020). Origens do grupo escolar e a modernização (Educacional) no Brasil. Intercursos, Ituiutaba, 19(1), 5-17. https://revista.uemg.br/index.php/intercursosrevistacientifica/article/view/5232
Barbosa, R. (1946). Reforma do Ensino Primário e várias Instituições Complementares da Instrução Pública. Obras Completas de Rui Barbosa, Vol. X, 1883, tomo II. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde.
Bastos, M. H. C. (2000). Ferdinand Buisson no Brasil – pistas, vestígios e sinais de suas ideias pedagógicas (1870-1900). Revista História da Educação, ASPHE/FaE/UFPel, Pelotas, 4(8), 79-109. https://seer.ufrgs.br/asphe/article/view/30140
Calkins, N. A. (1950). Lições de Coisas. Obras Completas. Vol. XIII, Tomo I. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde.
Canto, P. C. (1906). Desenho. Revista de Ensino, São Paulo, Anno IV, n. 4, janeiro, pp. 767-770. http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/97521
Carvalho, M. M. C. (2000). Modernidade pedagógica e modelos de formação docente. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, 14(1), 111-120.
Castanha, A. P. (2013). Edição crítica da legislação educacional primária do Brasil Imperial: a legislação geral e complementar referente à Corte entre 1827 e 1889. Paraná: UNIOESTE-FB; Navegando Publicações.
Chartier, R. (2002). A história cultural – entre práticas e representações. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertrand Brasil S.A.
Chervel, A. (1990). A história das disciplinas escolares – reflexões sobre um campo de pesquisa. Teoria & Educação, n. 2. Porto Alegre: Pannonica.
D’Enfert, R. (2016). Ensino do Desenho e a cultura gráfica na França nos séculos XIX e XX. Trad. Amanda Freire Rios e Takiko Nascimento. In G. M. C Trinchão (Org.). Desenho, ensino & Pesquisa. Salvador: EDUFBA; UEFS.
Duarte, A. R. S. (2015). Os programas de ensino de Matemática para o curso primário: fontes de pesquisa para a história da educação. In W. R. Valente (Org.). Cadernos de Trabalho – Programas de ensino (v. 10). São Paulo: Editora Livraria da Física.
Faria Filho, L. M., & Vidal, D. G. (2000). Os tempos e os espaços escolares no processo de institucionalização da escola primária no Brasil. Revista Brasileira de Educação, n. 14, mai./jun./ago.
Forquin, J.-C. (1992). Saberes escolares, imperativos didáticos e dinâmicas sociais. Teoria e Educação, Porto Alegre, v. 6, 49-28.
Frizarinni, C. R. B. (2014). Do ensino intuitivo para a escola ativa: os saberes geométricos nos programas do curso primário paulista. (Dissertação em Educação e Saúde). Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/126743
Guimarães, M. D. (2017). Porque ensinar desenho no curso primário? Um estudo sobre as suas finalidades (1829-1950). (Tese em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência). Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/180323
Hofstetter, R. et al. (2013). Pénétrer dans la vérité de l’école pour la juger pièces en main. L’irrésistible institutionnalisation de l’expertise dans le champ pédagogique (XIXe. – XX siècles). In Borgeaud, et al. (Orgs.). La fabrique des savoirs – figures et pratiques d’experts. Genève: Éditions Médicine et Hygiène.
Hofstetter, R., & Schneuwly, B. (2017). Disciplinarization et disciplination consubstantiellement liées. Deus exemples prototypiques sous la loupe: les sciences de l‘education et des didactiques des disciplines. In R. Hofstetter & W. R. Valente. (Org.). Saberes em (trans)formação: tema central da formação de professores (pp. 21-54, 1 ed.). São Paulo: Livraria da Física.
Leme da Silva, M. C. (2014). Desenho e geometria na escola primária: um casamento duradouro que termina com separação litigiosa. História da Educação, v. 18, 61-73.
Leme da Silva, M. C. L. et al. (2016). A circulação nacional e internacional de ideias pedagógicas sobre o Desenho no curso primário: São Paulo, Sergipe, Santa Catarina e Paraná, 1890-1930. In N. B. Pinto & W. R. Valente (Orgs.). Saberes elementares matemáticos em circulação no Brasil: dos documentos oficiais às revistas pedagógicas 1890-1970 (v. 1, 1 ed.). São Paulo: Editora Livraria da Física.
Leme da Silva, M. C. (2022). Geometria escolar nos anos iniciais: uma história de movimentos em parceria com o desenho. Zetetiké, Campinas, SP, v. 30, 1-19 e022004. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/235446
Lussi Borer, V. (2009). Les savoirs: un enjeu crucial de l’institutionnalisation des formations à l’enseignement. In R. Hofstetter & B. Schneuwly (Orgs.). Savoirs en (trans) formation: ao coeur des professions de l’enseignement et de la formation (pp. 41-58). Bruxelles: Raisons éducatives.
Melo, C. S., & Machado, M. C. G. (2009). Notas para a história da educação: considerações acerca do Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879, de autoria de Carlos Leôncio de Carvalho. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n. 34, 294-305.
Oliveira, M. A. (2017). A Aritmética escolar e o método intuitivo: um novo saber para o curso primário (1870-1920). (Tese em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência). Universidade Federal de São Paulo. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/178956
Oliveira, M. A., & Pinheiro, N. V. L. (2022). Uma matemática a ensinar, 1870-1920. In W. R. Valente & L. F. Bertini (Orgs.). A matemática do ensino: por uma história do saber profissional, 1870-1960 (Coleção educação e saúde; v. 1). São Paulo, SP: Pontes Editores, Universidade Federal de São Paulo.
Revista de Ensino (1905). Órgão da Associação Beneficente do professorado público de São Paulo. São Paulo: Typ. Guimarães, n. 1, ano IV, abr. Recuperado de file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/Revista%20de%20Ensino%201905%20Anno%20IV%20nr.%2001%20-%20abril,%20SP..pdf
São Paulo (1887). Lei n. 81 de 06 de abril de 1887. Reforma da Instrução Pública da província de São Paulo. Recuperado de https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1887/lei-8106.04.1887.html#:~:text=Art.,instruc%C3%A7%C3%A3o%20publica%20e%20conselhos%20municipaes.&text=Art.,-2.
São Paulo (1892). Lei n. 88 de 08 de setembro de 1892. Reforma da Instrução Pública do Estado. Recuperado de https://www.al.sp.gov.br/norma/64173
São Paulo (1894). Decreto n. 248, de 26 de julho de 1894. Aprova o regimento interno das escolas públicas. Recuperado de https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/99544
São Paulo (1905). Decreto n. 1281, de 24 de abril de 1905. Aprova e manda observar o programa de ensino para a escola modelo e para os grupos escolares. Recuperado de https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1905/decreto-1281-24.04.1905.html
São Paulo (1910-1911). Anuário do Ensino do Estado de São Paulo. Inspetoria Geral do Ensino. São Paulo: Tip. Augusto Siqueira & C. Recuperado de https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/96651
São Paulo (1911-1912). Anuário do Ensino do Estado de São Paulo. Inspetoria Geral do Ensino. São Paulo: Tip. Augusto Siqueira & C. Recuperado de https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/96653
São Paulo (1913). Anuário do Ensino do Estado de São Paulo. Inspetoria Geral do Ensino. São Paulo: Tip. Augusto Siqueira & C. Recuperado de https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/100250
São Paulo (1918). Anuário do Ensino do Estado de São Paulo. Inspetoria Geral do Ensino. São Paulo: Tip. Augusto Siqueira & C. Recuperado de file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/10011714-1.pdf
São Paulo (1918). Decreto n. 2944, de 08 de agosto de 1918. Aprova o regulamento para a execução da Lei n. 1579, de 19.12.1917, que estabelece diversas disposições sobre a instrução pública do Estado. Recuperado de https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1918/decreto-2944-08.08.1918.html
São Paulo (1921). Decreto n.º 3356, de 31 de maio de 1921. Regulamenta a Lei n. 1750, de 8 de dezembro de 1920, que reforma a instrução pública. Recuperado de https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1921/decreto-3356-31.05.1921.html
Shieh, C. L. (2010). O que ensinar nas diferentes escolas públicas primárias: um estudo sobre os programas de ensino (1877-1929). (Dissertação em História da Educação). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo.
Souza, R. F. (2000). Inovação educacional no século XIX: a construção do currículo da escola primária no Brasil. Cadernos Cedes (UNICAMP), Campinas, v. 51, 33-44.
Souza, R. F. (2004). Lições da Escola Primária: um estudo sobre a cultura escolar paulista ao longo do século XX. In Anais do III Congresso Brasileiro de História da Educação. Curitiba, PR.
Souza, R. F. (2009). Alicerces da Pátria: História da escola primária no estado de São Paulo (1890-1976). Campinas, SP: Mercado de Letras.
Tolosa, B. M. (1893). Primeiras lições de desenho. Revista A Eschola Publica. São Paulo, SP: Typ. Hennies e Winiger, 1(1), jul. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/133603
Tolosa. B. M. (1894a). Revista A Eschola Publica. São Paulo, SP: Typ. Hennies Irmãos, 1(6), jan. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/133608
Tolosa, B. M. (1894b). Revista A Eschola Publica. São Paulo, SP: Typ. Hennies Irmãos, 1(9), abr. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/133612
Trindade, D. A. (2018). As artes de medir: saberes matemáticos no ensino primário de São Paulo, 1890-1950. (Tese em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência). Universidade Federal de São Paulo. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/192879
Valdemarin, V. T. (2010a). História dos métodos e materiais de ensino: a escola nova e seus métodos de uso. São Paulo: Cortez (Biblioteca básica da história da educação brasileira; v. 6).
Valdemarin, V. T. (2010b). A construção do objeto de pesquisa. In M. Silva & V. T. Valdemarin (Orgs.). Pesquisa em Educação: métodos e modos de fazer. São Paulo: Cultura Acadêmica.
Valente, W. R. (2011). A matemática na formação do professor do ensino primário: São Paulo, 1875-1930. São Paulo: Annablume; Fapesp.
Vidal, D. G. (2006). Tecendo história (e recriando memória) da escola primária e da infância no Brasil: os grupos escolares em foco. In D. G. Vidal (Org.). Grupos Escolares: cultura escolar primária e escolarização da infância no Brasil (1893-1971). Campinas: Mercado de Letras.
Notas
[3] Entende-se por saber a ensinar aqueles considerados como objeto do trabalho do
professor, que devem ser “transmitidos” e avaliados. Os saberes para ensinar são relativos aos saberes que os professores
devem ter para ensinar os saberes, objeto do ensino e da aprendizagem dos
alunos (Lussi Borer, 2009).
[4] Entende-se por expert a pessoa que possui uma expertise
em determinado tema. Tal expertise
precisa ser reconhecida e esse reconhecimento a leva a ocupar um lugar de
destaque, em termos de políticas educacionais. Essa ocupação deve ser
resultante de uma convocatória do Estado. Entende-se, por expertise, o conjunto de saberes que a pessoa deve possuir para o
exercício de suas funções. O expert
possui uma expertise, mas também
elabora novos saberes (Hofstetter & Schneuwly, 2017).
[5] De
acordo com Shieh (2010, p. 87), “Em relação aos
grupos escolares, récem criados, como não existia até
então nenhum Regimento dedicado especificamente a eles, foram obrigados a
seguir o programa de ensino das escolas preliminares (Souza, 1997, p. 43)”.
Ligação alternative
https://histemat.com.br/index.php/HISTEMAT/article/view/524 (pdf)