
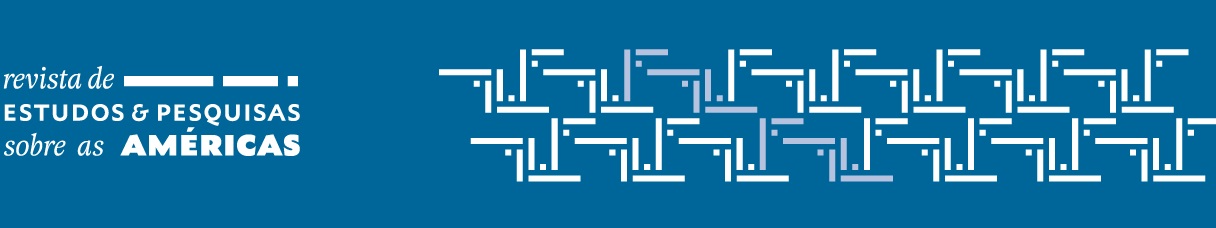
Um Panorama dos Últimos 25 anos no Brasil das ressurgências neoliberais às contrarrevoluções preventivas
Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, vol.. 13, núm. 2, 2019
Universidade de Brasília

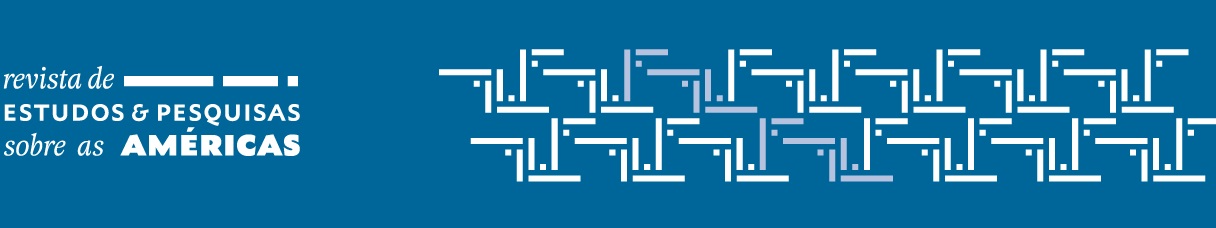
Dossiê: Retomada ou continuidade neoliberal? (Des)Caminhos da democracia e desenvolvimento na América Latina
Recepção: 18 Março 2019
Aprovação: 21 Maio 2019
Resumo: Com o propósito de explicitar a passagem, em um marco analítico ampliado, que vai do entrechoque de projetos históricos ao entrecruzamento discursivo-institucional, faremos uso das categorias gramscianas provindas da tardia modernização italiana no século XIX (Rissorgimento) para depois cotejar acepções contemporâneas – a partir de abordagens de matiz neoinstitucionalista e neomarxista – de continuidades ou de arraigamentos neoliberais. Essa discussão tornou-se apresentável na forma de ensaio histórico em que se busca a concatenação dos fatos colocados sob análise e comparação. O texto procura devassar um alongado ciclo de rupturas e permanências econômicas e políticas no Brasil a partir de 1994, com base em conceitualizações que somente ganham sentido nos contrapontos históricos propostos. Assim como há um jogo entre revolução e restauração no conceito de revolução passiva, não há contraposição entre evento e estrutura no neoliberalismo de “longa duração” ou nos processos sequenciais de reestruturação regulatória pró-mercados (neoliberalização) verificados no Brasil nos últimos 25 anos. Tratamos, enfim, de apresentar essas ressurgências neoliberais como malogros de alternativas almejáveis e palpáveis, alternativas que foram sistematicamente sabotadas e neutralizadas. Ao historicizar o padrão regulatório predominante no capitalismo no Brasil e abordar a forma política que lhe correspondeu nesse período, pretendemos escapar à essencialização do debate teórico-político acerca do neoliberalismo.
Palavras-chave: Modernizações tardias, Neoliberalismo e neoliberalização, Reestruturação regulatória, Revolução passiva e contrarrevolução.
Resumen: Con el propósito de explicitar un rastreo histórico, en un marco analítico ampliado, que comprenda tanto la contienda de proyectos históricos como de distintos lineamientos discursivos y institucionales, haremos uso de algunas categorías gramscianas provenientes de la tardía modernización italiana en el siglo XIX (Rissorgimento) para luego cotejar las acepciones contemporáneas – bajo abordajes de matiz neoinstitucionalista e neomarxista - acerca de continuidades o de arraigamientos neoliberales. Esta discusión se hizo posible y presentable en la forma de ensayo histórico en que se busca la concatenación de los hechos colocados bajo análisis y comparación. El texto en sí busca exponer un alargado ciclo de rupturas y de permanencias económicas y políticas en Brasil, a partir de 1994, con base en conceptos y conceptualizaciones que sólo ganan sentido en los contrapuntos históricos propuestos. Así como hay un juego entre revolución y restauración en el concepto de revolución pasiva, no hay contraposición entre evento y estructura en el neoliberalismo de "larga duración" o en los procesos secuenciales de reestructuración regulatoria orientada para los mercados (procesos de neoliberalización) verificados en Brasil en los últimos 25 años. Tratamos, en fin, de presentar esas resurgencias neoliberales como descomposiciones de alternativas elegibles y palpables, alternativas que fueron sistemáticamente saboteadas y neutralizadas. Al historizar el patrón regulatorio predominante en el capitalismo en Brasil y abordar la forma política que le correspondió sucesivamente en ese período, pretendemos escapar a la esencialización o rotulación del debate teórico-político acerca del neoliberalismo.
Palabras clave: Modernizaciones tardías, Neoliberalismo y neoliberalización, Reestructuración regulatoria, Revolución pasiva y contrarrevolución.
Abstract: In order to explicit a historical pathway, in an extended analytical framework, which includes both the confrontation of historical projects and different discursive and institutional guidelines, we will make use of some gramscian categories coming from the late Italian modernization in the 19th century (Rissorgimento) in order to – through a neo-institutionalist and neo-Marxist approach – verify meanings of neoliberal continuities or embedding. This discussion was made possible and acceptable in the form of a historical essay in which the concatenation of the facts placed under analysis and comparison is sought. The text itself seeks to expose an extended cycle of economic and political ruptures and permanencies in Brazil, starting in 1994, based on concepts and conceptualizations that only gain meaning in the proposed historical counterpoints. Just as there is a game between revolution and restoration in the concept of passive revolution, there is no contrast between event and structure in "long-term" neoliberalism in the context of pathways of market-disciplinary regulatory restructuring (neoliberalization processes) verified in Brazil in the last 25 years. We try, in short, to present those neoliberal resurgences as decompositions of eligible and palpable alternatives, alternatives that were systematically sabotaged and neutralized. By historicizing the predominant regulatory pattern of capitalism in Brazil and addressing the political form that corresponded to it successively in that period, we intend to escape the essentialization or labeling of the theoretical-political debate about neoliberalism.
Keywords: Late modernizations, Neoliberalism and neoliberalization, Regulatory restructuring, Passive revolution and counterrevolution.
Um panorama dos últimos 25 anos no Brasil: das ressurgências neoliberais às contrarrevoluções preventivas
Recebido: 18-03-2019 Aprovado: 21-05-2019
Luis Fernando Novoa Garzon[1]
Introdução
Onde se chega (o que é) e onde se vai (o que será) são enunciados que se impõem em qualquer balanço político que se faça dessas últimas décadas no Brasil, na perspectiva do que se pode almejar enquanto projeto de país e de sociedade. A validade teórica e política do conceito de neoliberalismo precisa, portanto, ser averiguada à luz desse cotejamento.
Se entendermos o neoliberalismo como um repertório renovável de políticas de liberalização, recolocamos o problema em sua concretude. Ainda que associado a um paradigma de alteração regulatória em que se combinam processos de mercantilização, privatização, liberalização comercial e desregulamentação – que depois, por força das assimetrias econômicas e geopolíticas internacionais, se difundiu pelo planeta – não se pode atribuir ao termo neoliberalismo uma natureza homogênea e essencialista.
Com ou sem atalhos, o neoliberalismo prosseguiu em dinâmica frontal e progressiva em virtude justamente do caráter inatingível de seu objeto idealizado: a absoluta mercantilização de qualquer intercâmbio ou interação social. Na prática, nunca se dá por concluída a tarefa da “liberalização”: tanto o conceito como o programa são consoantes com programas contínuos de contrarreformas concentradoras e particularistas. Por isso a ênfase posta na neoliberalização enquanto um “processo aberto e contraditório de reestruturação regulatória” (Peck, 2010, p. 7).
A perenidade ou a longa duração do neoliberalismo no Brasil é fruto de acordos financeiro-monopolistas e de apropriações decorrentes que foram sendo renovadas desde os anos 90. O neoliberalismo, como prática política, em contradição com sua matriz teórica originária, sempre foi um regulacionismo seletivo dissimulado. Ao invés de encontrar rótulos mais ou menos condizentes com as readequações entre os capitais, suas frações e representações, devemos observar de que forma as atuais práticas de liberalização e de posterior re-regulamentação constituem um modo específico de acumulação: concentrador, financeirizado e transnacionalizado.
No período aqui tratado, ficaram expostos os limites da adoção do conceito de revolução passiva para iluminar as voltas e reviravoltas da “modernização tardia” no Brasil. O conceito substantivado como se fora programa, ou “guia positivo de ação”, nos termos de Croce (apud Bianchi, 2006) anuncia formas submersas, porém “viáveis” de viabilização de elementos de atividade (de criação histórica) e de ressocialização da esfera política e econômica. Gramsci procurou calibrar uma ferramenta interpretativa do processo ascensional da burguesia italiana em comparação com processos congêneres, particularmente na França. O que nos parece ser o legado promissor dessa abordagem é a reconstrução analítica da unidade econômica e política da burguesia em momentos de transição de regime. O exercício analítico que propomos aqui é testar os desdobramentos de uma hegemonia restrita e que depois se perfaz ao avesso. Ao longo dos últimos 25 anos, a nova “tese” (a burguesia crescentemente unificada) foi densificada e nutrida com a absorção da “antítese” (a antiga oposição social que se fez Governo entre 2003 e 2016), alcançando, dessa forma, graus inauditos de irrestringibilidade e incontrolabilidade frente a espaços e agentes não monopolísticos.
A dialética das modernizações tardias: governos Lula e Dilma sob o ângulo analítico da revolução passiva
O conceito de revolução passiva, na forma como foi consagrado seu uso, provém de uma elaboração intelectual imersa na primeira grande crise de hegemonia no interior da ordem social do capital, nas primeiras décadas do século XX, especialmente nos capitalismos tardios europeus. Gramsci identificou dois determinantes históricos do Risorgimento[2]: um advindo da história italiana precedente (a estrutura social do passado) e outro da história europeia contemporânea, definida desigual e articuladamente no processo de acumulação e expansão dos capitais e Estados dominantes. É desse contexto que Gramsci extrai o conceito de “revolução passiva”, depurando-o de sua aplicação mecanicista e essencialista por Cuoco, um escritor e ativista político vinculado ao Levante Republicano de Nápoles de 1799. Cuoco (1806) estabelecera uma análise comparativa em que a “ativa” Revolução Francesa figurava irreprodutível nas condições italianas dadas[3].
As revoluções ativas são sempre mais eficazes, porque nelas o povo se enfileira prontamente em torno daquilo que lhe diz respeito diretamente. Em uma revolução passiva, cabe ao agente governamental decifrar o ânimo do povo e explicitar seus anseios, justamente aquilo que o povo por si mesmo não seria capaz de pronunciar (Cuoco, 1806, p. 150)[4].
O retrospecto do que foram as revoluções passivas do século XIX – modernizações retardatárias que se colocaram como formas particulares de ingresso na ordem burguesa, nas quais as antíteses expressadas pela contestação social dos de baixo eram recicladas – serviu para estabelecer o prognóstico de que as burguesias no século XX não conseguiriam derrotar frontalmente o bloco histórico subalternizado em ascensão. O apassivamento geral era uma derrota ou vitória sempre parcial, em que as contrapartes eram forçadas a estabelecer composições e intercambiar lideranças e elementos programáticos, nas quais os aspectos de convencimento estavam sobrepostos aos aspectos da força. Daí a ênfase gramsciana nas noções de contra-hegemonia, de guerra de posição ou do momento político como universal subjetivo.
O conceito de revolução passiva, para Gramsci, era apropriado para concernir “toda época repleta de transformações históricas” (Gramsci, 1999, p. 236). Mas se, em uma época determinada, mudanças calculadas e preventivas predominarem, não decorre daí que toda época deva contar com algum mínimo civilizatório, que por alguma razão evolutiva não poderia ser ultrapassado. O “movimento é tudo” advogava Bernstein nos tempos de quase-revoluções (apud Fetscher, 1982), como se as reformas apresentadas como as novas “vias naturais do progresso” pudessem e devessem ser um fim em si mesmas. O dito movimento seria nulo, sem a aguda polarização social verificada no começo do século XX, não casualmente época de guerras e revoluções. A força disruptiva era de tal monta, que quem lograsse moderá-la, convertia-se imediatamente em fiador de pactos interclassistas. Pregações, proselitismos e auto-elogios, ao encarcerarem cenários em vias necessárias, desarmam potenciais sujeitos históricos.
No entrechoque de forças sociais e de suas representações, quando a “tese” apara a “antítese” para melhor assimilá-la, incorporando pleitos devidamente podados de modo a transfigurar recuos econômicos em avanços políticos que apontam para a universalização do comando de classe, neutraliza-se o sujeito antagônico de dois modos subsequentes: incorporando seu horizonte econômico-corporativo (cooptação) e impedindo a realização de seu potencial ético-político (esterilização). A conservação se faz nutrir da inovação, a revolução-restauração: “‘sem Terror’, como ‘revolução sem revolução’, ou seja, como revolução passiva [...]” (Gramsci, 1999, p. 387).[5] Mais sombrio é o cenário em que a referida “tese” se perfaz nas ruínas da “antítese”, já submetida, amaldiçoada e sem lugar. Fronteiras da imaginação da perversidade são ampliadas para dar conta de uma contrarrevolução que processa sem revolução (em potência) que se lhe oponha. Na conceituação ou na percepção de revoluções passivas, o componente jacobino ou antagonista é a variável-chave. Na contrarrevolução que desidrata e silencia o contraditório, o verdugo que corporifica a dominação é que se autolegitima.
Gramsci procura no cenário do Risorgimento italiano estabelecer uma genealogia da precária hegemonia burguesa na Itália. Sintetizando os termos dessa análise: de um lado estava Cavour, representando os interesses liberal-conservadores da burguesia nascente no norte do país em barganha por autonomia e primazia regional, ainda que em condições de subalternidade internacional; de outro lado estava Mazzini, representando as difusas aspirações liberal-democráticas dos setores médios e da intelectualidade pela unidade nacional italiana:
[...] no embate Cavour-Mazzini, em que Cavour é o expoente da revolução passiva – guerra de posições; e Mazzini o da iniciativa popular – guerra de movimento. Cavour era consciente de sua missão (até certo ponto) ao mesmo tempo em que compreendia a missão de Mazzini, que por sua vez não parece ter sido consciente nem da sua nem da de Cavour. […] houvera tido tal consciência [de Mazzini], […] o equilíbrio resultante da confluência de ambas atuações teria sido diferente. (Gramsci, 1999, p. 187-188)
Retomando o paralelo das eleições de 2002 no Brasil e considerando qual seria o nível de autoconsciência das forças sociais diante da crise de continuidade do padrão neoliberal estabelecido no Brasil, pode-se inferir que Lula e o PT tinham plena consciência da missão que lhe atribuíam e que a si mesmos atribuíam. Na “Carta aos brasileiros”, Lula e o PT ofereceram plenas garantias de que o modelo de gestão pró-ativo para os capitais não seria alterado, havendo posse. Diante da política do fato consumado, as forças populares e de esquerda poderiam ter respondido com o incremento da mobilização popular. O caminho adotado, porém, foi o de avançar por onde houvesse menor resistência sistêmica. A democracia que poderia ser robustecida a partir da ampliação do escopo das lutas sociais foi diluída em função dos centros nodais do poder.
O PT, desse modo, deu chancela aos limites com que governaria o Brasil. Ainda que tangido pelas práticas de desestruturação e desregulamentação comandadas pelo capital financeiro, o PT nunca deixou de protagonizar conscientemente sua própria domesticação. Face às restrições objetivas que as elites, crescentemente financeirizadas, lhe impuseram, nunca faltou a opção da ruptura, a opção da deslegitimação de mais um “pacto por cima”, a opção de apostar em uma alternativa generosa e nativa de poder.
A recusa do PT em participar do Colégio Eleitoral em 1985 e também em não assinar a Constituição de 1988, expressava uma autonomia diretamente vinculada ao seu enraizamento social. A própria fundação do Partido dos Trabalhadores em 1980 representava uma costura de múltiplos motins das classes populares contra uma modernização capitalista associada, comandada pela Ditadura empresarial-militar. A linha de frente era ocupada pela nova classe operária que surgia a partir da nova divisão internacional do trabalho que visava reduzir custos operacionais das multinacionais. A classe se angulava na nação, vilipendiada e agredida tanto quanto, e tomava partido. Era nesse entrecruzar de identidades negadas que se alicerçava o caráter anticapitalista e anti-imperialista do PT e da CUT. As greves de 1978 desafiavam o acordo constitutivo do Regime de exceção instalado em 1964, o acordo entre o capital estrangeiro e a Ditadura para fazer do nosso povo/território suporte para acumulação ampliada. Foi uma geração de organizações sociais de base que nasceu nos anos 70 e 80 como prova e promessa de que não haveria no país superexploração estável. A missão assumida na contramão por Lula e pelo PT foi de avalizar e estabilizar as assimetrias estruturais do capitalismo dependente brasileiro, prevenindo eventuais extravasamentos institucionais.
A Realpolitik dessa transição “pós-neoliberal” (da era FHC à era Lula) era o dimensionamento da relativa estabilização proporcionada pelos governos Lula e Dilma como premissa para a continuidade e o aprofundamento dos processos de reestruturação e flexibilização econômica iniciados nos Governos Collor e Fernando Henrique Cardoso. A “antítese” primeiro torna-se refém voluntária da “tese”, depois os papéis são invertidos. Mas se o antagonista mergulha na ordem e vira ele próprio antagonista do conflito, que sujeitos perduram? É possível recolocar a mesma questão nos termos postos por Werneck Vianna:
(...) é o elemento de extração jacobina quem, no governo, aciona os freios a fim de deter o movimento das forças da revolução, decapita o seu antagonista, comprometendo-se a realizar, sob seu controle, o programa dele, e coopta muitos dos seus quadros, aos quais destina a direção dos rumos sistêmicos em matéria econômico-financeira. Mas será dele o controle da máquina governamental e o comando sobre as transformações moleculares constitutivas à fórmula do conservar – mudando, direcionadas, fundamentalmente, para a área das políticas públicas aplicadas ao social. (Werneck Vianna, 2007, p. 51)
Se o momento antitético (o PT, a CUT e sua área de influência nos movimentos sociais) foi se tornando molecularmente compreensivo até finalmente chegar a ser afirmativo, o que fica em seu lugar senão um imponderável vácuo? Tal buraco, muito mais fundo que parece, foi cavado durante a trajetória ascendente do PT no interior da institucionalidade que referendou a reestruturação liberal do Estado e a recomposição da burguesia situada no Brasil.
Deve-se frisar que dinâmicas de mobilização popular (ou seja, de antítese) não saíram de cena durante os dois governos FHC na resistência aos programas de privatização e liberalização comercial – de que são exemplos emblemáticos o Plebiscito Popular acerca do cancelamento da dívida externa e a Campanha Nacional contra a Área de Livre Comércio das Américas. No segundo semestre de 2002, ficara evidente que não haveria como derrotar a candidatura presidencial de Lula, após a crise cambial e o “apagão” elétrico no fim do segundo mandato de FHC.
As representações mais orgânicas do sistema financeiro trataram então de dar status de política de Estado aos compromissos assumidos pelo governo brasileiro junto aos credores e investidores, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, do regime de câmbio flexível e de metas de inflação. O cenário institucional de enquadramento das dinâmicas de antítese já tinha sido desenhado antes das eleições de 2002. A cobertura dos riscos reais de eventuais desvios de rota impôs ao capital concentrado, e prioritariamente posicionado no Brasil, a necessidade momentânea de complexificar sua faceta política e de contar com (novos) amigos nas horas difíceis de reciclagem do legado neoliberal originário.
Uma das criações políticas mais generosas do impulso democratizante da sociedade brasileira nos anos 1980 voltou-se contra ela mesma, como criatura estranha e ao mesmo tempo parte muito representativa dela, encapsulando-a implacavelmente. Do ponto de vista da pluralidade de vias de modernização e democratização, impasses hegemônicos ou crises de regime são menos cerceadores que um quadro em que vigora uma “hegemonia às avessas”[6], como definiu Francisco de Oliveira (2010) em um contrassenso deliberado, expondo uma estupefação que não era meramente categorial. Como repôs Roberto Schwarz na mesma direção, não há casualidade nem nonsense nessa construção: “Não é indiferente que o capital se financie com dinheiro dos trabalhadores, que os operadores do financiamento sejam sindicalistas, que os banqueiros sejam intelectuais” (Schwarz, 2003, p. 17).
Esta ascensão pacífica e gradual do PT não teria sido possível sem o compartilhamento crescente e consciente de propósitos e métodos com os protagonistas originais do desmonte. FHC e a tecnocracia tucana, depois de cumprida a tarefa demarcatória dos interesses oligopolistas-rentistas no Estado, entre 1994 e 2002, passaram a ser dedicados balizadores e sinalizadores desses mesmos interesses. Na construção da “convergência programática”[7] entre PT e PSDB, enquanto o último pontificava acerca do programa, o primeiro se incumbiu, enquanto foi possível, de arregimentar adesão popular e eleitoral em torno dele. Observando no detalhe essa fórmula de coalizão, para além de circunscrições parlamentares e partidárias, averiguava-se a presença de uma dinâmica neocorporativa na agregação de interesses com dupla natureza: associativa-deliberativa junto ao sistema financeiro e aos conglomerados empresariais; e desmobilizadora-cooptadora junto às camadas populares. Um neocorporativismo de geometria variável e assimétrica que segregava espaços de poder especializados, seguindo a lógica da composição de interesses por cima e pela costura da aceitação social por baixo, o que se manteve sem maiores abalos até junho de 2013 (Novoa Garzon, 2014).
O “transformismo ininterrupto”[8], verificável nesse período, mais que de personagens, era de cenários inteiros. O deslocamento permanente do capitalismo (setorial, organizativo, territorial) foi tornando cada vez menos legíveis as concatenações, as costuras e as referências coletivas e identitárias. As fugas para frente do capitalismo no Brasil – ou seja, a adição de novas fronteiras de acumulação internas e externas e/ou de novos métodos de apropriação de mais-valor como automação, terceirização e multiplicação de ativos financeiros via capital fictício – requisitaram passageiramente escapes laterais minimamente estabilizadores do tecido social, então muito esgarçado, para preencher fissuras e congelar contradições.
Houvesse ainda a possibilidade de tais impasses, o bloco dominante teria sido obrigado a fazer concessões socializantes que diminuíssem a tensão até um novo limite aceitável. As concessões foram no sentido oposto, em prol da concentração e privatização do poder político e econômico, e até o momento não se apresentou nenhum limite aceitável que expresse uma modulação ou um interregno da ofensiva neoliberal. Não se pode reputar à ampliação momentânea de benefícios sociais viabilizada no intervalo de duração da bolha das commodities entre 2003 e 2008, como se se tratasse de reconhecimento de conquistas e de direitos. Ao invés do binômio Revolução-Restauração que deságua em uma reforma delimitada e que fixa um novo patamar de sociabilidade interclassista, deu-se uma Restauração continuada de forma que a inicial prepara a seguinte, em função de capitais e poderes ainda mais concentrados.
O capitalismo globalmente financeirizado não se sente premido por nenhuma pauta transformadora, demarcada por um mínimo que seria a reforma e por um máximo que seria a revolução. Ao invés de reforma fala-se de ajuste; e faz-se a readequação das posições de poder consolidadas no arranjo oligopolista. Ao invés de revolução, fala-se de terrorismo; e faz-se a guerra total contra tudo que se lhe assemelhe. Na enorme caldeira fervente da crise, desintegram-se padrões de seguridade social ou de soberania nacional. Solapado o Estado como esfera distinta da mercantil, passam agora ao desmonte da sociedade através de programas de erradicação das últimas fontes e formas de socialização da riqueza e do poder. O tratamento é de choque e por tempo indeterminado. Por isso contrarreforma e contrarrevolução conjugam forma e conteúdo, escopo focal e sistêmico.
O neoliberalismo realmente existente e suas variações
O neoliberalismo realmente existente (Peck, Brenner e Theodore, 2018) é o que resulta do padrão produtivo e regulatório que sucedeu seja o padrão welfare nos países centrais, seja o padrão nacional-desenvolvimentista em parte considerável dos países periféricos. Não estamos, portanto, nos detendo aqui ao ideário neoliberal expressado por Von Mises, Hayek, e Friedmam – e sim ao conjunto de práticas de liberalização e demais políticas orientadas para expansão e concentração de mercado originadas nos anos 1970 e que foram se tornando hegemônicas quando sistematizadas e receitadas pelas Instituições Financeiras Multilaterais ao longo dos anos 1980 e 1990.
A reivindicação do “livre mercado” ou do “mercado autorregulado”, mais que uma panaceia, serve para alinhar – política e institucionalmente – uma estratégia de “destruição criativa maciça” em um contexto de fragmentação e dessubjetivação da classe trabalhadora e de esboroamento de seus referenciais identitários. Esses preceitos não seriam postuláveis fora de um horizonte de profunda reorganização das estruturas de classe (Harvey, 2007). Nesse imensurável corredor temporal, não há por que esperar um ponto de chegada. O neoliberalismo, visto como um conjunto de reformas orientadas pelo mercado e para o mercado, converte-se em “neoliberalização”, tendência ou processo que se dá, conforme a dedução de Peck (2010), sempre de forma adaptativa e incompleta. Eis o padrão regulatório que se torna esfera política e normativa afinada a um capitalismo crescentemente mundializado, concentrado e centralizado por capitais situados majoritariamente nas esferas mais autônomas da valorização do capital.
Ondas de neoliberalização se formam assim subsequentemente a partir da implosão de cenários regulatórios[9] refeitos depois por contraste e complementação. É sempre no bojo de um palimpsesto regulatório que surge um “padrão prevalente de reestruturação regulatória” (Peck, Theodore e Brenner, 2012). Na definição deste padrão, conjugar-se-iam dois momentos: um de desregulamentação (roll back) e outro de (re)regulamentação (roll out) (Peck, 2010). A experimentação destrutivo-criativa comportaria medidas de anulação, neutralização e reversão de constrangimentos aos mercados, bem como medidas de afronta aos espaços não dissuadidos, isto é, aos territórios e sujeitos coletivos ainda não suficientemente disciplinados pelos mercados. A recorrência à contratualização e à arbitragem de interesses, nos processos de flexibilização de desregulamentação, demonstra o que se constitui no vácuo da discricionariedade estatal.
Abordagens similares chamarão esse processo de “enraizamento do neoliberalismo” (embedding neoliberalism)[10], quando se mantém a coerência dos fundamentos econômicos “neoliberais” que sustentam as posições monopólicas dos conglomerados sem perder de vista a efetividade e a legitimidade quando da aplicação desses fundamentos em formas mutáveis de articulação político-institucional. Para Cerny (2008), apesar de sua instabilidade crônica, esse neoliberalismo capilarizado estabelece condições mais restritivas de reversibilidade, por sua natureza poliforme e adaptável, reformulando o campo de forças e as regras em que se confrontam e se calculam as estratégias políticas e econômicas dos atores, a exemplo do quadro pós-crise de 2008.
Brenner, Peck e Theodore (2010) procuram diferenciar suas análises das análises de caráter transnacionalizante – como a feita por Gill (2008) – que consideram o neoliberalismo uma expressão coerente do “novo constitucionalismo” das empresas transnacionais. Nesse corpo jurídico, estariam encerrados parâmetros já planetarizados de reestruturação regulatória pró-mercado disseminados por instituições como o FMI, Banco Mundial, OMC e blocos regionais como a União Europeia, NAFTA, APEC e outros em formação. Esse modelo pecaria, segundo os autores, por sua lógica unilateral em que se supõe o enquadramento férreo dos Estados nacionais a instituições supranacionais comandadas pelas grandes corporações privadas. Desse modo,
[...] este viés sobredeterminado deixa de levar em conta o papel estratégico dos aparatos estatais nacionais, regionais e locais enquanto incubadores ativos de reformas institucionais neoliberalizantes e de protótipos de políticas e também como espaços em que são iniciados, consolidados e até mesmo multiplicados experimentos regulatórios orientados para o mercado (Brenner, Peck e Theodore, 2010, p. 196).
Constrangidos a liderar a reestruturação da economia nacional, seguindo as tendências do mercado mundial, os Estados tendem a recriar suas hierarquias e suas linhas de decisão para manter sua posição “mediadora entre âmbito mundial e o doméstico” (Cox, 1987, p. 254), o que implica em rearranjos institucionais e classistas que ele passa a abrigar e incorporar. Nesse sentido, a “internacionalização do Estado” não representaria necessariamente uma retirada do Estado, e sim um horizonte de tensionamento e redefinição de suas agências e arenas. Em outros termos, a “política governamental do capital” se caracteriza mais pela outorga de poder legiferante, em alternados experimentos regulatórios, do que por uma lex mercatoria única e autoaplicável. A consolidação do império do capital somente se imporia, perfazendo a recalibragem da reestruturação com a criação de esferas ampliadas e renovadas de jurisdição, desaguando em uma regulação agregada e cumulativa.
Tal complexidade também não é apreensível por meio de abordagens tipológicas do capitalismo ou do neoliberalismo. A dedicação em demonstrar a existência de “variedades do capitalismo” (varieties of capitalism – VOC)[11] redunda, em geral, em um olhar estático sobre aquilo que foi historicamente estruturado. O foco na diversidade das formações acaba por produzir uma taxonomia tendencialmente homogeneizadora das diferenças em si mesmas, deixando, por exemplo, flagrantes verticalidades nas relações entre centro e periferia, seja no interior do país em questão, seja no plano da internacionalização econômica assimétrica. A mesma tônica descritiva comparece em designações como “variedades de neoliberalismo”, em que mecanismos regulatórios pró-mercado seriam ou evacuados ou adaptados e reinterpretados, resultando em neoliberalismos mais puros ou mais compostos.
Insinua-se, nessas distinções, uma resposta no campo analítico ao lema thacheriano, o TINA (there is no alternative) dos anos 1980 agregado à fábula do fim da história como ápice da democracia de mercado (Fukuyama, 1992). Seria preciso ir além das delimitações se o objetivo for erodir proposições neoliberais de unicidade e de culminância e visibilizar variações espaço-temporais do capitalismo que denotem o prosseguimento de contradições e, consequentemente, de alternativas. A opção por utilizar as conceituações com terminações “em processo” – variações em vez variedades e neoliberações em vez de neoliberalismos – não é estilística. É necessário construir categorias que permitam sucessivas aproximações dos movimentos reais das frações do atual bloco dominante, em distinta proporção de associação e subordinação entre capitais internos e estrangeiros, percebendo formas e funções do Estado coetâneas com a dinâmica variante da acumulação capitalista.
O conceito de “capitalismo variegado” (variegated capitalism) (Jessop, 2012; 2013), depois refinado como “neoliberalização variegada” (variegated neoliberalization) em conjunto com outros autores (Brenner, Peck e Theodore, 2010; Peck, 2010) procura referir-se a estruturas acopladas, heterogêneas e contraditórias que proporcionam uma “dominância ecológica” baseada na capacidade do sistema dominante de afetar a performance e a evolução de outros subsistemas e ordens institucionais. A perspectiva da variegação ou do acoplamento variável é apropriada, por exemplo, para decompor a complexidade própria dos ciclos de fracionamento e unificação da burguesia em países periféricos e formas específicas de apassivamento e repressão da classe trabalhadora. Pode também iluminar dominâncias específicas no interior de conglomerados multifuncionais, em que a somatória de setores não exclui hierarquias e determinações que podem se alternar, produzindo efeitos em cascata em cadeias de valor e de poder.
A variegada neoliberalização brasileira
No caso brasileiro, é crucial compreender como um projeto democratizante, oriundo de um conjunto de mobilizações sociais dos anos 1980 foi sendo neutralizado no interior de um projeto de neoliberalização, que pode assim enraizar-se e redefinir a forma societal e a forma política do Estado. Postas em marcha as etapas de desregulamentação e re-regulamentação nos dois mandatos de FHC, foi necessário adotar um “freio de arrumação” social e político a partir de 2002. Com Lula e o PT , teria sido possível confluir para alguma forma de “neoliberalismo inclusivo”? Esta definição sugeriria uma complexa e delicada articulação entre políticas macroeconômicas neoliberais e uma rationale micropolítica fundada em tecnologias de inclusão social (Cerny, 2008; Ruckert, 2006).
Podemos adotar como ponto de partida dessa trajetória neoliberalizante o cenário de uma “confluência perversa”, tal como concebida por Dagnino (2004), entre um embrionário processo de democratização e um persistente processo de neoliberalização que proporcionou o encapsulamento de um pelo outro. As empresas brasileiras e estrangeiras e suas instituições (a sociedade civil burguesa) avançaram céleres para fórmulas de mediação de conflitos e de composição de interesses, (res)semantizando conceitos e plataformas críticas e compondo estratégias de gerenciamento do “risco social”. Assim como o Estado atua no interior do mercado financeiro como parte e contraparte, as empresas estendem sua engenharia ao social, em dupla e recíproca racionalização da dominação. A confluência é certamente perversa, porque a delimitação mútua dos projetos se dá em benefício da reposição da ordem social vigente, que continua sendo uma das mais desiguais e violentas, na escala histórica e mundial.
Não podia ser outro o diferencial da coalizão político-econômica formada nos Governos Lula e Dilma até meados de 2013, apresentado por fundações empresariais internacionais e pelo Banco Mundial como exemplo de combinação de eficácia e efetividade na implementação de políticas de liberalização e de estímulo ao investimento do setor privado. O fato de terem sido criadas, no Brasil, as condições para a construção de uma “esquerda para o capital” (Coelho, 2005) fez com que a “direita” desaparecesse convenientemente, passando ela própria a ser a demarcadora, em cada momento, dos limites do que fosse o “centro”, subsequentemente o que seria o “razoável” e o “necessário”. Apresentado como modelo de silenciamento e invisibilização do conflito social, o Brasil recebia atenção especial do Banco Mundial. Jim Yong Kim, o Presidente do Banco, em pessoa, destacou a “exemplaridade” do país quanto à capacidade demonstrada de conciliar crescimento, estabilidade econômica e estabilidade social. O elogio elucidava expectativas e receios de uma burocracia transnacional que representa um conjunto particular de conglomerados privados e Estados que os sediam, particularmente em um quadro de forte descenso econômico nos países centrais e graves conflitos em suas periferias imediatas.
(…) o que temos argumentado é que o crescimento econômico sem inclusão pode gerar instabilidade no interior das sociedades. Esta é uma das lições que aprendemos com a Primavera Árabe. Portanto, na nossa visão, o compromisso explícito deste Governo [brasileiro] com a inclusão social é decisivo. Este Governo tem feito algo que é especialmente importante, no sentido do que podemos chamar de Santo Graal ou a Santíssima Trindade: associou saúde, educação e bem-estar social através de programas como Bolsa Família e Brasil Sem Miséria. Estes programas estão vinculando entre si três setores-chave, investindo em capital humano que pavimenta futuros níveis de desenvolvimento econômico. Essa é uma tarefa árdua a ser cumprida, e o compromisso deste Governo tem sido extremamente impressionante. Assim precisamos ver sucesso aqui, de modo que possamos continuar a defender que este é o melhor caminho para o desenvolvimento. Acelere o crescimento econômico, certifique-se de que este crescimento é originário do setor privado, mas faça isso de modo inclusivo, que envolva toda a população. Invista em infraestrutura, todo tipo de infraestrutura, mas invista em capital humano também (World Bank, 2013).
Já em entrevista dada alguns meses depois, Jim Yong Kim precisou equiparar o que antes considerava acima da média, argumentando que nenhum país estaria imune a convulsões oriundas da desigualdade e da pobreza extremas. A “lição aprendida” na Primavera Árabe teve que ser repassada após as Jornadas de Junho no Brasil. Na perspectiva unificadora dos interesses capitalistas no plano mundial, o Banco Mundial emite um alerta quanto à insuficiência de determinados níveis de crescimento econômico e de processos inclusivos. Segundo o Presidente do Banco Mundial, apesar dos “meritórios esforços” do Governo brasileiro, “subsistem muitas desigualdades” e, portanto, seria necessário “iniciar uma nova etapa de crescimento econômico.” (Agence France Presse, 2013).
O reconhecimento oficial dos exageros do neoliberalismo originário, como receita única e a validação, na sequência, de um neoliberalismo inclusivo torna tentadoras as interpretações teleológicas, mais ainda se vislumbrarmos que tipo de neoliberalismo ascende a partir de 2016. Quando os referentes inclusivos são incorporados para estabilizar dinâmicas e institucionalidades neoliberais, estas se tornam inquestionáveis. Da despolitização do primeiro neoliberalismo evoluiu-se para a política da despolitização do segundo; o que deixa o caminho aberto para a evacuação da política, na terceira e última versão. O aquilatamento da “dependência de trajetória” (path dependence) nessa neoliberalização dever servir tão somente para precisar as ambiências específicas em que se processaram escolhas, pactos e decisões. Ainda que o ponto de partida formalmente seja a eleição de Collor em 1989 e as operações de desmonte iniciadas em 1990, somente em 1994 haverá fabricação de consenso suficiente em torno da estabilidade econômica como premissa para a geração de empregos e a diminuição da pobreza. É cavalgando um projeto de ordem em meio ao “caos”, isto é, de prolongada crise de hegemonia (Nobre, 2012) ou fluidez institucional (Couto, 1998; Rodrigues, 2001) que passa a vigorar o que depois se convencionou chamar de era FHC (1994-2002).
A manifestação mais aguda desse vazio institucional era a alta inflação que levava à corrosão da moeda nacional como referência de valor. Foram cerca de 15 anos de convivência com uma dinâmica desigual de indexação econômica. Dependendo da posição e da dimensão dos agentes econômicos, diferenciava-se a capacidade de reprodução automática da inflação passada. Os planos de estabilização procuraram em vão interromper essa transmissão intertemporal, traduzindo o fenômeno através do conceito de “inflação inercial”. Contudo, ao tratarem o conflito distributivo como se fora tão somente uma “cultura” ou memória inflacionária, escondiam sua suprema seletividade. Logo as amnésias induzidas por programas de congelamento de preços só poderiam reproduzir resultados parciais e distorcidos que faziam retroalimentar o desajuste dos preços.
O Plano Real trazia embutido em si uma chantagem duradoura- e que persiste.[12] A proposição de uma reindexação total e contínua da economia só poderia ser feita, sem rupturas internas e externas, através do câmbio (“âncora cambial”), o que pressupunha a plena conversibilidade da moeda brasileira nos mercados de capitais e, consequentemente, nas condições econômicas em que o país se encontrava, a subordinação estrita às exigências do sistema financeiro internacional e à lógica liberalizante dos mercados internacionais. Assim, pôs-se de lado o horizonte de “radicalização da democracia” que ecoava da “quase-eleição” de um programa rupturista em 1989- que remeteria a um ajuste de contas interno-externo com revisão soberana da dívida externa e âncora patrimonial (Batista Jr., 1994). O aprofundamento da associação subordinada do capitalismo brasileiro aos capitais estrangeiros foi adotado assim pela “via consensual”.
A estabilização cambial e monetária serviu de “ponto de mutação” institucional e econômico, para colocar de pé a agenda das contrarreformas neoliberais, em contraposição à paralisia decisória e ao ativismo da inflação. O Estado programado para a abertura comercial e o desmonte de cadeias produtivas internas teria natureza muito distinta do padrão anterior. Os cortes de gastos e as privatizações não foram lineares, nem tiveram uma natureza meramente geométrica. Manifestou-se uma dinâmica de conglomeração diferente, mais restrita em termos de setores e de números de participantes do que a das fases anteriormente referidas.
Eventuais extensões das atividades dos grupos decorrem somente das percepções dos empresários dos limites das possibilidades de expansão dos grupos a partir dos core- business existentes ou do aproveitamento da abertura de oportunidades surgidas com as privatizações. (Tavares & Miranda, 1999, p. 338)
Os governos Lula e Dilma, longe de constituírem uma ruptura com essa política orientada para os mercados (market-oriented), expressaram no máximo um refreamento da última onda expansivo-destrutiva dos mercados globais no Brasil – e por tabela na América Latina. O novos termos legitimadores seriam a expansão da área de influencia comercial do país e a “internacionalização de firmas brasileiras”. O significava uma adesão diferenciadora: antecipar-se na direção dos influxos de mercado - ou dos oligopólios – previstos, fundir-se. mesclar-se, e depois, dependendo das homologias, regular as conglomerações. Foram estabelecidas como “metas nacionais” na Política de Desenvolvimento Produtivo (2008-2011). Glauco Arbix, que presidiu, nesse período, o IPEA e depois a FINEP, considerava a PDP uma das principais inovações institucionais surgidas no Brasil, exatamente por exercitar esse “diálogo avançado” sobre as direções estratégicas do investimento (Arbix, 2010).
Agências governamentais e o BNDES teriam promovido tal diálogo a partir de articulações reiterativas com os maiores grupos econômicos em atuação no Brasil. Os espaços daí resultantes proporcionaram condições para um agendamento empresarial das ações governamentais eficazmente conduzido pela CNI e FIESP. Enquanto isso, algumas burocracias ganhavam personalidade jurídica e agiam também como atores econômicos, sempre nos marcos da mediação interoligopolista. Os termos do acordo eram: ativismo estatal sim, mas sem “estatismo” ou “dirigismo”.
Evitamos de fazer uso da concepção de “arranjo institucional” para denominar o substrato da implementação da política de internacionalização de firmas, ou seja, a regra predominante na regra, os marcos institucionais em que agentes privados podem cooperar ou competir (North apud Fiani, 2013). Há uma presunção de homogeneidade entre as partes arranjadas e também de prévia compatibilidade do arranjo com o “ambiente institucional” considerado legal e legítimo. Em um plano de larga duração, iniciativas esvaziadas e precárias de institucionalização apenas facilitam, na sequência, desinstitucionalizações desenfreadas que estão se impondo com a cristalização da crise e com o aumento do poder discricionário dos credores e dos investidores privados.
Como seria possível levar a efeito alguma ruptura com a ordem neoliberal, priorizando desgastes parciais através das suas linhas de menor resistência, permanecendo intocadas as de maior resistência? Através das brechas, o máximo que podia vingar era um reformismo incremental, tolerado na medida em que reforçasse e suplementasse o que era central no modelo. O que se obteve ao final e ao cabo de dois governos autodesignados “pós-neoliberais” foi a consolidação do núcleo – a cidadela do capital concentrado e financeirizado – e ajustes estabilizadores temporários nas bordas.
A temporariedade dessa composição ficou patente logo depois de dilapidada a força social acumulada em décadas de luta. O sinal primeiro desse esgotamento foi emitido partir das manifestações de 2013, em que ficou patente a incapacidade dos setores progressistas e de esquerda de estabelecerem algum nível de interlocução com o novo conjunto de anseios e insatisfações populares que se assomava. Em decorrência disso, a sinalização seguinte, dada nas eleições de 2014, já trazia embutida uma agenda subterrânea que deveria ser seguida a despeito de qual fosse a escolha do eleitorado. Dilma foi eleita e simultaneamente impedida de governar nos marcos negociais antes vigentes. A nomeação, em 2015, de um interventor do mercado financeiro (Joaquim Levy) na condição de Ministro-chefe da área econômica, como primeiro ato de Governo, já era uma demonstração que a ruptura institucional já se dera e que as instituições estariam “em aberto” a partir dali. Com o ruptura institucional de 2016, as intermediações fornecidas pelo PT e sua coalizão foram não só descartadas, mas enxovalhadas, o que quer dizer que as margens para acordos policlassistas, mesmo os mais rebaixados, foram praticamente suprimidas. Para que a burguesia brasileira e suas tutoras estrangeiras voltassem a dormir tranquilas, já não bastava garantir curva ascendente de extração de mais-valor, era preciso apresentar e ritualizar sacrifícios de força social organizada que pudessem eventualmente ameaçá-las.
O esvaziamento das eleições presidenciais, e da própria figura presidencial, ao longo desses anos se deu na razão direta da gestação da unidade burguesa no Brasil. Sabendo que o tamanho e profundidade do saque define o grau de unidade entre facilitadores e sócios da pilhagem, o transitório governo Temer apostou no desdobramento temporal da fórmula. A recompensa incalculável oferecida aos mercados foi a constitucionalização do ajuste fiscal, com o congelamento dos gastos primários por no mínimo duas décadas, o que implicou em um sucateamento programado de serviços públicos essenciais como saneamento, saúde e educação e sua subsequente privatização.
As forças alinhadas à direita no Brasil buscaram pulverizar não apenas uma liderança ou uma legenda, e sim seu estofo histórico, como se dele emanasse a expressão possível da esquerda, ou ainda de qualquer luta social. Não é a máquina eleitoral-administrativa – que o PT ergueu à semelhança dos partidos da ordem – que foi posta no centro do alvo. Essa é apenas a parte visível e estigmatizável, que se mesclou com os conglomerados privados e suas representações de aluguel. Na verdade, foram as práticas classistas e emancipadoras vindo de baixo, com autonomia e pluralidade, que passaram a ter sua existência posta em questão. O que querem expurgar é a representação social da luta dos trabalhadores e a legitimidade das suas conquistas históricas.
O clamor seletivo que se orquestrou por algumas cabeças ocultava uma revanche burguesa tardia contra conquistas populares iniciadas nos anos 80. Essa contrarrevolução sem revolução[13] logo virou operação de rolo compressor sobre conflitualidades e alteridades potenciais. Na lógica da conversão de pilhagem e super-exploração em competitividade nacional, se dissolveu qualquer pretensão de regulação dos processos de monopolização de setores e mercados.
Os saudosismos e a nova revanche do valor
Nesse cenário, novas formas e novos alvos de expropriação e acumulação se somam às formas antes convencionadas. Esse continuado processo de reestruturação significa a multiplicação e o fortalecimento das arenas de mercado existentes, nas quais as composições extraeconômicas ou não mercantis são reabsorvidas ou reconstruídas em moldes mais instrumentalizáveis. A combinação entre reestruturação produtiva e regulatória é entendida aqui como intento de restauração integral do poder de classe, em que as mediações e composições extra-econômicas ou não mercantis são reabsorvidas ou reconstruídas em moldes mais instrumentalizáveis.
Se antes democracia e bem-estar, esses corpos estranhos ao organismo de extração de mais-valor e de acúmulo de capital, em doses mínimas, serviam de vacina contra insurgências epidêmicas, o organismo parece estar, por ora, imunizado. A variável correlação entre o econômico e o extraeconômico, o valor e o antivalor, tem se convertido em uma trajetória linearmente regressiva. Em outros termos, a reprodução social e econômica do capitalismo no Brasil não mais prescindiria, como antes, de um Estado social ou de instituições pactuadas de caráter supraclassista.
Estaríamos vivendo sob a égide da revanche do valor depois de uma “extemporânea” intromissão de espaços de “antivalor” (Oliveira apud Paulani, 2003). Uma experimentação destrutivo-criativa que contou com um amplo leque de medidas de anulação, neutralização e reversão de constrangimentos aos mercados (financial repression), bem como de disciplinamento de zonas de poder relativamente autônomas, isto é, territórios e sujeitos coletivos ainda não suficientemente subsumidos. Em um cenário de “incerteza econômica” superinterpretada pelos grandes oligopólios, lhes convém estender o espectro das “incertezas institucionais”. A renovação da credibilidade dos investidores, em tempos crise aguda, depende de cortes profundos na carne, de bloqueios políticos e institucionais de tudo o que possa ser potencialmente democratizado e socializado no país.
O tecido social já não encontra esteio para se esgarçar, rompe-se sem mais. E não surgem sujeitos coletivos renovados, ou espaços públicos de representação, que reivindiquem sua reconstituição enquanto campo de interações sociais reconhecidas. Em períodos anteriores, as esferas representativas eram contestadas como burguesas, mas havia uma incessante luta para alargá-las por dentro, para tensionar seus limites, para que se incorporasse o que excluíam em seletividade mórbida. O preço de poder colocar os fins em questão era aceitar discutir meios de modular conflitos e legitimar assim pactos mais abrangentes, o que resultava em um “reformismo por derivação”; ou seja a sustentação de programas maximalistas cacifava programas mínimos em uma amplitude tal que não haveria caso a postura inicial fosse um reformismo pragmático.
Com o esvaziamento das instituições de mediação em função da cristalização de agendas privadas consensuadas, a exemplo das contrarreformas postas e repostas em pauta no Brasil, a política - como contestação de comandos unívocos - desapareceu da cena, isto é, do sistema oficial de representação. A proscrição da controvérsia sobre os fins – para além dos meios do que pode e deve levar ao bom funcionamento do mercado – inviabiliza a política democrática, ou qualquer política vinculada a propósitos potencialmente comuns ou majoritários.
O paradoxo apontado por Claus Offe (1984) entre um capitalismo que simultaneamente não pode conviver com o Welfare State, mas que não consegue sobreviver sem ele, já não é postulável nesses tempos de intolerância crescente dos chamados “mercados” a quaisquer mecanismos de regulação que sejam exteriores ou apartados à lógica da rentabilização dos investimentos. Consideremos os termos da contradição analisada em um quadrante da história em que se consolida o padrão Welfare, muito mais propício a ciclos e flutuações:
O melindroso segredo do Welfare State é que, ainda que seu impacto sobre a acumulação capitalista possa se tornar bastante destrutivo (como a análise conservadora tão enfaticamente demonstra), sua abolição teria efeitos claramente disruptivos (fato insistentemente negado pela mesma análise conservadora). A contradição é que o capitalismo nem pode coexistir com o Welfare State nem pode existir sem ele. (Offe, 1984, p. 154)
O paradoxo do “nem nem” exposto somente se manteve enquanto duraram os bons tempos em que se equacionavam excedentes de produtividade e acordos redistributivos, períodos de calmaria que sucediam períodos agudos de crise em que prevaleciam jogos de soma zero, em que se prenunciavam potenciais crises de regime. No entanto, a perenização dessas dinâmicas na forma de crises sistêmicas e estruturais tem implicado em desorganizações não mais reversíveis, ou pelo menos não mais reversíveis nos marcos cíclicos caracterizáveis até os anos 1970. Assim como a democracia, como reinvenção social autônoma, é incompatível com a lógica da acumulação e concentração incessantes, compromissos sociais acerca de uma “taxa média” de exploração ou de um nível mínimo prescritivo de direitos sociais demonstraram ser datados e miseravelmente circunstanciais.
Por isso, a enunciação do “paradoxo” pode ter algum sentido se apresentado com fins didáticos e de negociação com o senso comum. Afora isso, tal perplexidade não passa de uma estratégia teórico-política deliberada de redução da crise estrutural do capitalismo a uma crise
do chamado Welfare State ou do Estado desenvolvimentista, como se, em um momento anterior, fôssemos todos regidos por uma acumulação organizada, nacional e virtuosa.
Algo similar comparece na ideia de “duplo movimento” de Polanyi (2000): um de expansão contínua do mercado (commodification) e outro de autoproteção social (decommodification). Em termos mais abstratos, observar-se-ia uma coreografia entre um movimento particular de descolamento da “economia de mercado” e um movimento geral de sua recolocação em uma “sociedade de mercado”, duplo movimento disposto em forma evolutiva ou em sequência paramétrica de uma dinâmica civilizatória pré-estabelecida. A institucionalização deliberada e “compreensiva” do mercado seria, para Polanyi, a melhor forma para contornar reviravoltas históricas catastróficas. Contudo, foi o temor a essas reviravoltas (ou a experiência parcial delas) que tornou postulável, no sentido de universalizável, a regulação sócio-política dos mercados. Depois de duas ondas de commodification desde o século XIX e duas ondas de “grandes transformações” (adoção das Leis Sociais no fim do século XIX e Estado regulador/ Sistema Bretton Woods após 1929), estaríamos sob a vigência de uma “inesperada” terceira onda de mercadorização - sem que haja nenhuma terceira grande transformação à vista, muito menos engatilhada.
Apostas na previdência da história - tornada racional e racionalizante na visão épica autoedificante da burguesia ascendente - descolam-se das dinâmicas ou dos “movimentos” oriundos da luta de classes. Não há derrocada final por autodestruição nem retificações societais automaticamente acionadas a partir da ultrapassagem de um determinado grau de desequilíbrio. É necessário desmontar a epifania da regulação social dos mercados como estágio inelutável de “aprendizagem social” processada no capitalismo pós-crise de 1929. Os chamados “anos dourados” do capitalismo, entre 1945 e 1973[14], somente o foram muito parcialmente e em um intervalo temporal e espacial restrito.
A “vigilância epistemológica” que cabe aqui é a promoção de um reiterado desapego de projeções “democrático-populares”, de posturas nostálgicas relativas a um fordismo pretensamente homogêneo (Braga, 2003) ou a brechas de radicalização que surgiam nos processos de “modernização nacional”[15] . A percepção de uma infinita criatividade coletiva intrínseca à formação nacional compôs o lastro para essas apostas no futuro. Quebrada, no entanto, a “máquina do tempo” e a possibilidade de “saltos quânticos”, resta a cobrança de apólices morais do que podíamos ter sido. Inócuo lamentar o terreno das opções perdidas, se não demonstrarmos a atualização da forma de dominação e as disputas em torno dessa atualização. Esse acautelamento parece ser uma condição sine qua non para escapar às críticas datadas e para confrontar pseudo-alternativas “pós-neoliberais”[16] que se apresentaram, no período em análise, em denominação híbrida ou composta (“social-liberalismo”, “neodesenvolvimentismo”, “social-desenvolvimentismo”).
Conclusão
É no manejo mágico de uma balança que está guardada toda a matemática dos sábios, num dos pratos a massa tosca, modelável, no outro, a quantidade de tempo a exigir de cada um o requinte do cálculo, o olhar pronto, a intervenção ágil ao mais sutil desnível.
Lavoura Arcaica. Raduan Nassar
O debate sobre a periodização e classificação dessas duas décadas e meia de ajustes neoliberais e neoliberalizantes não carrega relevância maior que sua potencial contribuição para o agendamento de lutas sociais. Perscrutar a atualização multiforme da contrarrevolução burguesa no Brasil depende da superação do olhar melancólico acerca das potencialidades civilizatórias de um capitalismo genuinamente “moderno”. É preciso decifrar sem mais perplexidades a unidade burguesa e pró-burguesa forjada em torno da estratégia de “mais capitalismo” para todos subsumidos ou em vias subsunção. O cálculo a que fazemos referência[17] é a percepção da contingência dos tempos e contratempos da dominação, cálculo que apreende os momentos cruciais do processo geral, para depois concentrar todas as energias sociais disponíveis neles. Momentos que, somente em determinados instantes e conjunturas, “entrariam em relação com a totalidade, com a totalidade do presente e com o problema central da evolução futura, e, portanto, com o próprio futuro.” (Oliveira, 2007; Lukacs 1970, p. 92)
Uma crise perene e sem colapso promove “movimento”[18], mas não com viés redistributivista, sim na direção oposta, considerando que a flexibilidade intrínseca à nova institucionalização dos mercados desregulados é aquela que permite restaurar e depois exponenciar graus e ritmos de acumulação de capital. Seu itinerário é a destruição dos referenciais coletivos de organização e das garantias objetivas e subjetivas dos direitos sociais e políticos da classe trabalhadora no Brasil.
Na locução oficial dos mercados (Fórum de Davos, Banco Mundial e FMI), a esterilização dos espaços de percepção dos embates de classe que ainda poderiam impor constrangimentos à “política econômica necessária” demonstra a plena maturidade institucional do país, ainda que Estado e sociedade estejam se decompondo em um quadro de
guerra civil latente. Para que o legalmente constituído seja tolerado, ou seja, para que não haja rupturas institucionais propriamente ditas, as vozes do ultra-liberalismo exigem demonstrações seguidas de acefalia governamental. Tais demonstrações, muito pródigas no governo Bolsonaro, balizam as condições atuais da governabilidade, ou seja, do “governo único” possível em um país sob intervenção tácita da banca financeira e das corporações transnacionais que nele estabeleceram laços territoriais.
Referências
ALBERT, Michel. Capitalismo versus capitalismo. São Paulo: Ed. Loyola, 1992.
AGENCE FRANCE PRESSE, World Bank's Kim says no country immune from turmoil.
ARBIX, Glauco. Beyond developmentalism and market fundamentalism in Brazil: inclusionary State activism without statism. Workshop on “State development and global governance”. WAGE University of Wisconsin-Madison, march, 12-13, 2010. Dsiponível em: https://media.law.wisc.edu/s/c_360/mq4fw/paper_arbix.pdf. Acesso em 06 de abril de 2018.
BATISTA Jr., Paulo N. Entrevista: Contra a inflação, o ataque frontal - Teoria e Debate nº 23 - dezembro93/janeiro/fevereiro de 1994. Disponível em: . Acesso em: 04 de agosto de 2018.
BIANCHI, Álvaro. Revolução Passiva: o pretérito do futuro. Revista Crítica Marxista, São Paulo, v.23, n.23, 2006. p: 34-57.
BRAGA, Ruy. A nostalgia do fordismo: modernização e crise na teoria da sociedade salarial. São Paulo: Xamã, 2003.
BRENNER, Neil, PECK, Jamie, THEODORE, Nik Variegated neoliberalization: geographies, modalities, pathways. Global Networks vol. 10, 2, 2010, p. 182–222.
CERNY, Philip Embedding Neoliberalism: The Evolution of a Hegemonic Paradigm. The Journal of International Trade and Diplomacy. Vol. 2, n. 1, p.1 – 46, 2008.
COELHO, Eurelino. Uma esquerda para o capital: Crise do marxismo e mudanças nos projetos políticos dos grupos dirigentes do PT (1979-1998). Tese em História, 549 páginas, UFF, Niterói, 2005.
COUTO, Claudio. G. A Longa Constituinte: Reforma do Estado e Fluidez Institucional no Brasil. Dados, vol. 41, n. 1, 1998. Disponível em: . Acesso em 05 de agosto de 2018.
COX, Robert W. Production, power and world order. Social forces in the making of history. New York: Colombia University Press, 1987.
CUOCO, Vicenzo. Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli. Milano: Stampatore Librajo, 1806. Disponível em: . Acesso em 05 de setembro de 2018.
DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando? In: MATO, Daniel (Coord.). Políticas de cidadania y sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, 2004, p. 95-110.
FETSCHER, Iring. Bernstein e o desafio à ortodoxia. In: HOBSBAWM, Eric (org.) História do Marxismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p. 257-298.
FERNANDES, Florestan. Nova República?.Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.
FIANI, Ronaldo. Arranjos institucionais e desenvolvimento: o papel da coordenação em estruturas híbridas. Texto para discussão 1815, IPEA, março de 2013. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/971/1/TD_1815.pdf. Acesso em 13 de maio de 2018.
FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.
GARCIA, Marco Aurélio. Os desafios atuais da democracia e do desenvolvimento. Comentários In: ALTIMIR, Oscar; IGLESIAS, Enrique e MACHINEA, José Luiz (orgs.) “Por uma Revisão dos Paradigmas do Desenvolvimento na América Latina, CEPAL, Santiago de Chile, 2008, p.236-241. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1332/S2008748_pt.pdf. Acesso em 25/04/2019
GILL, Stephen. Power and Resistance in the New World Order. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
GRAMSCI, Antonio. Cuadernos de la Carcel -Tomo V. México-DF: Ed. Era, 1999.
HARVEY, David. Neoliberalismo como destruição criativa. Revista de Gestão Integrada em Saúde e Meio Ambiente, v. 2, nº 4, Senac-São Paulo, p. 1-30, 2007.
HALL, Peter; SOSKICE, David. Varieties of Capitalism. Oxford University Press, 2001.
JESSOP, Bob. The world market, variegated capitalism, and the crisis of European integration. In: Petros Nousios; Henk Overbeek; Andreas Tsolakis (eds.). Globalization and European Integration: Critical Approaches to Regional Order and International Relations. London: Routledge, 2012. p. 91-111.
__________. Variegated Capitalism and the Eurozone Crisis: Modell Deutschland, Neo-Liberalism, and the World Market. National Bank of Poland. Conference 24 April 2013. Disponível em: . Acesso em: 05 de agosto de 2018.
LUKACS, G. Lenin: La coherencia de su pensamento. Grijalbo, México D. F., 1970.
NOBRE, Marcos. Da “formação” às “redes”: filosofia e cultura depois da modernização. Cadernos de Filosofia Alemã, n. 19, 2012, p. 13 – 36.
NOVOA GARZON, L. F. Depois do neoliberalismo. Depois? Correio da Cidadania, São Paulo, 14 jun. 2013. Disponível em: http://www.correiocidadania.com.br/economia/8481-14-06-2013-depois-do-neoliberalismo-depois. Acesso em 12/03/2019.
NOVOA GARZON, Luís Fernando. Da convergência programática à eleição prévia do programa neoliberal. Correio da Cidadania, São Paulo, 23 jul. 2014.
OFFE, Claus. Contradictions of the Welfare State. London: Hutchinson, 1984.
OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista, o ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003.
______________________. Momento Lênin. In: OLVEIRA, Francisco e RIZEK, Cibele Sailiba. A era da indeterminação. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 257-288.
______________. Hegemonia às avessas. In: OLIVEIRA, F. RIZEK, C., BRAGA, R. (Orgs.) Hegemonia às avessas. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 21-27.
PAULANI, Leda Maria. Os Trinta Anos da Crítica à Razão Dualista ou Que Saudades do Subdesenvolvimento. Margem Esquerda, n. 2, p. 198-204, 2003.
PECK, Jamie. Constructions of Neoliberal Reason. Oxford: Oxford University Press, 2010.
PECK, Jamie; BRENNER, Neil; THEODORE, Nik. Actually Existing Neoliberalism
PECK, Jamie; THEODORE, Nik; BRENNER, Neil. Neoliberalism Resurgent? Market Rule after the Great Recession. The South Atlantic Quarterly, v. 111, n. 2, p. 265-288, 2012.
POLANYI, Karl. A Grande Transformação - as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000.
RODRIGUES, Alberto T. Ciclos de mobilização política e mudança institucional no Brasil. Revista de Sociologia Política, Curitiba, 17, 2001, p. 33-43.
RUGIE, John G. International regimes, transactions and change: Embedded liberalism in the postwar economic order. International Organization, v. 36, n. 2, p. 379‑415, 1982.
RUCKERT, Arne. Towards an Inclusive-Neoliberal Regime of Development: From the Washington to the Post-Washington Consensus. Labour, Capital and Society, v. 39, n. 1, 2006, p. 34 – 67.
SADER, Emir. A construção da hegemonia pós-neoliberal. In: SADER, Emir (Org.). Lula e Dilma: 10 anos de governos neo-liberais no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 135-143.
SAWAYA, Rubens. Economia Política da Inflação. Revista de Economia, n. 04, PUC-SP, São Paulo, 2010, p. 179-214.
SCHWARZ, Roberto. Prefácio com perguntas. In: OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista – O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo editorial, 2003, p. 11 – 24.
TAVARES, M. C.; MIRANDA, J. C. Brasil: estratégias da conglomeração. In: FIORI, J. L. Estados e moedas no desenvolvimento das nações. Rio de Janeiro: Vozes 1999, p. 327-349.
VOVELLE, Michel. Breve história da Revolução Francesa. Lisboa: Ed. Presença, 1994.
WERNECK VIANNA, Luiz. O ator e os fatos: a revolução passiva e o americanismo em Gramsci. Dados, v.38, n.2, 1995.
_________________O Estado Novo do PT. Política Democrática, nº 18, p 45-53, 2007. Disponível em: . Acesso em: 05 de agosto de 2018.
WORLD BANK, Media Roundtable with World Bank Group President Jim Yong Kim in Brasilia, Brazil. Transcript, march 2013. Disponível em: . Acesso em: 22 de maio de 2018.
Notas

